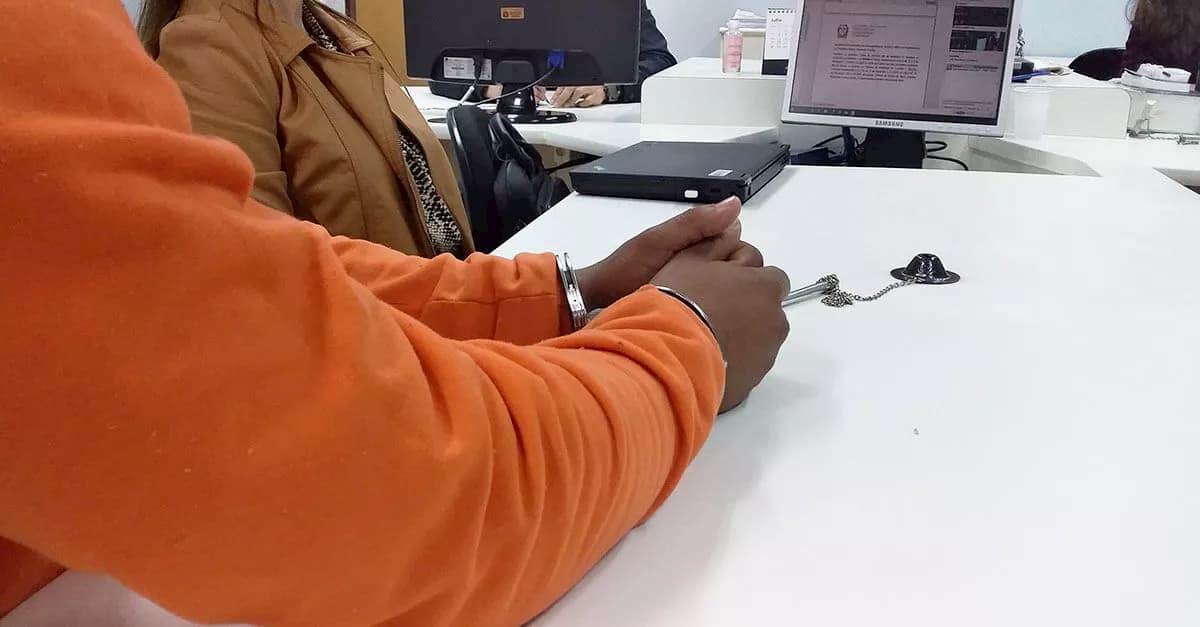Ora, por mais duro que seja dizer-se, e por mais grave que nos pareça fazer uma Constituição e resistir ao seu cumprimento, esta é que é a verdade: está escrita, e pouco se consulta; sob as suas vestes insinua-se o propósito de não se reconhecerem às liberdades e estruturas que estão nela, o que é mais, muito mais, do que conspirar contra ela. O conspirador enfrenta, arrisca-se; o que a fez e a quer matar sem que se perceba a destruição, não a enfrenta, não se arrisca: golpeia-lhe, às escuras, as raízes; poda-lhes os galhos, e, fingindo regá-las, verte veneno nos adubos. Se o direito penal fosse mais realista, seria esse o crime maior.
Pontes de Miranda, “Comentários à Constituição de 1946”.
CAMINHAREMOS NA ARIDEZ de um terreno de paisagem histórica irregular, indecisa, inóspita, cruel e muito mal retratada, mas seguindo os bons roteiros traçados por Orlando Gomes, em Raízes históricas e sociológicas do código Civil Brasileiro[1], por Moacir Adiers, em “Constitucionalização do Direito Civil: um antigo tema novo”,[2] e por R. Limongi França, “Hermenêutica Jurídica”,[3] encontraremos apesar dos pesares, indicações de trilhas interessantes – no sentido em que se diz de uma mulher grávida: “ela esta em estado interessante” – que dizem respeito à história e transformações orgânicas ou mesmo casuísticas do Direito Civil brasileiro, e que servirão de roteiro introdutório para o nosso Curso de História das Idéias do Direito Civil... Neste sentido, a cena é sempre a mesma: menino ou menina? – estacam os juristas como pais curiosos, cheios de expectativas e projetos que atormentarão a vida do filho para sempre, “de maneira que o indizível (no caso a questão do gênero ou a questão da distinção etc.) é precisamente aquilo que a linguagem deve pressupor para poder significar” (Agamben). E assim, dobrei-me, como um obstetra perante a gestante e ao direito a vida da mãe e/ou de seu rebento, diante dos textos dos professores Orlando Gomes e Moacir Adiers, e Limongi França, desdobrando-os, e, fundamentado nas anotações colhidas na leitura, reconstruindo-os, veio à luz o presente texto de aula, que se consolida sendo apenas um pouco mais, bem mais do que uma paráfrases ou muito mais que uma cópia ou plágio, ou melhor, que o uso de algumas de suas idéias... Na verdade, muito mais do que isso: trata-se, aqui, de reflexões heterológicas? Não creio!... Considerando que a forma heterogênea e contraditória em que se realizou a consolidação de um aparato administrativo-burocrático-judiciário e dos Códigos que lhe dão sustentação no Brasil, deu-se sob e/ou sobre uma concepção simultaneamente “autoritária” e “liberal” [diga-se de passagem, um liberalismo “dissociado da idéia democrática” (Barreto)] de Estado e de Justiça, e, sem perder de vista seus dilemas, viro-a pela direita e pela esquerda, ou seja, trato-a com liberdade acadêmica na busca de seus padrões... Neste sentido, devo reconhecer, por ter “usado e abusado” de seus trabalhos, Gomes, Adiers e França, et alli, como co-autores (perdoe-me a pretensão e a desmedida), e, de qualquer forma, os eximir das “inexatidões, falsidades, erros” (de que tanto gosta Foucault) por infelicidade aqui existentes. O título capta isso “Surf Jurídico sobre as raízes históricas, sociológicas e políticas das Idéias do Direito Civil Brasileiro na onda da Constituição Federal”. Nossa tarefa aqui é simples, entender as indicações sumárias sem os blábláblás e os mas-mas de juristas felizes em seus redutos civilista ou processualista, pois que, se não podemos, (e não podemos no caso concreto), dispor de uma ultrasonografia civilista ou processualista, isso não justifica ficar atento a “conversa mole para boi dormir” de muitos que se outorgam a alcunha de constitucionalistas... – Mesmo porque, as evidências de um Direito Civil (ou Penal) se são necessárias, nunca são suficientes, e os princípios constitucionais não servem para consolidá-las se não fazem parte do sistema da vida em que estão imersos o CPC e o CPP, e se não se tornou experiência a razão prática (Kant) ou não se tornou a razão prática a experiência, [justamente, o que torna insuportável a existência cotidiana (Agamben)], por mais que se ponderem no caso concreto, a coisa revela-se na imensidão de suas aporias ou na insustentabilidade de suas lacunas. Coisa que a sociologia, por exemplo, desconhece ou ignora. Coisas que podem nos levar a subverter os textos legais em nome de uma hermenêutica constitucional principiológica zetética furada, e realizar danos irreparáveis ao Direito através de uma fundamentação anárquica dos interesses e do conhecimento da Justiça, em benefício dos transgressores e da própria criminalidade, inclusive darem-se a negação da Lei Civil (ou Penal) ao se confundir, na expressão de Descartes, “ouro com chumbo, e vidro com diamante”. Por esta razão gosto do aforismo colhido em “O preço da Justiça” de Voltaire[4]: “Se a justiça é pintada com uma venda nos olhos, é mister que a razão seja seu guia”. Em outras palavras, nosso tema transversal é a “Teoria Geral do Direito Civil Constitucionalizado”-- Que onda é essa? E o nosso método será o do caleidoscópio, e assim é que surfamos. Portanto, as primeiras linhas imediatamente.
1.
ESTAMOS CANSADOS DE SABER, que o Brasil foi oficialmente “descoberto” pelos Portugueses em abril de 1500, deixado juridicamente sub judice por muito tempo, e que depois, por mais de três séculos vigeu, no Brasil, o corpo legislativo das Orientações Filipinas, publicadas em 1603, elaboradas em cumprimento ao Alvará de 5 de junho de 1595, pelo qual Felipe II de Espanha mandou rever, reformar e codificar toda a legislação portuguesa. Foram seus autores Pedro Barbosa, Paulo Afonso, Damião de Aguiar e Jorge de Cabedo. E, apesar de representar, segundo Cândido Mendes et alli, uma reação contra o direito canônico, constituiu-se, diz o professor Braga da Cruz, uma presença da Idade Média nos tempos modernos, e, para Coelho da Rocha, “sobeja prova de decadência em que iam as letras e a jurisprudência”, dizem, ao conferirem autoridade extrínseca às opiniões de Acúrsio e Bártolo. Talvez! Bom seria que a verdade e as coisas fossem simples assim; o que não implica em considerá-las menos verdadeiras ou mais verdadeiras, mas sim, imediatamente esclarecedoras sob o crivo da “navalha de Occam”! Mas de alguma forma devemos ficar atentos ao fato de que clareza não significa necessariamente verdade, e nem sempre convém, ou, nem sempre é possível para fatos jurídicos complexos. Convém, às vezes, usar com os “Óculos de Kant” para enxergar melhor... Na verdade não eram propriamente apenas as opiniões “decadentes” de Acúrsio e Bártolo, mas, também, entre outras coisas, o fato de que a povoação, iniciada com degredados, náufragos, desertores, caracterizada pelo conflito entre o povo primitivo e o europeu, tinha nos capitães donatários (que acumulava o papel de “juiz” e “carcereiro” de uma população de bandidos) o poder de vida e morte sobre seus “jurisdicionados”, fundamentados, justamente, nas ordens régias e interesses do reino e da Santa Sé, e no conhecimento fundamentado (não digo que justo) de seus ilustres passageiros. Sob tal signo nascem as Ordenações em respostas (respostas residuais) aos legados persistentes e remanescentes do “terrível século XIV”. Qualquer lei interpretada ou aplicada em tal contexto estaria fadada a ser corrompida ou a ser a própria criminalidade. E qualquer julgamento a tornar-se injusto e monológico. O que dava a missão colonizadora e a própria colonização um caráter perverso e rapace e uma intenção criminosa. Como observou imprecisa, mas acertadamente Foucault, “a realidade é belicosa, e não uma relação de sentido”. De fato, mas é, justamente, suas relações de sentido [estabelecidas historicamente nas cruéis lutas diárias pela sobrevivência (individual e coletiva) mesmo que “inconscientemente”] que a torna belicosa, pois, se não estamos falando de sociedades primitivas (dominadas pelo medo e pela ignorância), é “a racionalidade que cria o conceito de inimigo” (Robinson) e o crime premeditado (Camus). Não importa o tempo, nem o lugar... Em outras palavras, como síntese de uma história longa e complexa de lutas por domínios e riquezas, o Reino de Portugal trazia em suas naus às suas leis brutais como cabeça e suas instituições colonizadoras como corpo de um empreendimento que trazia como espírito a cruz, o ópio da palavra de “Deus” (em sua versão judaico-cristã) e a espada, logo, a violência, a repressão, a alienação, a guerra, a matança e a salvação para satisfazer a cobiça despertada pela carta de Pero Vaz de Caminha ao falar sobre a imensidão e as riquezas da terra. Mas não só, e é o que nos interessa, os inacianos também estavam a bordo, e ai a coisa, culturalmente, começa por feder, e até hoje, culturalmente, o Brasil fede... Mas, justiça seja feita, observa Leandro Narloch, em seu “Guia politicamente incorreto da História do Brasil”: “Uma das conseqüências da chegada dos jesuítas a São Paulo”, por exemplo, “foi dar um alívio ‘a mata atlântica – até então, os índios botavam fogo na floresta não só para abrir espaço de cultivo, mas para cercar os animais com o fogo e depois abatê-los”.[5] Neste sentido, graças a Deus, o jesuíta veio a Terra de Santa Cruz. E leciona o professor José Antônio Tobias que o “Regimento e Tomé de Souza”, de 17 de dezembro de 1548, já determinava El Rei D. João III: “A principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que à gente dela se convertesse à nossa santa fé católica”[6]. Eis, portanto, o que guiou e fortificou os inacianos. E assim conclui Tobias: “a fé cristã-católica foi realmente uma idéia central na História do Brasil”. Afirmativa que revela sua singularidade, como assinala Tobias, na primeira missa, no Ilhéu, celebrada por Frei Henrique Soares; na “cruz enfincada como sinal de posse”; no “culto a Nossa Senhora”; nas “igrejinhas pertencentes à fé católica e construída no início de qualquer engenho, povoado, vila e cidade”; no “Governo, unido oficialmente à Igreja católica”; no “período de quase três séculos da História de Educação Brasileira, chamado de “Educação Cristã”; “pelas leis, pelo recinto das escolas e dos fóruns, assim como pelo interior dos lares brasileiros e dos lugares mais vistosos das cidades, amiúde enfeitados pela cruz, quando não às vezes pelo próprio rosário”; “pela aceitação total da implantação da Contra-Reforma no Brasil” etc., etc. Com efeito, a vida do espírito na nova terra seria condenada a estudos teológicos sob o rótulo de “filosofia”, estabelecendo na nascente sociedade, segundo os escritos pombalinos, “um geral de idiotismo, como ainda hoje é manifesto”, constituindo-se, assim, um fenômeno de “longa duração” (Blaudel) que os atuais “tempos líquidos” (Baumam) consolidam com o pool evangélico para intensificar o processo de idiotização da população. Sem dúvida! Leciona Luís Washington Vita[7], por um lado “as manifestações culturais de nosso primeiro século são um quase nada, pois o que importava era a posse e a instalação, mas uma instalação quase provisória, porque todos queriam voltar”. Ou seja, “a Metrópole, com o deslumbramento e o fausto das suas cidades civilizadas, ocupava constantemente o pensamento dos colonos mais que transterrados, exilados”. Por outro lado, o desinteresse metropolitano pela feitoria de ultramar – “com a qual a pátria tão pouco se importa”, lamentava Men de Sá – estava claro na providência tomada pela Coroa de declarar o Brasil, como a África Ocidental, lugar de deportação e, pior ainda, pois enquanto à África iam os delinqüentes primários ou reincidentes pela primeira vez, para o Brasil eram deportados os de segunda ou ulteriores reincidências. Esta flor da criminalidade, em seu novo domicílio, de acordo com a informação de Hendelmann, podia, sem nenhum impedimento, apenas desembarcados, adquirir terras e participar de tudo como os demais colonos, e, na sua posterior adaptação ao meio físico e ao ambiente primitivo transformavam-se em “selvagens” e “bárbaros” e, por isso mais aptos como pioneiros a conquistarem o que lhes cabiam de “direito” pela posse da terra, e muitos voltando a Metrópole como homens bem sucedidos e quantos e todos dos que aqui ficaram não se tornaram a base psicoplástica e psicogenética da weltanschauung hegemônica e inescrupulosa da “razão prática” brasileira do “jeitinho”, do crime e da corrupção? Com efeito, “enquanto a totalidade dos colonos ou defendia, ou conquistava, ou penetrava em novas terras, preocupações absolutas então, de “vida e morte”, realizadas em permanente conflito com os índios etecetera, de outro lado, os jesuítas moldavam os curumins e mazombinhos, fazendo-os ler as nobilitantes Vidas dos Santos”, transformando-os em idiotas a serviço do reino de “Deus”, submetidos a uma terrível exploração de sua força de trabalho, mas acalentados pelas perspectivas da santidade dos “Santos”. Outra espécie de leitura senão as vidas dos santos não lhes era possível, e a realidade psicológica adaptava-se a elas. E assim, a partir da pura e simples catequese e do ensino da língua portuguesa, foi montando-se o sistema de ensino da colônia, posteriormente, como sabemos, não só para os indígenas. E estando o ensino nas mãos dos jesuítas, é lógico que só eles dispunham de livros. Mas de acordo com Serafim Leite, tais livros não primavam pela qualidade. As caixas de livros vindas da Europa, observou Vita, sempre eram examinadas para o devido crivo. Havia, ainda, uma seleção de leituras. Não se davam a ler a todos, indistintamente, à proporção que iam chegando. Estava determinado que se examinassem antes (e corrigissem) no que tivessem de contrário à “edificação da ordem” e aos “bons costumes”... Isto já em 1596, e a fiscalização não caía apenas sobre as obras heréticas, ou supostas tais, pois até os livros poéticos sofriam a censura da pedagogia colegial celestial que, se era boa para a formação dos Anjos, para a dos Homens era um horror. Como havia distinção entre os livros escritos em latim e aqueles que apareciam “em romance” na língua popular, a estes eram imposto todo o rigor da mesa censoria. Essa medida era tomada, ao ver de Serafim Leite, “pelos devaneios que suscitam em cabeças juvenis”. Desta forma, podia a Congregação da Bahia, em 1583, propor, e sob os aplausos gerais, “que se desse alguma emenda aos escritos de Humanidades de Plauto, Terêncio, Horácio, Marcial e Ovídio”, para impedir influências nefastas, deformadoras do santo caráter ou caráter santo da juventude desejado pelo “poder divino” dos reis e da igreja. Como nesse meio formar um espírito crítico? Como tornar possível a impregnação de um caráter filosófico ao nascente “povo brasileiro”? Apenas se algum herege alcançasse nossas praias, atirado ao mar por suas idéias blasfematórias ou ofensivas aos pios ouvidos. Mas é difícil imaginá-lo embarcado em uma das naus portuguesas como degredado, dado que o crime de heresia, um dos mais graves da época, tinha, por exemplo, nas Ordenações Afonsina (1446-1512), o seguinte tratamento penal:
“El Rey D. Dinis, com Conselho da sua corte manda e pooem por Ley, que quem quer que descrer de DEOS, e de sua Madre, ou os doestar, que lhes tirem as lingoas pelos pescoços, e que os queimem” (Liv. V, Tít. 99, § 1º).[8]
Neste sentido, vale observar que os encargos de explorar e defender a terra foram atribuídos aos comerciantes e aos mercenários que, a partir de 1502, contratavam a exploração do pau-brasil, os primeiros dentre os quais eram liderados pelo cristão-novo português Fernando de Noronha, em concorrência com os contrabandistas franceses etc. E somente em 1531 veio a decisão portuguesa de iniciar a colonização, com a expedição comandada por Martin Afonso de Souza sob o signo das Ordenações Manoelinas (1521-1569) que em nada ou pouco mudou o estatuto do herege. De modo que se pode dizer, resumindo-se o comportamento das pessoas – e com maior razão a dos servos – no que a vontade do “senhor” ou do mais “forte” quisesse e determinasse, não havia necessidade de instrução não havendo possibilidade de ascensão social e mudança de classe a não ser através dos ganhos auferidos pelo contrabando, corrupção, assassinato etc., já que mesmo as pessoas pobres de fortuna, mesmo os degredadas e prostitutas etc., eram imbuídos de uma mentalidade feudalista com forte matiz mercantilista, e o único veículo de ascensão social que podiam vislumbrar era a aquisição de terra, a busca de ouro e pedra preciosas, dobrar-se as injunções dos interesses da Coroa e da Igreja. Onde encontrar lugar social para o desenvolvimento das leis e as contestações jurídicas?
2.
E ASSIM DESDE O INÍCIO, já entre a descoberta, em 1500, e a criação do Governo-Geral, em 1548, no Brasil-Colônia institui-se a prática rapace, autoritária, repressiva, punitiva e patrimonialista necessárias para a organização e manutenção do poder português sob a batuta dos interesses da Coroa, da Santa Sé e do Capital Comercial... Afinal, o Brasil, no dizer amável do D. João VI, “era a vaca leiteira de Portugal”.[9] Então, por vias das conseqüências, a nova terra era o lugar perfeito para os jesuítas erigirem o projeto inaciano; fazer da nova terra um imenso pasto religioso. Mesmo porque, as distorções sociais, inevitáveis, eram corrigidas com a permanente e implacável repressão social, política, jurídica e econômica moldando assim os contornos ideológicos da legalidade religiosa do Brasil. Inevitáveis porque se faziam primeiro as Leis, ou seja, as Ordens Régias para promover a harmonia dos interesses, e após, tudo e todos deviam amoldar-se ao modelo com enorme imposição estatal. Esta era a fenomenologia do Poder colonial. É ainda! É ainda! E assim foi planejada a expropriação das riquezas do Brasil, e a pobreza de espírito de sua população. É ainda! É ainda! E como observou Vicente Barreto, a poesia de Gregório de Matos dá-nos um retrato bastante fiel da situação do brasileiro nos tempos coloniais:
“Que os brasileiros são bestas,
E estarão a trabalhar
Toda a vida, por manterem
Maganos de Portugal”.
São ainda! São ainda! Mas os “maganos” mudaram de Pátria... De fato, o século XVI caracterizou-se pela conquista e a colonização extrativista do litoral, com o ciclo de exploração do pau-brasil e do trabalho indígena, sendo o índio violentado (mas não só o índio) pela imposição da religião (mesmo com jesuítas como Anchieta e Nóbrega etc.) e da Carta Régia estabelecendo o direito de sua exploração. Não deu certo, e não deu outra: o índio não estava afeito ao trabalho sedentário, (não importa se Tupi, Jê ou Tapuia, Nuaruaque, Caraíba etc.), daí veio à necessidade de outra fonte de meios de trabalho, e com coincidente e já existente podridão do tráfico negreiro, a solução implantada foi a da exploração da mão de obra do escravo negro. Mesmo porque, nos bastidores da história tudo foi planejado e acertado através de um lucrativo acordo entre a Igreja Católica e o “tráfico negreiro" que fez recuar a nascente escravidão indígena. O tráfico negreiro, “pelo aval oferecido pela Santa Sé – que considerava os corpos dos negros como pequena coisa, em comparação com as suas almas (dos africanos) que eternamente haviam de possuir verdadeira soltura, já que as vítimas seriam batizadas e, portanto, ganhariam o céu” [10] -- intensificou livremente e sem escrúpulos suas ações na África. E a Igreja Católica beneficiou-se de seu rendoso negócio de “proteção aos índios” porque, esclarece Chiavenato, “estabeleceu com a Coroa portuguesa um acordo: ganhava 5% de comissões sobre a venda de negros escravos”. E assim, três bulas papais, baixadas pelo Papa Paulo II (1534-1550) garantiram que assim fosse: a primeira, a encíclica “Altitudo divini Consilii”, transferiu do Santo Ofício para a jurisdição episcopal toda a autoridade sobre os índios das Américas; a segunda, “Ipsa veritas”, condenou a escravidão indígena; a terceira, “Sublimis Deus”, declara herética a posição dos que tem os índios como seres irracionais e incapazes por isso de receberem a fé...[11] – O negro africano, convenientemente, não mereceu tais considerações... Sabemos apenas que os africanos que vieram para o Brasil eram homens e mulheres das culturas sudanesas e (Yoruba, da Nigéria; Gegê, de Daomé; Fanti-Ashantí, da Costa do Ouro; Malê, do Sudão) e banto (diferentes povos da Guiné, do Congo, de Angola e de Moçambique) etc., e escondiam vários povos e realidades culturais diversas: dispunham tanto de complexas religiões fetichistas, quanto vários agrupamentos, como os Malê, demonstravam profundas influências do Islamismo, portanto, segundo o Santo Ofício, ao contrário dos índios, os negros eram seres irracionais e incapazes da fé... O fato é que, como sabemos, a evolução econômica do Brasil amparou-se na cana de açúcar, no tabaco, mais tarde, nas minas de ouro e diamante, para finalizar no algodão e no café. A escravidão, a monocultura, o latifúndio, a mineração, a violência cultural eram amparadas pelo Tribunal de Inquisição instalado na Bahia e Pernambuco, em 1591, seguido pelo Conselho das Índias, em 1604, por força da ligação Portugal-Espanha (1580-1640), depois pelas Ordenações Filipinas, 1603, especialmente com o terrível Livro V. Com a liberação de Portugal do jugo espanhol, surgiu o Conselho Ultramarino, em 1642, e, daí, uma unidade administrativa (para a melhor e mais completa exploração das riquezas do Brasil), fundada num regime cruel de repressão e tributação, com a justiça sempre ao lado dos senhores e o clero, pondo de lado a “causa da fé”, passou a “fazer do culto um negócio, do ministério sagrado um ofício”, da missão humanística da Igreja uma hipocrisia, de tal maneira que, no dizer de Rocha Pombo, “não havia vigário pobre naqueles tempos”. E não há ainda! E não há ainda! Com efeito, sempre houve dissonância, contradição, conflito entre normas jurídicas e as relações sociais... O fato é que a repressão social e econômica no Brasil foi sempre uma constante de sangue, de crime e de exploração da fé, para benefício do domínio de ultramar. De forma que ao se iniciar o século XIX, com o Brasil produzindo açúcar, explorando ouro, cultivando cana, tabaco, algodão e café, foram 300 anos de esforços, de trabalho duro, de repressões, de injustiça, de violência, naquilo que Caio Prado Jr. chama de “tremenda desordem colonial”... Viveu o Brasil ainda até meados do século XIX uma estrutura agrária, escravista e “patriarcal”, em que, observa Claudio de Cicco, “muito do Brasil-Colônia ficara preservado (o que se deve, diga-se de passagem, a retenção “patriarcal” da dominação externa) ao manter uma continuidade dinástica que datava da Idade Média ou pelo menos de 1640 com a ascensão dos Bragança ao trono de Portugal” (CICCO, 1993),[12] ou seja, “o Império tinha atrás de si não só os anos que decorreram entre 1822 e 1889”, mas, pelo fato de ter representado “toda a longa tradição de mando e poder que tinha de certo modo “fundado” a nacionalidade portuguesa, de que a brasileira se considerava de algum modo herdeira” (CICCO, 1993)... E assim, inegavelmente a grande força do colonizador português estava nas Ordenações Filipinas, especialmente no seu Livro V. E por mais estranho que pareça, foram precisos século e meio depois para muito pouco ser sanado com a publicação da Lei da Boa Razão, em 18 de agosto de 1769, que determinava para a interpretação das lacunas das Ordenações, apenas que se confiram as opiniões dos Doutores com a boa razão, isto é, “com as verdades essenciais intrínsecas, inalteráveis” de “unânime consentimento” que estabeleceu o direito das gentes, para a direção e governo de todas as nações civilizadas. Suas inovações são resumidas, por Pontes de Miranda, nos seguintes parâmetros:
“1 - que seja inalterável o modo de julgar; 2 - que, havendo dúvida, se fixe antes a inteligência da lei; 3 - que se atenda ao espírito das leis, e não a outras regras de interpretação; 4 - que as glosas e opiniões de Acúrsio e de Bartolo não possam ser alegadas em juízo, nem sugeridas, nem as de outros doutores; 5 - que o costume seja conforme a boa razão as leis do reino e de mais de cem anos”. E assim, sobre a Lei da Boa Razão, manifestou-se Coelho da Rocha nestes termos: “Pela lei de 18 de agosto de 1769 fez o marquês de Pombal restituir às leis pátrias a dignidade e consideração...”.
Mas as Ordenações não só continuaram a viger após a proclamação da Independência do Brasil, em 1822, como com a lei de 20 de outubro de 1823 (um dos primeiros e mais importantes atos da Assembléia Constituinte), que determinou que no Império nascente vigorassem, diz Cândido Mendes, “as Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções promulgadas pelos Reis de Portugal...”, enquanto se não organizasse um Código, ou não fossem especialmente alterados. Então, a Constituição de 25 de março de 1824, prescreveu expressamente, no art. 179, nº. XVIII, que se organizasse, quanto antes, um Código Civil e um Código Criminal, fundado nas sólidas bases da Justiça e da Equidade. O “quanto antes” do texto para o Direito Civil demorou bastante e revelou-se infrutífero. Mesmo porque, com nossa Independência, a primeira Constituição, de 1824, utilizou-se do instituto da recepção, mandando aplicar as Ordenações Filipinas como nosso Direito positivo, até que se tornasse possível à elaboração dos Códigos. O fato é que o país, sob o Império, ganhou com presteza um Código Criminal, promulgado em 1830, de depois um Código Comercial, em 1850... Quanto ao Código Civil, que delonga!... Em 1855, pensou-se em Nabuco de Araújo, então Ministro da Justiça, para realizar a tarefa de codificação. Mas este indicou o nome de Teixeira de Freitas para primeiramente realizar uma Consolidação, primeiro passo para a Codificação... Mas só em 1859, por contrato firmado, coube a Teixeira de Freitas a tarefa de elaborar o Projeto e, embora o prazo para a entrega do Projeto de Código Civil a que se obrigara houvesse sido prorrogado até 1864, e apesar de até 1872 o contrato não ter sido rescindido, Teixeira de Freitas não o concluiu, renunciando à tarefa e ao encargo, em 1866, e o “Esboço”, que assim subsistiu, é uma obra inacabada. Mas foram publicados parcialmente, à medida que os elaboravam, 1.702 artigos em 1865, enquanto posteriormente deveriam ser publicados 1.314 artigos, relativos aos direitos reais. A principal razão da renúncia, evidentemente, não foi o retardamento da entrega do Projeto, mas a determinação de Freitas de não subordinar o Código Civil ao Código Comercial de 1850, logo, aos interesses da Coroa “Portuguesa” e da classe economicamente dominante, e no fato de pretender fazer um trabalho de abrangesse toda a matéria de direito privado. Por isso o Projeto de Código Civil elaborado por Teixeira de Freitas não serviu para o Brasil, mas serviu de orientação para que Dalmacio Vélez Sarsfield elaborasse o atualmente ainda vigente Código Civil argentino, e viria servir de substrato para a elaboração do Código Civil do Uruguai, e teria também influência na confecção do Código Civil do Paraguai... E assim, frustrada a tarefa confiada a Freitas, o Governo Imperial confia a missão a Nabuco de Araújo, em 1872, que adoece e depois falece em 1910 tendo deixado apenas um rascunho de 182 artigos redigidos em 1878. A terceira tentativa veio de Joaquim Felício dos Santos. Sua obra, apresentada em 1881, denominada “Apontamentos para o Projeto do Código Civil Brasileiro”, foi rejeitada. Uma comissão (dissolvida logo depois) nomeada pela Câmara dos Deputados apresentou parecer desfavorável e a Câmara não se pronunciou sobre ele. Como conseqüência, sobreveio à República, em 1889, sem se ter realizado a reforma legislativa de base, e as Orientações Filipinas conservou sua vitalidade nos primeiros vinte e cinco anos do regime republicano, apesar de em 1890, o Ministro Campo Sales, ter encarregado o jurista Coelho Rodrigues de organizar o Código Civil que, concluído em Genebra, em 1893, não foi aceito pelo Governo, em virtude de parecer contrário da comissão que o examinou. E em 1895, decidiu o Senado nomear uma Comissão Especial incumbida de indicar qual dos projetos abandonados poderia servir de base ao futuro Código, em 1896, e resolveu autorizar o Governo contratar um jurisconsulto ou uma comissão de jurisconsultos. Lembrou-se do nome de Clóvis Bevilláqua, jurista cearense e professor da Faculdade do Recife, que recomendou aproveitar tanto quanto possível o projeto de Coelho Rodrigues. Clóvis transferiu-se para o Rio de Janeiro, e em pouco mais de seis meses desincumbiu-se da missão, em 1899. A verdade é que Rui Barbosa acompanhava o trabalho de Clóvis Bevilláqua, pois que tinha sido convidado para redigir o projeto ainda no governo Campos Sales, e, sendo eleito, em abril de 1902, relator da Comissão Especial do Senado encarregada de analisar o Projeto, Rui Barbosa tornou-se uma pedra no sapato de Bevilláqua, e elabora um longo e detalhado parecer, em que critica a linguagem e propõe emendas a quase todos os seus mais de 1.800 artigos, estabelecendo, principalmente, uma das maiores polêmicas sobre questões de gramática e estilo travadas no Brasil com o seu ex-professor de língua portuguesa, o Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro; o que acabaria adiando por mais dez anos a entrada em vigor de nossa lei Civil. Graças a Rui, o Código Civil de 1916, por exemplo, foi a primeira lei brasileira a trazer com S o nome do Brasil e de sua gente, os brasileiros, o que acarretou grande celeuma. A primeira página do Diário Official (grafia da época) de 5 de janeiro de 1916 é inusitada, por curiosa: em epígrafe, Estados Unidos do Brazil, com Z, no corpo, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, com S. E somente a partir de 2 de julho de 1917 é que o Diário Oficial passou a escrever Brasil com S. Com efeito, somente em 1912, depois desse grande período de vicissitudes e chatices do Rui, o Senado remeteu o Projeto à Câmara, e recebeu grande número de emendas. Tais emendas foram na maior parte de redação; apenas 186 modificaram a substância do Projeto. Finalmente, não sem atravessar outro período de vicissitudes e chatices, as comissões reunidas da Câmara e do Senado prepararam redação definitiva, sendo o Projeto aprovado em dezembro de 1915, promulgado e sancionado em janeiro de 1916, pelo presidente Venceslau Brás, convertendo-se na Lei nº. 3.071 de julho de 1916, para entrar em vigor em janeiro de 1917. E mesmo assim vários de seus dispositivos haviam sido publicados com incorreções, o Congresso resolveu repará-las, o que foi feito com a Lei nº. 3.725 /17, que corrigiu principalmente a redação. Concluindo nosso breve relato, foi assim que passamos diretamente do sistema das Ordenações Filipinas (que vigeu 314 anos) ao Código Civil de 1916.
3.
É ÓBVIO QUE OS PORTUGUESES trouxeram consigo para as colônias seu sistema normativo. Primeiro as Ordenações Afonsinas, que vigoraram entre 1446 e 1512. A seguir as Ordenações Manoelinas, vigentes entre 1521 e 1569, por fim, em 1603, as Ordenações Filipinas chegaram às colônias, notadamente o Brasil. Esclarecendo melhor, com a incorporação de Portugal ao Reino de Castilha (hoje Espanha), em 16 de abril de 1581, com a coroação de Felipe II, passaram a viger aqui as leis produzidas pela Cortes de Castilha. Por volta de 1640 ocorreu a separação desses dois reinos, Portugal e Espanha, que dominavam, mercê do Tratado de Tordesilhas (1494), o “Novo Mundo”, entretanto, a legislação seguiu a mesma (a originária das Cortes de Castilha), dando início a nossa “história” do “direito”. Neste sentido, se considerarmos a afirmativa de Billier e Maryiol de que “a história ‘temporal’ das leis e o caráter positivo dos sistemas políticos formam aquilo que poderíamos chamar de historicidade do Direito”[13], podemos dizer que a origem da pré-história do Direito Positivo no Brasil está nas Capitanias Hereditárias, iniciadas em 1504 quando, Dom Manuel I doara, para Fernando de Noronha, a capitania da Ilha de São João (que passaria a se chamar arquipélago de Fernando de Noronha). Entre 1534 e 1536, Dom João III criou 14 novas capitanias [duas em Maranhão, Ceára, Rio Grande, Itamaracá, Nova Lusiânia (Pernanbuco), Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana]. Os donatários recebiam Cartas de Doação, e deveriam cuidar delas à própria custa, transmitindo-as a seus herdeiros, juntamente com o título de Capitão-mor que ostentavam, e, nos Forais contavam entre suas obrigações a colonização, a defesa das terras e a ampliação constante das rendas da Coroa. O que lhes davam poderes quase ilimitados: podiam governar livremente, estabelecer circunscrições administrativas, criando e promovendo cargos, cobrando impostos e taxas, doando sesmarias, escravizando índios e, o mais grotesco, ministrando justiça de forma sumária. Portanto, a criação do Governo-Geral, em 1548, por Dom João III, estabelecendo a capitânia da Coroa, na Bahia, com sede em Salvador, compondo-a de um Ouvidor-Mor (encarregado das questões superiores da justiça), foi o primeiro passo para a organização da justiça no Brasil, apesar de limitar-se à apreciação de recursos que fossem interpostos contra atos dos governos locais. Além de um Ouvidor-Mor as disposições do Regimento de Almeirim (1581), foi entregue a Tomé de Souza, primeiro ocupante do cargo de Capitão-Mor Governador da Bahia e depois Governador Geral. Neste sistema, após Tomé de Souza (1549-1553), governaram Duarte da Costa (1553-1558) e Men de Sá (1558-1572). Portanto, foi durante o governo de Men de Sá que as Ordenações Filipinas (1603), que influenciarão mais diretamente nossa vida jurídica, dando-lhe, efetivamente, um percurso sistemático, entram em vigor. As Ordenações Filipinas, portanto, foi um “avanço”, um primeiro passo, na colonização da vida jurídica do Brasil Colônia, (das Capitanias e do Governo-Geral), o que, por si só poderia explicar sua longa vigência por sua efetiva prestação jurisdicional de acordo com os interesses da ordem, sem os progressos no campo da justiça social. Tais progressos seriam muito diáfanos, mas não codificáveis pelas Ordenações, já que se deviam ao que Clovis Bevilláqua interpretou como o sentimentalismo tão natural do temperamento brasileiro, que sempre o conduziria a “benignidade jurídica”. Como feito, inegavelmente, a longevidade das Ordenações Filipinas impediu que o Brasil se integrasse no movimento de renovação legislativa que empolgou as nações ocidentais no século XIX. O mesmo não ocorreu em Portugal que, em 1867, organizou seu Código Civil à base do projeto elaborado pelo Visconde Seabra que, segundo comentário do professor Braga da Cruz, rendeu-se demasiadamente à influência estrangeira (conquanto se tenha inspirado na tradição do país, mas, devido, principalmente, à influência exercida pela obra notável de Coelho da Rocha), e utilizou-se, na elaboração de seus preceitos, especialmente, o Código de Napoleão e seus comentaristas, sobretudo Marcadé e Demolombe, outros Códigos como o austríaco e o sardo, o projeto de Código Civil espanhol de 1851, assim como o comentário de Garcia Goyena e o Código italiano. Sempre os mesmos padrões! Como Afonso Duarte vislumbrou em dois versos lapidares:
“Quero ser europeu: quero ser europeu
Num canto qualquer de Portugal”.
E foi assim, sob o viés de uma “Europa dos desejos”, nas palavras de Enzensberger, justificando a capacidade histórica de Portugal para a utopia e ainda “de sua longa história de fronteiras abertas de “internacionalismo””, segundo Boaventura de Souza Santos, que as idéias liberais haviam penetrado em Portugal, e, no começo do século XIX, influíram decisivamente na evolução do Direito privado português.[14] Parece haver em Enzensberger e em Boaventura certo exagero. É verdade que Portugal havia, em 1289, fundado a sua primeira Faculdade de Direito, em Lisboa, e, posteriormente, em 1308, transferida para Coimbra, o que lhe granjeou importância no campo de conhecimentos jurídicos. Isso é certo. Mas também é verdade que antes do governo do Marquês de Pombal, como informa Vita, “as fronteiras lusitanas eram como uma barreira fiscal protecionista, fechada ao progresso de além Pireneus, para que ele não viesse perturbar o sono do país”. Depois de Pombal, quis-se novamente cerra-la, continua Vita,
“mas já não foi inteiramente possível evitar o contrabando, pois os imigrados políticos o faziam e o fez o próprio tio da rainha, Duque de Lafões, que ilustrara o seu espírito em meio de alta cultura do estrangeiro, que lhe inspirou a fundação da Academia das Ciências, de Lisboa. Penetraram, assim, em Portugal, as idéias filosóficas dos redatores da celebre Enciclopédia francesa do século XVIII, idéias que tinham sido combatidas com rancor na própria França, e cuja entrada em território português se pretendia evitar”.
E foi assim por contrabando e a revelia, e não fruto de uma capacidade histórica para a utopia ou de um internacionalismo esclarecido que “as idéias liberais haviam penetrado em Portugal”. Antero de Quental tem toda razão de ser pessimista ao dizer: “Nunca povo algum absorveu tantos tesouros, ficando ao mesmo tempo tão pobre”. Sem dúvida! Tanto em relação ao ouro do Brasil, quanto ao desenvolvimento filosófico europeu, apesar dos méritos de sua inteligentzia. Portugal sofreu demasiadamente as influências do que mais medíocre foi produzido pela Igreja Católica, e tem pagado muito caro por isso... Com efeito, se os princípios da Revolução Francesa formulavam as diretrizes de profunda renovação social, o Código Civil português havia de ser como foi à expressão mais acabada do individualismo jurídico português. Muito diferente do Brasil que, em pleno século XX, diz-nos Orlando Gomes, “a nossa legislação civil continuará condensada fundamentalmente na compilação de 1603...”. Em outras palavras (parafraseando os versos de Afonso Duarte), expressava nossos juristas o desejo colonialista:
“Quero ser português: quero ser português
Num canto qualquer do Brasil”.
Neste sentido, convém frisar, as Ordenações Filipinas só sobreviveram na parte relativa ao Direito Civil (Livro IV). Quanto ao Direito público foram revogadas pela Carta Constitucional e pelo Ato Adicional; quanto ao Direito Penal, pelo Código Criminal de 1830, pelo Código de Processo Criminal e pela lei de 1841, quanto ao direito Privado, na parte relativa às atividades comerciais, pelo Código Comercial de 1850 e pelo Regulamento 737. Por essa razão, quando em 1º de Janeiro de 1917, o Código Civil entrou em vigor (depois de ter sido sancionado pelo presidente Venceslau Brás), o Direito Civil brasileiro, na precisa observação de Paulo de Lacerda, “não passava de um aglomerado variável de leis, assentos, alvarás, resoluções e regulamentos, suprindo, reparando ou sustentando as Ordenações do Reino”, lidos ao lusco-fusco crepuscular da Lei da Boa Razão. Em vista do estado caótico da legislação, o Governo Imperial incumbiu a Teixeira de Freitas, em 15 de fevereiro de 1855 elaborar a Consolidação das Leis Civis, com a obrigação de coligir e classificar toda a legislação pátria, inclusive a de Portugal, anterior à independência do Brasil, o que seria passo para a codificação. O objetivo era, claramente, a elaboração de trabalho preparatório da codificação. Admirável síntese da obra do passado observa Orlando Gomes, “a Consolidação das Leis Civis condensa os resultados da experiência jurídica lentamente acumulada sobre a carcaça das Ordenações valetudinárias”. Mas, no consenso dos civilistas, a obra excedeu a toda expectativa, constituindo marco decisivo na evolução do Direito Civil brasileiro, e, por seu intermédio, o Direito português conservou-se no Brasil até 1917... Consequentemente, enquanto Portugal se deixava influir pelas idéias francesas, consagrando inovações de seu Código de 1867, o Brasil foi mais tradicional, preso as Consolidações das Leis Civis se constitui, em pleno século XX, uma expressão fiel da tradição jurídica lusitana, mais fiel do que a que pode representar o Código Civil português promulgado cerca de cinqüenta anos antes. A explicação seria que se projetavam sobre o Brasil Imperial os tentáculos da sociedade colonial baseada no trabalho escravo, na monocultura e na exportação daí, talvez, a indiferença às tentativas de introdução de leis sociais, feitas no Parlamento, durante o período em que se estava elaborando o Código Civil e as dificuldades (senão impossibilidade) do mesmo em recepcioná-las. Vale registrar ainda o malogro, no Império, de três tentativas de codificação: a de Teixeira de Freitas (1859), a de Nabuco de Araújo (1872) e a de Felício dos Santos (1881). Tudo porque a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, se, por um lado, condensou os resultados da experiência jurídica acumulada sobre a carcaça das Ordenações valetudinárias, por outro lado, as Ordenações do Reino não teriam vivido até 1917 não fosse à sobrevida propiciada por essa exímia condensação. É verdade que o Código Civil de 1916 a ela não se ateve. Mas a Consolidação facilitou a obra do codificador. Possivelmente as árduas tarefas da Consolidação das Leis Civis tenham impossibilitado Teixeira de Freitas concluir o Código Civil, ficando apenas em “Esboço” que, embora não houvesse sido aproveitado entre nós, inspirou numerosas disposições do Código Civil de 1916, notadamente da parte geral, do direito das obrigações e de certos institutos do direito das coisas.
4.
RERERINDO-SE AO CÓDIGO Civil brasileiro de 1916, os doutrinadores alemães Ludwig Enneccerus e Hans Carl Nipperdey o afirmam como sendo “la más independiente de las codificaciones latinoamericanas”. E Arminjon, Nolde e Wolff destacam a originalidade de suas disposições, a clareza e a precisão dos conceitos, como também a brevidade e técnica jurídica. Na opinião de muitos, trata-se, sem dúvida, de obra jurídica que honra as letras jurídicas de nosso país, apesar de ter regulado institutos em franca decadência, como, assinala Washington de Barros Monteiro, a “hipoteca judicial”, o “pacto de melhor comprador” etc., e ter deixado de regular institutos nascentes à época, como o “condomínio de apartamentos” etc. Possui, como o Código Civil Alemão, uma Parte Geral (em que são reguladas as noções e relações jurídicas das pessoas, dos bens e dos fato jurídicos), e uma Parte Especial, (regulando o direito de família, direito das coisas, direito das obrigações e direito das sucessões). E vinha precedido de uma Lei de Introdução. Portanto, apesar de contraditoriamente, não se pense a cultura jurídica nacional como retrógrada ou como estando em descompasso com o seu tempo, suas questões e os movimentos sociais que procuravam dar conta de suas contradições e antagonismos. O autor, Clóvis Bevilláqua, não ignorava, por exemplo, o desencadeamento da reação ao individualismo jurídico. Tanto que, nos artigos que escreveu para rebater as acusações ao Projeto, “Em defesa do Projeto Civil brasileiro”, publicada em 1906, dedica um capítulo ao socialismo jurídico, e, adverte que as codificações devem ser trabalho de depuração, de condensação, de enfeixamento, de classificação, de metodização, e nunca de aventurosos trânsitos por sendas mal desbravadas. Em outras palavras, Bevilláqua assumia de modo nítido e firme, uma posição categórica contra as inovações de fundo social que se infiltravam, desde então, na legislação dos povos mais adiantados. Muito distante, portanto, de Rui Barbosa que, em 1919, apontava para as mudanças sociais que estariam por ocorrer no mundo e a necessidade de se antecipar a elas: “A concepção individualista do direito tem evoluído rapidamente, com os tremendos sucessos deste século, para uma transformação incomensurável nas noções jurídicas do individualismo restringidas por uma extensão, cada vez maior, dos direitos sociais”. Hoje sabemos que a dita extensão maior dos “direitos sociais”, não ultrapassa o “individualismo burguês”, ao contrário, a ele são deferidas. Em suma, verifica-se desde a origem, na evolução legislativa do Direito privado brasileiro, aquele descompasso entre Direito escrito e realidade social. Veio, então, na continuidade de perseguições religiosas, colonialismo, desenvolvimento técnico-científico, imperialismo, comunismo, fascismo, morticínios, pilhagens, as duas grandes guerras mundiais: a Primeira, de 1914-1919, e a Segunda, de 1939-1945 etc. Não há nação que, nas palavras de Pascal Bruckner, “não tenha que fazer seu exame de consciência e cuja história não esteja cheia de cadáveres, sentinelas, torturas, exações”. No caso do Brasil os últimos cadáveres, as últimas torturas, exações e sentinelas estavam a serviço do Golpe Militar de 1964. E como não poderia deixar de ser, diante de tantos horrores, de tantas abominações, externa e internamente, a sociedade brasileira sofreu grande impacto e modificou-se. Na verdade, o mundo do Direito modificou-se, pois é óbvio que o limite de tolerância, que separa o que é ainda “aceitável” do que não é não pode mais ser estabelecido arbitrariamente pela autoridade existente. E isso acarretou mudanças radicais e necessárias na legislação internacional e nacional. Por isso, em alguns aspectos, na verdade muitos, o Código Civil de 1917 já não representava os anseios de nossa época. Na verdade, desde sua promulgação, foram muitas as Leis Extravagantes que trataram de matérias não contempladas pelo Código ou mesmo, modificaram disposições do diploma legal. Na década de 40, surge a primeira tentativa de modificação da lei vigente, com o surgimento de um Anteprojeto de Código das Obrigações, elaborado pelos juristas Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hannemann Guimarães, que se prendeu apenas à Parte Geral das Obrigações. E continuaram a surgir leis que complementam ou mesmo derrogam o Código Civil. Vale citar uma das que tiveram mais repercussão, a chamada Lei de Usura, Decreto nº. 22.626 /33, isso sem falar nas grandes modificações surgidas no decorrer do século XX, no tocante ao Direito de Família como o estado de filiação, à situação da mulher casada e à adoção. Outros Códigos surgiram, cuidando de matérias paralelas, como o Código de Águas, o Código de Minas e o Decreto-Lei nº. 4.657 /42, atual Lei de Introdução ao Código Civil, para a solução dos conflitos intertemporais e de direito internacional privado. E muitas foram às modificações no Direito de Família. Por exemplo, a Lei nº. 6.515 /77, que regulamentou a Emenda Constitucional nº. 9, de 28 de julho de 1977, Lei do Divórcio, que derrogou vários artigos do Código Civil. O mesmo pode ser dito das sucessivas Leis do Inquilinato que regem a locação, em detrimento do Código. Em suma, o Código de 1916 havia chegado ao ocaso de sua história, apesar de ter-se constituído um valioso monumento legislativo. E vários projetos foram apresentados, como o de Orlando Gomes, de março de 1963, e o Código das Obrigações de Caio da Silva Pereira, de dezembro de 1963 etc. E assim, tendo levado em consideração essas e outras manifestações, em 1969, uma comissão nomeada pelo Ministro da Justiça prefere elaborar novo Código, em vez de fazer tão-só uma revisão. Daí o surgimento de um anteprojeto em 1972, elaborado sob a supervisão de Miguel Reale. A comissão era integrada pelos professores Agostinho de Arruda Alvim (Direito das Obrigações), Sylvio Marcondes (Atividade Negocial), Ebert Vianna Chamoun (Direito das Coisas), Clóvis do Couto e Silva (Direito da Família) e Torquato Castro (Direito das Sucessões). Depois de recebido as emendas, o Anteprojeto foi publicado em 1973. E após numerosas modificações, foi elaborado o Projeto definitivo que, tendo sido apresentado ao Poder Executivo, foi enviado ao Congresso Nacional, onde se transformou no Projeto de Lei nº. 634, de 1975. Era uma época de transição política, portanto, houve demora da tramitação,(uma longa, costumeira e sintomática demora) e o projeto originário já se mostrava defasado em face de novas legislações, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.079, de 11-08-90), e, principalmente a Constituição de 1988. Então, mais recentemente, o Ministro da Justiça incumbiu Miguel Reale e o Ministro José Carlos Moreira Alves de reestruturar o projeto e dar-lhe andamento. O que foi feito, mas o projeto foi modificado em ambas as casas do Congresso para se converter no Novo Código Civil, Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
5.
O ATUAL CÓDIGO CIVIL, chamado de novo, entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Com muitas inovações de última hora, mormente engendradas pela Câmara dos Deputados, e que até hoje causam celeuma e perplexidade entre os cultores do Direito Civil. Mais de trezentos artigos já contam em projetos de modificação que, sempre, “desvelam” e “suprem” suas insuficiências e lacunas intermináveis. Apresenta-se, portanto, natural e esperado o fato de que o advento da Constituição de 1988, surgida após longos anos de instabilidade institucional, e que traz em si o propósito ou a promessa de instaurar um Estado Democrático de Direito, tendo de coexistir com diplomas legais infraconstitucionais editados em épocas anteriores (diferentes e problemáticas) e ainda em plena vigência, portanto, impõe-se que tais diplomas legais sejam, forçosamente, examinados à luz da própria Constituição Federal como o propósito de verificar a sua compatibilidade ou incompatibilidade, total ou parcial, com o texto desta (Cf. ADIERS, 2008). A este movimento denominou-se de constitucionalização do direito, a significar a necessidade de revisar os textos legais infraconstitucionais anteriores à carta constitucional, e por via de conseqüência a alcançar também a legislação posterior a ela. Parece-nos ser evidente, observou a professora Maria Berenice Dias, que:
“Ainda que tente a lei prever todas as situações dignas de tutela, as relações sociais são muito mais ricas e amplas do que é possível conter uma legislação. A moldura dos valores juridicamente relevantes torna-se demasiado estreita para a riqueza dos fatos concretos. A realidade sempre antecede ao direito, os atos e fatos tornam-se jurídicos a partir do agir das pessoas de modo reiterado. A existência de lacunas no direito é decorrência lógica do sistema e surge no momento da aplicação do direito a um caso sub-judice e não previsto pela ordem jurídica” [15].
Neste sentido, ênfase especial foi dada ao Código Civil, tendo ele sido promulgado em 1916, impôs-se a releitura de seu texto com vistas a conferir-lhe um sentido e uma adequação de modo a servir para a realização dos propósitos estabelecidos pela Carta Magna de 1988. Na lição de Moacir Adiers, a este processo de releitura e de adaptação do Código Civil deu-se, entre nós, o rótulo de Constitucionalização do Direito Civil, apresentando o próprio Direito Civil como Direito Civil Constitucional. Tal releitura parece-nos ser evidente, mas talvez não o seja tanto assim, afinal ocorre-me uma observação devida a J. Hillis Miller (1970, ix, apud, Eco 2000): “Não é verdade que...todas as leituras sejam igualmente válidas...”. Afinal exige inteligência, responsabilidade, prudência, certeza. E tais exigências dificilmente (raras vezes) caminham juntas. Em Beviláqua encontramos tal união, que o levou a assumir, diz-nos Orlando Gomes
“de modo nítido e firme, uma posição categórica contra as inovações de fundo social que infiltravam, desde então, na legislação dos povos mais adiantados. Estave convencido de que as “novas formações” não possuíam substantividade, não se devendo-lhes injetar seiva, para que não processasse uma intervenção funesta na economia da vida social” (GOMES, 2003).
Ora, sabemos que a “moldura dos valores juridicamente relevantes” é lingüística, então, e o que parece existir na afirmação de Dias é, em última instância, a crença numa subtração de todo e qualquer poder comunicativo que possa existir na Lei (que deveria se escabele como modus, como medida) a partir da idéia pós-moderna do deslizamento contínuo do sentido, e que novos nexos, novas relações, novos sentidos, novos objetos, novos paradigmas etc., serão sempre possível de serem inventados. E a interpretação, seria infinita? Não haveria limites? Qual o destino, por exemplo, da necessária segurança jurídica? Diz-nos então Umberto Eco[16]:
Falar dos limites da interpretação significa apelar para um modus, ou seja, para uma medida. Ao lermos um texto (ou o mundo, ou a natureza como texto) podemos oscilar entre dois extremos, bem representados pelas seguintes citações:
No que te faz pensar aquele peixe?
Em outros peixes.
No que te fazem pensar os outros peixes?
Em outros peixes.
(Joseph Heller, Parágrafo, 22, XXVII)
Hamlet – Está vendo aquela nuvem com jeito de camelo?
Polônio – Pela santa missa! Parece mesmo um camelo!
Hamlet – Pois a mim parece uma doninha.
Polônio – Por trás é como uma doninha.
Hamlet – Ou como uma baleia?
Polônio – Exatamente como uma baleia.
(Hamlet, III, 2)
Essas duas versões remetem-nos a duas idéias de interpretação. A primeira, evidentemente, peca por escassa curiosidade e a escassa inclinação para a suspeita; a segunda excede nas virtudes opostas”. (ECO, 2000).
A interpretação do Direito Civil a luz da Constituição de 1988 recai (quase sempre) nas insuficiências heurísticas das duas idéias. O fato é que atualmente, de 1988 até a presente data, o debate se estabeleceu em três tempos e em três pontos fundamentais:
1- A promulgação da Constituição Federal vigente se deu em data de 05 de outubro de 1988;
2- Nessa época vigorava o Código Civil, cuja vigência se deu a partir de 01 de janeiro de 1916;
3- Atualmente esta a viger um Novo Código Civil, cuja vigência se deu a partir de 10 de janeiro de 2003 (instituído pela Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Com feito, no entendimento de Adiers, nada diminui a importância, a pertinência e a continuidade do processo de constitucionalização do Direito Civil, dado ao fato de que a elaboração substancial da atual Constituição Federal de 1988 se deu quando vigente a Constituição Federal de 1967, outorgada pelo regime de exceção, portanto, um dos objetivos da constitucionalização do Direito Civil seria desarmar os dispositivos autoritários por ventura subsistente no Código Civil de 2003. Perfeito! Nas palavras de Luiz Fernando Cabedo:
“O trabalho doutrinário é, por natureza, de jure condendo ou de lege ferenda, e é isso que se busca aqui: encontrar no tempo passado, mas nele isolar, a força justificadora de um Direito que hoje não se sustenta, mas que – infelizmente – continua a gerar feitos repressivos intoleráveis, é que a lei da inércia mental perpetua” [17].
Belo trabalho poderia ser este de constitucionalização do Direito Civil, pelos valores e princípios constitucionais consagrados na Constituição Federal de 1988: quem pode negar o valor de seus pressupostos teóricos? Mas trata-se, exatamente, disso? De fato e sem dúvida a situação fática do Direito Civil evidencia a incompletude do Código Civil, revelada pela necessidade de diplomas legais especiais disciplinando situações jurídicas específicas ou situações jurídicas particulares que antes eram objeto de regulação pelo Código Civil. Isso é uma coisa. Mas, daí, advoga Adiers, “enxergar como sendo o próprio Código o Direito Civil”, ou, então, afirmando que não se o pode ter como sustentáculo deste, é outra muito diferente. Acompanhando atentamente o movimento do andor, Adiers, afirma ser fácil perceber que “o passo seguinte seria a tentativa de desconstrução do próprio Direito Civil, sustentando que a dinâmica imposta pela sociedade moderna estaria a reclamar leis especiais” ou mesmo uma nova jurisprudência quanto às matérias objeto de disciplina por aquele, “o que o tornaria praticamente dispensável, e isto em razão de, com isso, instituírem micro sistemas no tocante às matérias reguladas no sistema consubstanciado no referido diploma civilístico”. Mas não é este o busílis da questão, e sim o fato de que o Direito Civil, como Direito da Sociedade Civil, é mais amplo, mais nômade, mais histórico, e por isso mais rico e contemporâneo que o Código, e, é, justamente, a amplitude, variedade, multiplicidade e atualidade de seus movimentos que exigem desconstruções orgânicas no Código. Mas o que, no Código, não faz ou não deveria fazer parte do Direito Civil? Vale considerar a observação de Carlos Fico de que “há relativa assincronia entre o conhecimento acadêmico sobre a ditadura – que já vai bastante avançado – e certas convicções arraigadas no senso comum, que ainda reproduz alguns mitos e estereótipos”.[18] Como consequência, “o fascismo” (autoritarismo, corporativismo, violência etc.) sobrevive na Sociedade Civil brasileira (e mesmo nas Leis), não por oposição à luta por um Estado Democrático de Direito, mas pela sua reversão. Estar do lado das forças socialmente dominante, sempre. Não arriscar os anéis, muito menos os dedos -- este é o mecanismo subjetivo que faz funcionar as reversões que levam ao fascismo. – E até então a força recorrente (em gradação máxima ou mínima, nível x ou y conforme o desenvolvimento das lutas históricas) nas soluções das grandes crises estruturais capitalistas. Com efeito, na Alemanha pós-guerra, observaria Rigaux:
“A continuidade do Estado alemão assumida pela República Federal e o repúdio de uma parte, e de uma parte somente das normas e das decisões jurídicas recolhidas na herança do III Reich, implicam a rejeição das doutrinas de identificação entre o Estado e o Direito: o segundo deixa-se dissociar do primeiro. Oriundo de uma legalidade anterior, o aparelho normativo fica exposto a um julgamento de legitimidade por instituições que declaram pertencer ao mesmo Estado”.[19]
No Brasil, os juristas da “Nova República” (Sarney e Itamar) e pós-“Nova República” (FHC, Lula, Dilma), repudiam e rejeitam apenas uma parte das normas e das decisões jurídicas aparentemente impostas à força por Atos Institucionais, mas que conservam e mantém, mutatis mutandis, também a rejeição das doutrinas de identificação entre o Estado e o Direito (daí a extrema suscetibilidade do STF e do STJ em relação à separação dos poderes da República), e revelam (para uma análise crítica histórico-jurídica), que os Atos Institucionais foram apenas “proteção de tela” para o quadro jurídico de fundo que o autoritarismo criava e criou para o controle da Sociedade Civil brasileira, que se mantém intacto, por exemplo, na LOMAN (Lei Orgânica da Magistratura Nacional -- Lei Complementar n 35 / 79 -- diploma legal do governo do General Ernesto Geisel). Compreensível! Em seu livro, “Geopolítica do Brasil”, o general Golbery do Couto e Silva saúda Thomás Hobbes como “geômetra da política”, e revela o fundamento de seu projeto de resistir às “variações conjunturais” da vida brasileira com o Leviatã. Ou seja, Golbery vê-se seduzido por um Hobbes “seduzido pela imponente clareza do monumento euclidiano, com seu sólido embasamento de postulados, de porismas e axiomas diáfanos, seus teoremas encadeados e seus corolários surpreendentes, resolveu aplicar, também, o mesmo sistema lógico-dedutivo ao domínio flutuante e incerto da Sociedade e da Política”. Compreensível era a posição do general Golbery! As “variações conjunturais” são insuportavelmente não simétricas, irregulares, descontínuas, ocasionais... São como as nuvens, as montanhas, os rios etc. Em poucas palavras, são como a superfície da terra: esburacada, irregular, cheia de fendas que, por mais comum que sejam, e são todas, uma questão de acidente, acaso, contingência, variações aleatórias. Por estas razões os princípios básicos da geometria plana e sólida expostas por Euclides, 300 anos a.C. em, em seu “Elementie”, (de 13 volumes), permanecem ainda o fundamento da geometria hoje. Por sua simetria, por sua lógica, permanecem atraentes. E seduzem. Mas a natureza é claro, (como poderíamos esquecer a natureza?), raramente se expressa de modo simétrico ou lógico. De modo que a aplicação dos princípios básicos da geometria de Euclides só se dá num universo muito limitado, pequeno... Incômoda constatação! Mas não aconteceria o mesmo com o edifício “geométrico do Direito” construído pelo Regime Militar? Portanto, Golbery, este “geômetra da política brasileira”, como foi chamado, através da Ditadura Militar tinha que dominar a produção de leis, para tal, controlar o Judiciário através do apego neurótico ao traçado sinuoso estabelecido por “regras hermenêuticas”. E durante todo o período da Ditadura podemos constatar o grande esforço político levado a intento para construir todo um ordenamento jurídico que mantivesse intacto as invenções jurídicas autoritárias e de controle social, que, paradoxalmente (?) ainda perdura e se mantém, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Na Alemanha, era tarefa da filosofia acabar com a legalidade e legitimidade de Nuremberg. As vítimas eram dolorosamente visíveis. Um escândalo macabro!... No Brasil, deveria ser tarefa da filosofia acabar com a legalidade e legitimidade dos “anos de chumbo” (que se mantém e fundamentam, por exemplo, as famosas figuras a-históricas dos “direitos adquiridos” e do “corporativismo), e que a LOMAN e evidentes ORDENS e os famosos CONSELHOS FEDERAIS expressam muito bem. No Brasil não existia a visibilidade das vítimas, elas simplesmente “desapareceram”. Portanto, nos dois casos, cabe perguntar: mas por que a filosofia do direito exilou-se para as faculdades de direito? Habermas é o mais renomado nome da segunda geração da Escola de Frankfurt, então, não é difícil imaginar que tenha sofrido alguma influência de Adorno. Chegou mesmo a ser, entre 1956 e 1959, assistente de Theodor Adorno em Frankfurt, e com certeza não perderia contato com a produção teórica do mestre. É verdade que, (observação que atribuo, salvo engano, a Marx): “O discípulo que permanece sempre discípulo, não dignifica o mestre”, quer dizer, não faz sua criação desenvolver-se e multiplicar-se, aperfeiçoando-se. Tal não se aplica a Habermas. Mesmo assim parece-me razoável supor que o texto de Adorno sobre a “Educação após Auschwitz” seja um dos intertexto da observação de Habermas ao aceitar a verificação de Hassener. Adorno tem absolutamente razão: Auschwitz “foi a barbárie, a qual toda educação se opõe”. No “Prefácio à edição alemã”, (de “Palavras e Sinais: modelos críticos 2), escrito em junho de 1969, Adorno observou:
“É de se destacar, enfaticamente, que a educação após Auschwitz só poderia ser bem sucedida em um ordenamento geral que não produzisse o tipo de relações e de pessoas que foram responsáveis por Auschwitz. Aquele ordenamento ainda não se modificou; é fatal que aqueles que querem tal mudança se obstinem contra ela” (ADORNO, 1969).
Escapa-nos a esperança de que o ordenamento jurídico brasileiro não produza mais o tipo de relações e de pessoas que foram responsáveis pelo ordenamento jurídico dos atos, leis e sentenças da Ditadura Militar? Não, claro que não, apenas preocupa-nos que a onda continua sendo a adaptação das leis e dos Códigos as reivindicações conjuntural e meramente casuísticas atendendo exclusivamente os interesses dos movimentos “culturais” e “políticos” de “tempos líquidos” (Baumann)... E também indica que não podemos confiar mais a Administração da Justiça exclusivamente aos advogados. (Walter Aguiar Valadão, Venda Nova do Imigrante, 15 de julho de 2014).
REFERENCIAS
[1] GOMES, Orlando, “Raízes históricas do código civil brasileiro”, São Paulo: Martins Fontes, 2003. – (Justiça e Direito).
[2] ADIERS, Moacir, “Constitucionalização do Direito Civil: um antigo novo tema”, in, “A constitucionalização do Direito/ Anderson Vichinkeski Teixeira... [et al.]; coordenação Anderson Vichinkeski Teixeira e Luís Antônio Longo, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008.
[3] FRANÇA. R. Limonge, “Hermenêutica Jurídica”, 3º ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 1994.
[4] VOLTAIRE, (1694-1778), “O preço da Justiça”, apresentação Acrísio Tôrres, tradução Ivone Castilho Benedetti, 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006 – (Voltaire vive).
[5] NARLOCH, Leandro, “Guiar politicamente incorreto de história do Brasil”, São Paulo: Leya, 2009.
[6] TOBIAS, José Antonio, “História das idéias no Brasil”, São Paulo: EPU, 1987.
[7] VITA, Luís Washington, “Panorama da filosofia no Brasil”, Porto Alegre: Editora Globo, 1969.
[8] PINHEIRO, Ralph Lopes, “História resumida do Direito”, 3ª Ed., ver. Ampl., Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1983.
[9] BARRETO, Vicente, “Primórdios e ciclo imperial do liberalismo”, in, “Evolução do pensamento político brasileiro”,Vicente Barreto e Antonio Paim, - Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1989 (Coleção Reconquista do Brasil, e série; v.150).
[10] CHIAVENATO, Júlio José, “O negro no Brasil: da senzala à Guerra do Paraguai”, 4. ed., São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.
[11] Cf. TOBIAS, José Antônio, “História das idéias no Brasil”, São Paulo: EPU, 1987.
[12] CICCO, Cláudio, “Direito: tradição e modernidade”, São Paulo: Ícono, 1993.
[13] BILLIER, Jan-Cassin. MARYIOLI, Aglaé, “História da filosofia do direito”, tradução de Maurício de Andrade, Barueri, SP: Manole, 2005.
[14] Cf. SANTOS, Boaventura de Souza, “Onze teses por ocasião de mais uma descoberta de Portugal”, in “Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade”, 4. ed., São Paulo: Cortez, 1997.
[15] DIAS, Maria Berenice, “Manual de direito das famílias”, e.ed.rev., - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
[16] ECO, Umberto, “Os limites da Interpretação”, tradução Pérola de Carvalho, São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. (Coleção Estudos, dirigida por J. Guinsbrug).
[17] CABEDA, Luiz Fernando, “A justiça agoniza: ensaio sobre a perda do vigor, da função e do sentido da justiça no poder judiciário”, São Paulo: Editora Esfera, 1998.
[18] FICO, Carlos, “Alem do golpe: a tomada do poder em 31 de março de 1964 e a ditadura militar”, Rio de Janeiro: Record, 2004 - cf. “Apresentação”).
[19] RIGAUX, François, “A lei dos juízes”, tradução Edmir Missio, revisão da tradução Maria Ermantina Galvão; revisão técnica Gildo Leitão Rios, Sâo Paulo: Martins Fontes, 2000 (Justiça e Direito).
Elaborado em julho/2014
Walter Aguiar Valadão
Bacharel em História (UFES),Pós-graduação Lato Senso em Direito Público (UFES), Mestre em Direito Internacional (UDE, Mtv., Uy)... etc.Professor universitário.
Código da publicação: 3200
Como citar o texto:
VALADÃO, Walter Aguiar..SURF JURÍDICO Sobre as raízes históricas, sociológicas e políticas das idéias do Di-reito Civil Brasileiro na onda da constitucionalização. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 22, nº 1191. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-civil/3200/surf-juridico-as-raizes-historicas-sociologicas-politicas-ideias-di-reito-civil-brasileiro-onda-constitucionalizacao. Acesso em 1 set. 2014.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.