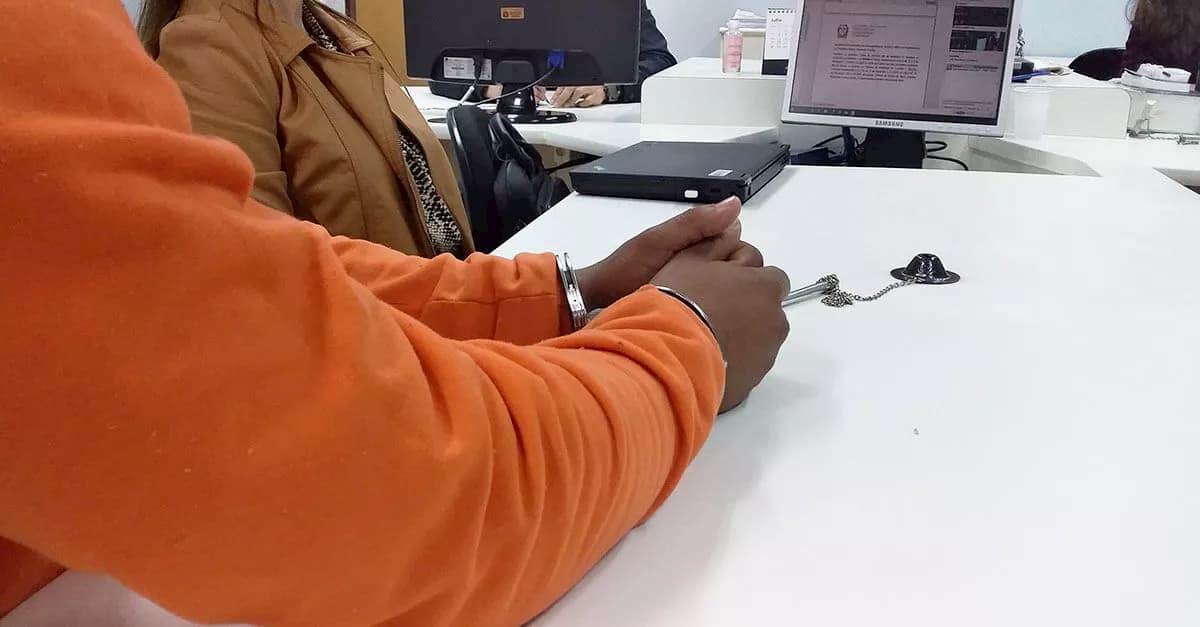SUMÁRIO - Introdução - 1. A defesa do consumidor no ordenamento jurídico brasileiro: 1.1. O Código Civil de 1916; 1.2. O "Código de Defesa do Consumidor" como microssistema: 1.2.1. Alguns conceitos no Código de Defesa do Consumidor - 2. Os limites de incidência do "Código de Defesa do Consumidor" em relação aos contratos bancários: 2.1. Os financiamentos destinados ao consumo: 2.1.1. Crédito direto ao consumidor; 2.1.2. Contrato de abertura de crédito em conta-corrente; 2.1.3. Cartão de crédito - 2.2. Os Financiamentos destinados à produção de bens/serviços: 2.2.1. Crédito comercial e industrial; 2.2.2. Crédito rural; 2.2.3. Leasing; 2.2.4. Algumas considerações sobre o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor - Teses selecionadas para votação no Congresso.
INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 deu o primeiro passo no sentido de uma proteção mais concreta do consumidor no Brasil, prevendo, entre os Direitos e Garantias Fundamentais, a defesa do consumidor (artigo 5º, XXXII). Mais adiante, no artigo 170, V, a defesa do consumidor também foi incluída entre os princípios básicos da ordem econômica. E assim, em virtude do que ficou programado pelo constituinte (artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT), surgiu a Lei nº 8.078, de 11.09.90, para dar regramento específico às relações de consumo. Entre os contratos atingidos pelo fenômeno da massificação estão os contratos bancários que são, talvez, o seu melhor exemplo. O tema do presente estudo é a situação dos mútuos e demais contratos bancários que envolvem alguma forma de prestação de crédito, a partir da criação do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre esses contratos incidem normas do Direito Civil, Comercial, Administrativo, Penal e outras. Normas de caráter geral e normas específicas. Normas de hierarquia diversa, indo desde a Constituição até resoluções e portarias de órgãos públicos. Como se dá, então, a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre esse tipo de contrato? A doutrina não é unânime. Há quem diga que somente os contratos que envolvem serviços bancários foram afetados pelo novo Código. Outros, ao contrário, afirmam que todas as normas específicas que até 1990 regiam esses contratos foram revogadas pela nova lei, a qual passou a incidir, inclusive, sobre os mútuos e demais financiamentos concedidos pelas instituições financeiras. Esse é o tema; esse é o desafio. Antes de enfrentá-lo, porém, precisamos compreender melhor o processo histórico que resultou no surgimento de leis especiais, entre as quais estão as leis protetivas do consumidor.
O grande marco do Direito moderno é o Código Civil francês, de 1804. Antes do Code Civil, não se sabe de nenhum outro "Código" com as suas características. Podemos dizer que o código surge como um diploma legal onde se procura incluir todas as normas jurídicas aplicáveis a um determinado ramo das relações jurídicas. Assim, temos o Code Civil como um "sistema de Direito Privado"; um sistema hermético, no qual não se admite outra fonte que não seja a própria lei; um Código completo e auto-referente, onde não há lacunas a serem completadas(1). A liberdade é vista como liberdade natural, e só a vontade do homem livre a pode restringir. Logo, a lei, concebida como expressão da vontade livre, assume papel importantíssimo no panorama jurídico, e tal doutrina acaba por se reproduzir, também, no Direito contratual.
A partir do Code Civil, o Direito reconhece no indivíduo capacidade para não apenas escolher um tipo contratual, mas, principalmente, para definir o conteúdo do contrato. O foco de investigação deslocou-se dos tipos contratuais para "o contrato". Subsistem os tipos, todavia, surge uma "Teoria Geral do Contrato" e princípios gerais, entre os quais está o princípio da autonomia da vontade, que passa a ocupar posição de destaque nesse ramo do Direito. Sendo o contrato a consubstanciação de um relacionamento entre indivíduos dotados de vontade livre, ele passa a ser visto como lei entre as partes. O Direito contratual, portanto, limita-se a proteger a sacralidade(2) do pacto e corrigir defeitos derivados, tão-somente, dos vícios de vontade. Na abóbada dessa construção, temos o nosso tão conhecido pacta sunt servanda.
No século XIX, do ponto de vista ideológico, praticamente não se vê nenhuma oposição ao liberalismo. O século XX, ao contrário, é marcado pela explosão de ideologias que com ele passam a dividir espaço. A democracia cristã, o socialismo, o comunismo; ideologias mais conservadoras, reacionárias, e movimentos de vanguarda, exigindo mudanças estruturais. De qualquer forma, os postulados liberais aplicados aos contratos e ao Direito obrigacional como um todo não se adaptam, nem mesmo ao novo modelo econômico capitalista, pois o volume de transações torna inviável a negociação particularizada. As políticas empresariais e o forte poderio econômico dos monopólios acabam por forçar uma imposição de cláusulas, segundo interesses muito bem definidos, previamente, por apenas uma das partes. O indivíduo (que ainda é considerado como detentor de uma vontade livre) vê-se impelido a vincular-se a esse contrato ou pelas necessidades normais do cotidiano, ou pela força de convencimento das novas técnicas de marketing, independente de estar exercendo, ou não, a sua "vontade autônoma".
Em outros casos, principalmente em relação aos serviços públicos, a contratação era obrigatória. Como se falar, então, em autonomia da vontade? Tais indagações revelam uma verdadeira "crise da teoria contratual clássica". O mito do código sem lacunas, que consegue reger todas as relações jurídicas, passa a ser objeto de muitas críticas. No Direito contratual, as críticas são dirigidas ao voluntarismo previsto no código, que não atende mais a todas as formas de "contrato". Pouco a pouco, na própria França e em outros países, alguns juristas dão início a uma série de questionamentos sobre a validade do modelo contratual consagrado pelo Code Civil. Dentre eles, salienta-se a figura de Raymond Saleilles, do qual herdamos a expressão contrats dadhesion (contratos de adesão). Bem no início do século XX (1909), o jurista francês publica uma obra na qual ele questiona a validade dos postulados oitocentistas, frente a uma gama extraordinária de novas modalidades contratuais. Para Saleilles, não se pode falar em vontade autônoma quando a liberdade contratual do indivíduo se limita a aceitar as cláusulas elaboradas pela outra parte. Se o aderente não estiver de acordo com tais estipulações unilaterais, frustra-se o negócio. Na verdade, não há propriamente uma negociação; há, sim, uma imposição. Em vista disso, a circunstância de unilateralidade, para Saleilles, deveria ser considerada quando da interpretação das cláusulas contratuais.
Na busca de instrumentos adequados a reger os mais diversos tipos de vínculo contratual e pela incidência de ideologias sociais no pensamento político e jurídico, o Estado (ainda com o monopólio da produção jurídica) passa a intervir de forma mais intensa nas relações privadas. Agora não mais para garantir o cumprimento dos pactos, mas para permitir que as distorções sejam amenizadas. A pretensa neutralidade do Estado Liberal Moderno cede lugar a uma intervenção mais efetiva na ordem econômica, fenômeno do século XX. É assim que durante todo este século se vem desenvolvendo outro processo que, como o próprio nome sugere, repete os problemas e traumas que marcaram a codificação do Direito, mas agora em sentido oposto. Referimo-nos ao fenômeno, assim chamado, da "descodificação"(3). Surgem leis especiais sobre os mais diversos assuntos: relações de trabalho, inquilinato, divórcio, atuação de instituições financeiras, etc. Nesse universo de leis especiais, surgem, também, as leis de defesa do consumidor.
Feitas estas observações iniciais, podemos passar a analisar a questão no Direito brasileiro, e assim chegaremos a compreender o tipo de relacionamento existente entre a Lei nº 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, e os contratos bancários. Na medida em que o Código de Defesa do Consumidor traz profundas alterações, cumpre-nos, primeiramente, definir os limites de sua incidência, enquanto "microssistema", no ordenamento jurídico pátrio. Em um segundo momento, procuraremos analisar alguns contratos bancários à luz das conclusões deduzidas na primeira parte deste estudo.
1. A DEFESA DO CONSUMIDOR NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
1.1. O Código Civil de 1916
O Código Civil brasileiro, um dos primeiros códigos do século XX, nasceu no momento em que os debates ideológicos na Europa se tornam mais exaltados. No entanto, não houve aqui o mesmo tipo de debate. Explica-se tal fato pela estrutura política, econômica e cultural do País naquele momento. A economia brasileira baseava-se na exportação dos produtos agropecuários e no comércio de bens de consumo, importados, sobretudo, da Europa. A indústria nacional só iria sentir um impulso mais vigoroso a partir da primeira guerra mundial. Também não podemos esquecer que o Código Civil brasileiro viria para revogar uma legislação fiel, em linhas gerais, às Ordenações, uma compilação de leis iniciada em 1603, que vigorou no Brasil mais tempo do que em Portugal, sua nação de origem. Algumas novidades do Código visavam a implantar aqui os melhores instrumentos jurídicos da Europa liberal - modelo de cultura para a elite urbana de então -, ocasionando certa resistência por parte dos "senhores rurais". Mas, em nenhum momento, chegou-se ao ponto de abordar questões de cunho social como as que eram propostas nas academias européias durante os primeiros anos do novo século. Só depois da primeira guerra, com o crescimento da indústria nacional, alguns pontos nevrálgicos recebem maior atenção. A matéria de contratos, no entanto, permanecia incólume; exceção feita a intervenções localizadas que, como exceção, confirmam a regra.
1.2. O "Código de Defesa do Consumidor" Como Microssistema
Diferente é a situação atual em que, via de regra, os contratos são balizados por leis especiais. Além disso, o Poder Público tem feito intervenções freqüentes, quase de forma periódica, alterando contratos em vigor. Nesse contexto, surge a nova ordem constitucional que prevê a defesa do consumidor como um dos objetivos do Estado brasileiro e insere essa disposição entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, inciso XXXII). Na forma da lei, afirma o constituinte, deverá o Estado promover a defesa do consumidor. Fora do prazo previsto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mas ainda em tempo de ordenar as relações de consumo, é elaborado o "Código de Defesa do Consumidor", verdadeiro "microssistema" dentro do ordenamento jurídico pátrio.
Um dos doutrinadores que melhor tratou do fenômeno da descodificação no Brasil foi Orlando Gomes. Na obra em homenagem a outro grande mestre (o professor Caio Mário da Silva Pereira), ele deixou as suas impressões sobre a proliferação das leis especiais em nosso ordenamento, as quais reputa verdadeiros microssistemas. Sobre o caráter desses diplomas legais e sua relação com o Código Civil, afirma: "Constituem distintos universos legislativos, de menor porte, denominados por um autor, com muita propriedade, microssistemas, tal como sucede, por exemplo, com o regime das locações. Estes microssistemas são refratários à unidade sistemática dos códigos porque têm a sua própria filosofia e enraízam em solo irrigado com águas tratadas por outros critérios, influxos e métodos distintos."(4)
Em 1984, quando foi publicado tal artigo, o professor catedrático da Universidade da Bahia, que se notabilizou pela erudição no tratamento de questões relativas ao Direito contratual, por óbvio, não tinha em mente o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, as suas observações são extremamente adequadas ao novo estatuto do consumidor, na medida em que ele se apresenta como um microssistema que tem as justas características apontadas pelo mestre. Uma análise mais detalhada dos artigos do Código de Defesa do Consumidor revelará dispositivos de Direito Administrativo e de Direito Penal, convivendo com normas que regulam a atividade contratual, publicidade, etc. Em todos esses ramos do Direito, não encontramos normas equivalentes, e tal fato reforça a tese de que a Lei nº 8.078/90 se constitui em um verdadeiro microssistema, de acordo com as ponderações feitas acima. Desse fato, conclui-se que "há um tipo especial de relação jurídica a ser disciplinada pelo novo Código". E é no próprio Código de Defesa do Consumidor, enquanto lei especial, que encontramos as primeiras pistas para se descobrir o âmbito de sua incidência.
Antônio Herman Benjamin, um dos mais destacados juristas na matéria do Direito do Consumidor, observa que "é a definição de consumidor que estabelecerá a dimensão da comunidade ou grupo a ser tutelado e, por esta via, os limites de aplicabilidade do Direito especial. Conceituar consumidor, em resumo, é analisar o sujeito da relação jurídica de consumo tutelada pelo Direito do Consumidor"(5). Sendo matéria de ordem pública (artigo 1º) e por conter normas de caráter penal, administrativo, contratual, etc., o Código de Defesa do Consumidor também requer uma conceituação inequívoca de seus destinatários. O fato importante é que, na medida em que o legislador lançou mão das definições em uma lei especial, estas devem ser entendidas dentro do sistema da própria lei, sendo, portanto, delimitadoras de sua incidência.
Em outros países que antecederam o Brasil na promulgação de leis protetivas, optou-se por definir (e proteger) ou a pessoa, ou a relação de consumo. Na Venezuela, por exemplo, as normas protetivas não contemplam uma definição de consumidor(6). Nesse caso, incumbe à doutrina e à jurisprudência definirem o destinatário da norma. Em outros países, a proteção ao consumidor é diferenciada, dependendo do ramo de atividade onde o produto ou serviço está inserido. Assim, o conceito de consumidor varia de uma lei para outra, considerando as especificidades de cada ramo da atividade econômica que se está a regular. Um exemplo dessa forma de conceituação do consumidor é o Direito norte-americano(7). Já em outros ordenamentos não achamos uma definição clara sobre a relação de consumo. Optou-se, isto sim, por uma abrangência maior, na defesa do homem moderno frente ao poderio dos grandes grupos econômicos, incluindo-se não só os atos de consumo, mas, também, a defesa de interesses difusos, tais como a proteção ambiental.
O legislador brasileiro definiu consumidor, inserindo, nessa definição, elementos que estão relacionados com a relação de consumo: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." (artigo 2º, caput). E mais adiante usou a técnica de equiparações na tentativa de alargar a incidência do Código. Esse conceito, na verdade, é reflexo do ecletismo brasileiro que se pode constatar, de forma muito acentuada, no ordenamento jurídico. "Toda pessoa física ou jurídica" diz respeito ao conceito de consumidor; enquanto que a segunda parte do caput (artigo 2º) está definindo a relação de consumo protegida pelo Código. Especialmente salientamos a expressão "destinatário final", a qual é a nota distintiva que nos possibilita separar as relações de comércio, entre profissionais, dos atos de consumo.
Toshio Mukai, ao comentar o artigo 1º, afirma que "quanto à finalidade, a norma restringiu-se à destinação final, e, sendo assim, temos apenas o consumidor denominado privado, pela doutrina, ficando alijada a figura do consumidor profissional ou industrial, ou, ainda, intermediário"(8). Pouco antes, ele observa a dificuldade de se conceber um consumidor pessoa jurídica, valendo-se dos ensinamentos de Antônio Herman V. Benjamin para melhor explicar o problema. Da obra citada por Mukai, achamos conveniente reproduzir aqui algumas linhas: "Como já mencionamos antes, a amplitude de uma definição de consumidor que inclua a pessoa jurídica entre seus tutelados - e sem qualquer ressalva - pode-se transformar em óbice ao desenvolvimento do Direito do Consumidor, na medida em que tal conceito jurídico de consumidor quase que chega a se confundir com o seu similar econômico (excluindo-se deste último, evidentemente, o consumidor intermediário). Em outras palavras: se todos somos consumidores (no sentido jurídico), inclusive as empresas produtoras, por que, então, tutelar-se, de modo especial, o consumidor? Também tem sido apontado na doutrina majoritária estrangeira que tão amplo conceito, de certo modo, desvia a finalidade do Direito do Consumidor, que é proteger a parte mais fraca ou inexperiente na relação de consumo."(9)
As observações muito oportunas de Herman Benjamin nos reportam a uma discussão que está na base do tema ao qual nos propomos a tratar: Todos os contratos bancários são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor? A resposta só é possível na medida em que entendermos esse diploma legal como um microssistema, cujos contornos são marcados pelas definições básicas nele inseridas.
1.2.1. Alguns conceitos no Código de Defesa do Consumidor
Uma das maiores dificuldades para o jurista, ante a tarefa de classificação ou conceituação, é saber dosar o elemento jurídico com aspectos econômicos, culturais, sociais, etc., que expressam valores da sociedade em que a norma se insere. De um lado, o jurista não pode olvidar-se de elementos (em princípio) estranhos ao Direito, os quais podem ter grande influência em determinados casos. Por outro lado, também não pode esquecer-se que a norma legislada é fruto de uma opção política. Logo, um conceito adotado por essa lei poderá servir para restringir ou alargar as possibilidades de sua incidência, ainda que em outras áreas tal conceito tenha abrangência maior ou menor.
Do ponto de vista meramente econômico, aquele que usa um produto (ou serviço) é consumidor, independente do uso que ele dará ao bem adquirido. Ainda assim, para alguns fins (normalmente estatísticos), faz-se a classificação dos consumidores em "consumidor final" e "consumidor intermediário"; e essa divisão, embora irrelevante para as ciências econômicas, tem muita importância para o Direito do Consumidor. Para Herman Benjamin, o Direito do Consumidor não se ocupa do consumo intermediário, mas apenas do "consumo final"(10). Dessa forma, a noção econômica demonstra-nos que há uma diferença, mas não nos revela o ponto importante que define o conceito jurídico. Continuando, ele explica a questão, de maneira muito precisa, ao afirmar que "em termos estritamente econômicos, o produtor também é consumidor, já que, no processo de produção, se utiliza de produtos ou serviços fornecidos por outros. Contudo, o conceito jurídico de consumidor não aceita tal amplitude e se prende a limites mais restritos"(11). É assim que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor fala em consumidor "como destinatário final".
Aqui, sim, os conceitos econômicos nos serão de grande valia. Sabemos bem que no início da cadeia produtiva estão as matérias-primas para todos os produtos ou serviços. Mas e quanto às demais fases da produção, em que diversos elementos vão sendo agregados ao produto, e muitos deles desaparecem em prol do beneficiamento que se está efetuando? Já vimos que aqueles que utilizam esses bens são considerados consumidores intermediários. Portanto, ainda não chegamos a completar todo o ciclo produtivo. Vamos descobrir que esses materiais (ou mesmo serviços) utilizados em atividades de aperfeiçoamento ou transformação são "insumos" que passam a integrar o produto final. Logo, um mesmo bem ou serviço pode ser visto ora como insumo, ora como produto final. É o caso do combustível, que mencionamos acima, utilizado em veículos de transporte ou em máquinas de uma fábrica, onde é insumo; e utilizado, igualmente, em carros de passeio, onde é produto final. O ponto importante é "a destinação dada ao produto, por parte daquele que o adquire".
De posse desses dados, pode-se entender melhor os conceitos existentes no Código de Defesa do Consumidor. Consumidor, portanto, recebe o adjetivo "destinatário final". O bem (ou serviço) é bem de consumo; e o fornecedor não é somente aquele que fabrica um produto ou presta um serviço, mas abrange todos os que de alguma forma participaram na elaboração ou comercialização do mesmo, até que ele chegue ao verdadeiro consumidor. Os artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor reforçam a tese de que o novo Código colocou, no mesmo pólo da relação, todos os que participaram da produção e comercialização dos bens de consumo. Aquele que ressarce o consumidor pelo dano causado tem direito de regresso contra o verdadeiro culpado (culpa em sentido subjetivo), mas aí já estamos em outra esfera. Note-se que a responsabilidade perante o consumidor é totalmente objetiva; independe de culpa. Já, o relacionamento entre os "fornecedores" responsáveis solidariamente, tem solução diversa. O Código de Defesa do Consumidor apenas faz referência a um direito de regresso, sem definir quando ou como será exercido tal direito. Logo, essa outra relação jurídica que surge deve reger-se pelo sistema do Código Civil.
A doutrina parece ser unânime em afirmar que não se deve alcançar os instrumentos protetivos do Código de Defesa do Consumidor àqueles que utilizam bens ou serviços em atividade profissional. A exceção fica por conta da doutrina maximalista, que não se prende ao aspecto finalístico na determinação do conceito de consumidor. Nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, o referido alargamento causaria uma tremenda incoerência no sistema de defesa do consumidor inaugurado com o Código. O comerciante que adquiriu uma determinada máquina, a qual vem a causar dano a terceiros, não poderá eximir-se da responsabilidade alegando que ele também foi prejudicado pelo evento. Se lhe fosse dada essa possibilidade, restaria completamente conturbado o sistema protetivo do Código, pois, como impor ao réu um ônus de ressarcir, quando ele próprio é consumidor em relação à indústria fornecedora? Na verdade, esse comerciante adquiriu tal produto como um insumo a ser utilizado em sua atividade lucrativa. Falta-lhe, portanto, a qualidade de "destinatário final".
Nesse sentido, podemos citar a opinião de Maria A. Zanardo Donato que, referindo-se aos conceitos jurídico e econômico de consumidor, afirma: "Verifica-se a estreita ligação existente entre os dois conceitos - legal e econômico -, pois o consumidor também é naquele considerado a pessoa que obtém bens de produção como destinatário final para a satisfação de suas próprias necessidades, e não com vistas à circulação do bem produzido."(12) Igualmente, o parecer de Toshio Mukai, já citado anteriormente, exclui os "consumidores intermediários": "Quanto à finalidade, a norma restringiu-se à destinação final, e, sendo assim, temos apenas o consumidor denominado privado, pela doutrina, ficando alijada a figura do consumidor profissional ou industrial, ou, ainda, intermediário."(13)
Abusando da obra de Antônio Herman V. e Benjamin, justamente pela profundidade com que desenvolveu sua pesquisa e pela clareza com que apresentou suas conclusões, citamos mais alguns trechos do artigo donde se conclui ter ele a mesma posição: "Por fim, é de se salientar que não é qualquer aquisição que configura ato de consumo. Adquirir para transformar ou para revender não é, evidentemente, ato de consumo, no sentido que lhe empresta o Direito do Consumidor. A aquisição que visa a um fim profissional não é ato de consumo na acepção jurídica. Ato profissional opõe-se a ato de consumo(14). "Que as pequena e média empresas, com seus fins lucrativos, também necessitam de tutela especial, tal não se contesta aqui. Entretanto, reconhecer que a microempresa, quando adquire bens e serviços fora de sua especialidade e conhecimento técnicos, o faz em condições de fragilidade assemelhadas às do consumidor individual ou familiar, não implica dizer que aquela se confunde com este. O fim lucrativo os divide. Do mesmo modo a atividade de transformação que é própria do consumidor (no sentido econômico) intermediário. Além disso, os meios existentes à disposição da pessoa jurídica lucrativa para defender-se mais acentuam a diferença entre esta e o consumidor final, individual ou familiar."(15)
Além dessas conclusivas opiniões sobre o conceito de consumidor, o mesmo jurista ainda reproduz as posições de outros respeitáveis doutrinadores em relação aos ordenamentos jurídicos de seus respectivos países. Em quase todos os lugares onde existe efetiva defesa do consumidor, esses doutrinadores afirmam que há uma tendência de limitar a incidência das leis protetivas ao "consumidor final". É o caso do jurista belga, Thierry Bourgoignie, para o qual "consumidor será toda pessoa individual que adquire ou utiliza, para fins privados, bens e serviços colocados no mercado econômico por alguém que atua em função de atividade comercial ou profissional"(16). Sobre essa relação entre profissional e não-profissional, ele esclarece, mais adiante, que "a relação de consumo não ocorre entre só comerciantes ou entre particulares apenas"(17).
Benjamin informa-nos, também, que na lei espanhola, de 1984, se optou por uma definição positiva e outra negativa. A definição negativa, literalmente, exclui do conceito de consumidor e usuário "quem, sem se constituir em destinatário final, adquire, utiliza ou consome bens ou serviços com o fim de integrá-los em processos de produção, transformação, comercialização ou prestação a terceiros (artigo 1º, 3)"(18). Quanto ao Direito norte-americano, Herman Benjamin faz uma descrição de várias leis (acts) sobre a matéria e, ao citar a lei do Estado de Ilinois, faz o seguinte comentário: "Logo, o comerciante e até mesmo o produtor rural estariam fora dos limites de tal definição sempre que adquirissem bens para outros fins que não para seu uso pessoal ou por membro da família."(19)
Mais especificamente quanto aos contratos que envolvem concessão de crédito, temos a valiosa contribuição de José Reinaldo de Lima Lopes, o qual fez um apanhado das disposições existentes em outros ordenamentos(20). Na União Européia, por exemplo, existe uma Diretiva do Conselho tratando do assunto (Decreto nº 87/102, emendada pela Diretiva nº 90/88, de 22.02.90). Quanto ao nosso tema, podemos citar que a diretiva faz diferença entre "crédito de grande porte" e "crédito ao consumo". Para não deixar dúvidas quanto ao significado dessa diferença, a diretiva ainda define o consumidor como sendo "a pessoa natural que age com fins externos (estranhos) à sua atividade profissional", artigo 1º, 2ª. Como é normal, devido à sua natureza, essa diretiva se encontra reproduzida nos ordenamentos jurídicos dos países que compõem a União Européia. Dentre eles, aquele autor menciona alguns exemplos, dos quais citamos dois. Na França, Lopes destaca a Lei de 31.12.89 (nº 89/1010), que dispõe sobre endividamento de consumidores, a qual foi incorporada à Lei de 26.07.93 (nº 93/949), o chamado "Código de Consumo". O artigo 331 daquela lei institui uma comissão encarregada de investigar os casos de superendividamento, prevendo formas de solução para o endividamento de consumidores de "boa-fé, pessoa física, para seus débitos não-profissionais " (artigos 331-2)(21). Em Portugal, a matéria é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 359/91, de 21.09.91, o qual se aplica a "créditos concedidos a pessoas singulares, fora de sua atividade comercial ou profissional "(22).
O Código de Defesa do Consumidor também define "fornecedor", "produto" e "serviço". O artigo 3º dispõe que: "Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços." Como se vê, o conceito de fornecedor foi elaborado para dar grande abrangência, de forma a que toda atividade lucrativa possa ser atingida pelos dispositivos do Código. O fim lucrativo da atividade, embora não expresso no caput do artigo 3º, representa o único item capaz de distinguir as pessoas jurídicas enquanto fornecedores ou consumidores. Tal pensamento é reforçado pelo disposto no § 2º, ao definir "serviço": "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração (...)." A expressão grifada refere-se, justamente, ao fim lucrativo da atividade que deve ser considerada como serviço, para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Além de distinguir o serviço prestado por um "fornecedor" da atividade decorrente de relações trabalhistas, fica reforçada a tese de que a "remuneração" à qual se referiu o legislador, tem a ver com o fim lucrativo, o qual caracteriza o fornecimento de bens ou serviços no sistema da Lei nº 8.078/90.
A maior parte dos juristas que se dedica ao estudo desse ramo do Direito opina que foi infeliz a inserção das pessoas jurídicas no conceito de consumidor. Já tivemos oportunidade de fazer alguns comentários sobre esse ponto, acima. Apenas acrescentamos que as fundações e associações (sem fins lucrativos) seriam, talvez, as únicas pessoas jurídicas capazes de ostentar a condição de consumidor. Isto porque todas as pessoas jurídicas que exercem atividade lucrativa dificilmente estariam adquirindo um bem ou serviço como destinatários finais. De forma direta ou indireta, esses bens ou serviços irão contribuir para o incremento de sua atividade na busca do lucro; e isto as impede de se valerem do Código de Defesa do Consumidor como se consumidores fossem. Quanto ao fornecedor pessoa física, a ordem se inverte. A regra é ver a pessoa física como consumidor, e só por exceção ele será fornecedor. Mais uma vez, a atividade com fins lucrativos serve de elemento definidor. Os exemplos vistos em obras doutrinárias normalmente se repetem, apontando o caso em que um indivíduo está na condição de consumidor ao adquirir bens (ou serviços) para seu uso particular ou de sua família. E depois, o mesmo indivíduo, ao exercer sua profissão (profissional liberal, produtor rural, etc.), figura como fornecedor, na forma prescrita pelo Código de Defesa do Consumidor.
No conceito de produto, não acharemos maiores dificuldades. O Código é muito claro ao definir como produto "qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial". E, como serviço, "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." Pela primeira vez, vemos a menção explícita aos serviços de natureza bancária. Logo, pela simples leitura do § 2º do artigo 3º, já partimos da premissa de que as atividades bancárias não foram excluídas da incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Resta-nos, no entanto, a dúvida sobre que tipo de atividade e, sobretudo, que tipo de contratos bancários são atingidos pelo Código. Não podemos esquecer os pontos já definidos, sobre a natureza das relações de consumo. Fazendo uma aplicação do princípio finalístico (que informa o conceito de consumidor) ao produto ou serviço que vem definido pelo Código, podemos afirmar que o produto/serviço intermediário também não se enquadra no sistema do Código de Defesa do Consumidor.
Como bem exp
José Gustavo Souza Miranda
Advogado militante no Estado do Rio Grande do Sul.Código da publicação: 122
Como citar o texto:
MIRANDA, José Gustavo Souza..A Defesa do consumidor e os contratos bancários de crédito. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 31, nº 1. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-do-consumidor/122/a-defesa-consumidor-os-contratos-bancarios-credito. Acesso em 30 jan. 2000.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.