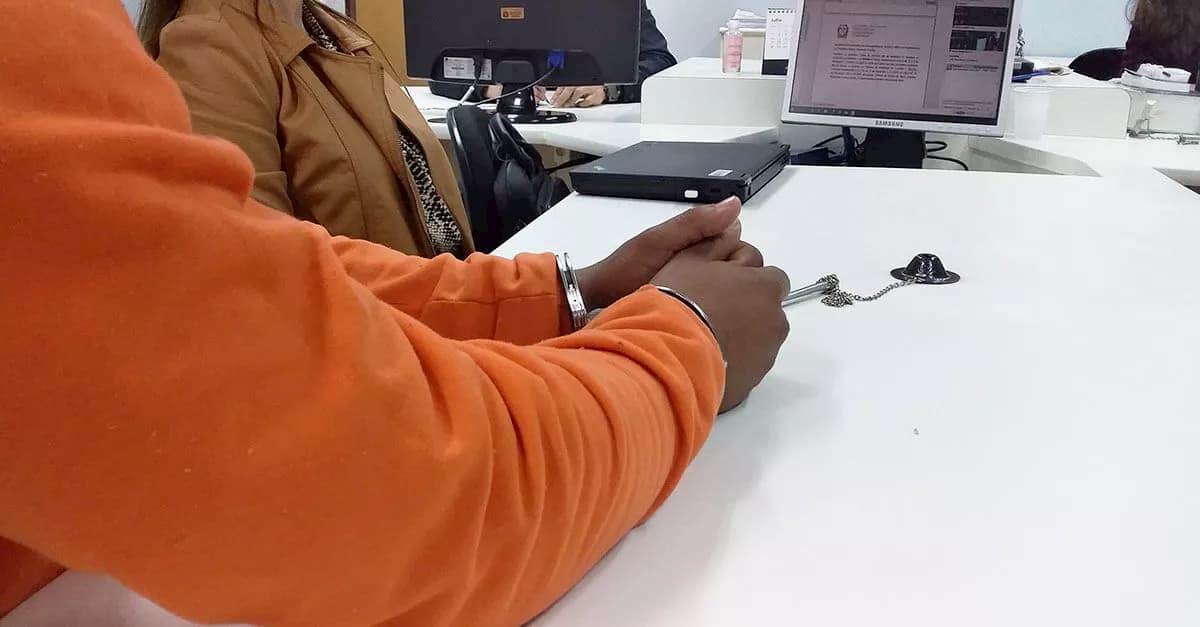RESUMO
Trata-se de monografia na área do Direito Processual Coletivo, sendo que o problema central é a questão da extensão da coisa julgada no processo coletivo, tendo como marco teórico a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas. Visando encontrar uma solução adequada ao Estado Democrático de Direito, foi realizada uma análise, através de pesquisa bibliográfica, da evolução histórica do processo coletivo ao demonstrar a sua origem no Direito Romano, o seu desenvolvimento no sistema de Common Law, o seu fortalecimento no Estado Social e o seu surgimento no Brasil. Buscou-se, ainda, apresentar as principais teorias sobre a coisa julgada e os limites da mesma no plano do processo civil individual, enfatizando-se o Direito Contemporâneo. Ademais, após esse estudo doutrinário, foi realizada uma análise da legislação brasileira sobre processo coletivo, especialmente no tocante a três temas que estão diretamente interligados: objeto, legitimidade e coisa julgada. Tal delineamento foi fundamental para o entendimento das críticas trazidas pela Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, que combate o modelo de legitimação para agir concebido na legislação brasileira, defendendo a participação ativa dos interessados difusos nas ações coletivas. Conclui-se, ao final, diante dessa teoria, que os efeitos erga omnes da coisa julgada só terão validade se a mesma advier de um processo coletivo em que o contraditório foi permitido a todos os interessados no bem tutelado.
Palavras-Chave: Processo Coletivo; Coisa Julgada; Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas.
1 INTRODUÇÃO
No âmbito de uma sociedade complexa, multifacetada, contemporânea, a existência de conflitos que envolvam um número indeterminado de pessoas é crescente, o que demonstra a importância do estudo do processo coletivo.
Tem-se como origem remota do processo coletivo a Ação Popular do Direito Romano. Entretanto, o que se percebe é que desde a Roma Antiga a prioridade foi o estudo do processo civil individual.
Os direitos coletivos somente começaram a ser valorizados a partir do Estado Social, alternativa trazida para crise do paradigma constitucional do Estado Liberal.
Ante a crise, no final do século XIX, provocada pela Revolução Industrial, os ideais liberais, que priorizavam os direitos individuais, passaram a ser questionados. O que houve foi a organização dos indivíduos, em grupos, categorias e sindicatos devido aos conflitos de massa.
A desigualdade social gerada pela política do Estado Mínimo fez com que surgissem teses voltadas para o coletivo.
Foi nesse contexto que surgiu o socialismo Marxista, que criticava de forma extrema o capitalismo e o Estado de Direito devido à desigualdade provocada por estes sistemas.
Por outro lado, aqueles que ainda acreditavam no capitalismo, trouxeram a proposta do Estado Social, que tem como marco histórico a Constituição de Weimar.
É a partir daí que os direitos coletivos e a Teoria do Processo para tutela desses direitos ganham força.
Nesse trabalho, o que se busca é contribuir para o estudo do Processo Coletivo, ramo autônomo do Direito, ainda pouco estudado e valorizado no Brasil.
Tratar-se-á especificamente sobre a coisa julgada nas ações coletivas, tendo em vista que, se a coisa julgada é um tema obscuro até mesmo para a doutrina sobre processo civil individual, mais ainda o é no direito processual coletivo.
Uma vez que o que se busca atualmente é a efetivação do Estado Democrático de Direito, proposta trazida para o Brasil pela Constituição da República de 1988, adotou-se como marco teórico uma teoria sobre Processo Coletivo que se adéque ao paradigma constitucional vigente.
Destarte, a teoria escolhida foi a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, formulada pelo professor Vicente de Paula Maciel Júnior.
Diante disso, esse trabalho foi estruturado no sentido de elucidar o marco teórico em questão e os institutos do processo coletivo criticados veementemente pela Teoria das Ações Temáticas.
No segundo capítulo, far-se-á uma análise da evolução histórica do processo coletivo, para que se possa entender qual o seu objeto e como surgiu esse ramo do Direito, analisando-se no âmbito do Direito Brasileiro e do Direito Comparado. Ademais, demonstrar-se-á a idéia de coisa julgada no processo individual e sua evolução no Direito Contemporâneo, tendo em vista que há conceitos, como o de limitação da coisa julgada, que serão aplicados no processo coletivo.
Nesse capítulo, buscar-se-á expor a importância do tema e sua complexidade, demonstrando a ampla discussão doutrinária principalmente com relação à coisa julgada.
Já no terceiro capítulo, faz-se uma análise das principais legislações sobre ações coletivas: a Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Dissertar-se-á primeiramente sobre os direitos tutelados no processo coletivo, quais sejam difusos, coletivos e individuais homogêneos, traçando-se as suas características e a diferença entre eles. Somado a isso, fala-se na questão da legitimidade, trazendo a sua classificação em ordinária e extraordinária e o modo como é entendida e aplicada no processo coletivo.
Por último, discorrer-se-á sobre a coisa julgada coletiva na visão da legislação brasileira, tratando-se de seus efeitos e seus limites subjetivos e objetivos, no sentido de demonstrar a peculiaridade do tema no processo coletivo, fazendo-se uma comparação com a coisa julgada no processo civil individual.
Busca-se, através desse capítulo, expor como é entendido o processo coletivo pela legislação brasileira e pela doutrina dominante, tendo em vista que o marco teórico adotado para a pesquisa em questão tece críticas contundentes à legislação em vigor.
No quarto capítulo, passa-se ao tema central do trabalho ao expor a Teoria das Ações Temáticas.
Critica-se primeiramente a indicação de que o objeto do processo coletivo seja os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos por se entender que deve haver uma separação entre os termos interesse e direito. O que se poderia dizer é sobre direitos coletivos (lato sensu).
Em seguida, tratar-se-á de assunto importantíssimo para o entendimento do marco teórico em questão: a legitimação para agir.
Faz-se uma crítica ao modelo implementado pela legislação brasileira, defendendo-se a legitimação concorrente com a inclusão dos interessados difusos, que deverão participar ativamente do processo.
Diante disso, discorrer-se-á a respeito da Teoria das Ações Temáticas que determina que o processo coletivo verse sobre um tema, sobre o qual todos os interessados difusos poderão se manifestar, devendo-se haver um limite temporal para que o pedido possa ser alterado.
Após o entendimento dessa teoria, será realizado um estudo no tocante à coisa julgada sob a ótica das ações temáticas, buscando demonstrar o quão adequado é o marco teórico adotado ao Estado Democrático de Direito.
Ficará claro durante a exposição deste capítulo final que o modelo de legitimação no processo coletivo influencia diretamente a coisa julgada e sua constitucionalidade, principalmente no tocante aos limites subjetivos e objetivos deste instituto.
Em suma, pretende-se defender a participação ativa dos interessados difusos nas ações coletivas em prol de uma coisa julgada constitucional, advinda de um devido processo legal, que tem como um de seus princípios institutivos o contraditório.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
2.1 Processo Coletivo
2.1.1 A Origem do Processo Coletivo: A Ação Popular no Direito Romano
Assim como grande parte dos ramos do Direito, o processo coletivo tem como origem histórica o Direito Romano, não obstante a prevalência do direito individual na antiguidade clássica, conforme ressalta Ricardo de Barros Leonel.
Pode causar estranheza inicial esta afirmação, na medida em que o trato dos romanos com relação ao direito e ao processo demonstra uma preocupação preponderante com as questões de natureza individual, desde o tempo das legis actiones (ações da lei), passando pelo processo per formulas (período formulário), chegando à cognitio extra ordinem (cognição extraordinária). (LEONEL, 1998, p. 40)
Uma vez que desde os primórdios da humanidade o homem vive em sociedade, a existência de conflitos que envolvam o coletivo é inevitável, necessitando-se, portanto, de um modo de resolução de tais controvérsias. Assim, na Roma Antiga, sociedade bastante numerosa para época, foi criada a Ação Popular como um tipo de actio romana.
Os romanos observaram que em algumas situações os interesses envolvidos diziam respeito a um conjunto de cidadãos e não a uma pessoa em específico, o que impulsionou a criação de normas nas quais estariam previstas ações em que qualquer interessado poderia postular a tutela judicial com o fim de preservação do interesse público.
Nesse passo, vale ressaltar que a legitimidade concedida a qualquer cidadão para o ajuizamento da ação popular se deve à relação existente entre aquele e a res publica (coisa pública), sendo que o titular da mesma são todos os que compõem o povo.
A ação popular tinha em Roma amplitude extraordinária, servindo não somente para a tutela de interesses individuais com conseqüências públicas (como no caso de defesa pessoal do uso de vias públicas por meio do interdictum ne quid in loco publico vel itinere fiat; como ainda da utilização dos rios, ancoradouros, bebedouros, entre outras coisas, por força dos interdictum ne quid in flumine publico ripave ejus fiat; uso de esgotos públicos, por meio do interdito de cloacis, entre outros); mas ainda, e sobretudo, para a tutela de interesses mais propriamente coletivos, como na defesa de sepultura comum, efetivação de fundações instituídas por atos de disposição de última vontade, oposição à colocação em telhas e janelas de coisas que pudessem ser lançadas à rua, entre outras (LEONEL, 1998).
No tocante à coisa julgada, constata-se que vem de Roma, também, a aplicação de efeitos erga omnes e ultra partes nas ações coletivas, diferenciando-se da chamada res iudicata nos processos envolvendo conflitos individuais, conforme dispõe Roberto Carlos Batista.
Tendo em vista que as ações populares tinham como legitimados ativos os cidadãos em geral, sujeitos indetermináveis e ou indeterminados, os efeitos da coisa julgada eram extensivos a terceiros.
Acrescente-se que, refletindo já uma noção diferenciada a respeito da legitimação para agir, em se tratando de interesses coletivos – identificando-se a litispendência ou coisa julgada na propositura de ações envolvendo pessoas que ostentassem a mesma condição jurídica, não necessariamente a mesma pessoa-, uma vez intentada, o demandado poderia opor a exceção de coisa julgada a qualquer pessoa que pretendesse reformular a mesma demanda – mesmo objeto – futuramente.(LEONEL, 1998, p. 45).
Noutro giro, a doutrina não é pacífica com relação à natureza das ações populares, debatendo-se se as mesmas seriam procuratórias ou não, o que influenciará na delimitação dos destinatários do conteúdo da decisão final.
Em caso afirmativo, tem-se que o autor estaria agindo apenas em defesa do interesse público, ressaltando-se que, na hipótese de procedência da ação, os valores auferidos seriam destinados exclusivamente ao próprio povo.
Por outro lado, se as ações populares não tiverem natureza procuratória, o autor estaria atuando em defesa de interesse próprio e público, sendo que ele seria o destinatário dos valores referidos.
Sendo assim, restou claro que o estudo do processo coletivo e de seus institutos, como a coisa julgada, exige uma análise histórica do Direito Romano, criador da Ação Popular, que, até a atualidade, com algumas modificações, está presente na legislação de muitos países, inclusive na do Brasil.
A Ação Popular Romana é apenas a origem remota do Processo Coletivo. Para que o estudo do mesmo chegasse ao estágio em que está atualmente, muitos outros fatores históricos contribuíram, até mesmo o direito anglo-saxônico.
2.1.2 – A class action no Direito Comparado
Não obstante os estudiosos do Direito no Brasil e a própria legislação do mesmo ser mais inclinada para as teorias jurídicas do sistema da civil law, baseados no direito romano-germânico, a análise do processo coletivo nos países de common law, principalmente nos Estados Unidos, é fundamental.
Aliás, existem doutrinadores que entendem que a origem do processo coletivo se deu nos países de common law, no século XVII, nos tribunais de equidade ingleses. À época, era possível, a partir do Bill of Peace, a tutela coletiva dos direitos.
O Bill era uma autorização para processamento coletivo de uma ação individual e era concedida quando o autor requeria que o provimento englobasse os direitos de todos que estivessem envolvidos no litígio, tratando a questão de maneira uniforme, evitando a multiplicação de processos. (LEONEL, 1998, p. 22-23).
Foi daí que surgiram as denominadas ações de classe, ou melhor, class action, modelo de processo coletivo que teve e ainda tem grande influência no Direito Coletivo Brasileiro.
Nesse sentido, aduziu o respeitável doutrinador Teori Albino Zavascki:
O certo é que da antiga experiência das cortes inglesas se originou a moderna ação de classe (class action), aperfeiçoada e difundida no sistema norte-americano, especialmente a partir de 1938, com a Rule 23 das Federal Rules of Civil Procedure, e da sua reforma, em 1966, que transformaram esse importante método de tutela coletiva em ‘algo único e absolutamente novo em relação aos seus antecedentes históricos. (ZAVASCKI, 2007, p. 29)
Há maior interesse no exame do modo pelo qual o fenômeno do processo coletivo é enfrentado nos Estados Unidos da América, na medida em que o legislador brasileiro colheu subsídios preciosos naquele sistema, particularmente no que atine às ações destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, por meio da invocação de métodos adotados nas class actions for damages (LEONEL, 1998).
A class action, a princípio, advinda da chancery courts na Inglaterra, estava limitada a ser reconhecida apenas nos casos em que as razões e fundamentos versassem sobre equidade. Somente com a fusão dos juízos of law and equity, no Court of Judicature Act, de 1873, as class actions tornaram-se disponíveis em ambos os sistemas.
A class action era dividida na redação original da Regra 23 das Federal Rules of Civil Procedure em: true class action, hybrid class action e spurious class action.
Assim, na true class action, o direito era absolutamente comum a todos os membros do grupo; na hybrid class action, o direito era comum em razão de várias demandas sobre um mesmo bem; e, na spurious class action, inúmeras pessoas, possuindo interesses diversos, reuniam-se para litigar em conjunto. (LEONEL, 1998).
A mesma regra que trouxe esta classificação tríplice apresentou várias outras questões com relação às class actions, conforme aduz Vicente de Paula Maciel Júnior ao citar Vigoriti:
Em sua disciplina positiva, a Regra 23 das Federal rules of Civil Procedure enfrenta uma série de questões, como por exemplo a identificação da classe, o controle dos representantes da classe, o objeto da demanda, a eficácia do julgado, a assistência técnica. Dentre esses temas destacam-se a identificação da classe (defining function) e o controle efetivo da capacidade dos representantes da classe (class representatives). Esses temas são importantes e coligados porque a sentença que pronuncia sobre a ação de classe terá seus efeitos estendidos a todos os componentes do grupo, como ficar definido pelo juiz. A adequação da representação, reconhecida ao interesse coletivo dos seus portadores, que são os representantes de classe, é condição necessária e suficiente para que a sentença possa vincular todos os componentes da classe, independentemente da participação deles em juízo (VIGORITI, 1979, p. 266). (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 143)
Dentre as problemáticas encontradas, têm-se a dificuldade de o juiz, no caso concreto, identificar a espécie de class action a ser adotada e, ainda, analisar se os representantes são adequados para defender em juízo os interesses discutidos.
Como solução, atribui-se ao juiz discricionariedade para analisar tais questões.
Compete ao juiz o controle da existência de uma efetiva homogeneidade dos interesses entre a classe tutelada e aqueles que se apresentam como seus representantes. A jurisprudência parece firme no sentido de que o juiz deve ter amplos poderes de controle e intervenção e que somente ao juiz compete a verificação da adequação de representatividade (VIGORITI, 1979, p. 274-276). (MACIEL JÚNIOR, 2006).
Nesse sentido, aduz Ricardo de Barros Leonel:
Exemplificando, a demanda coletiva pode ser deduzida em juízo por qualquer pessoa , pois não há um rol expresso de legitimados, bastando que reste identificada na hipótese a adequada representação (adequacy of representation), a ser apurada pelo magistrado no caso concreto e de acordo com critérios legais e jurisprudenciais. (LEONEL, 1998, p. 70)
Quanto à coisa julgada, tema central do presente trabalho, constata-se que, na class action, não há que se falar na denominada coisa julgada secundum eventum litis, tendo em vista que, independentemente da procedência ou não do pedido, os efeitos da sentença atingirão, através da coisa julgada extensiva (binding efect), a todos os integrantes da classe, desde que tenha ficado reconhecida a sua adequada representação.
Sintetizando-se o regramento da class action, podemos anotar que: a) quanto ao objeto da demanda, há necessidade de pluralidade de interessados determinados ou determináveis, cuja atuação conjunta se torna impraticável, sendo o objeto litigioso comum a todos; b) quanto à legitimação, há possibilidade de atuação de qualquer componente da classe, sem necessidade de autorização, desde que titular de uma posição jurídica similar à dos demais; c) quanto aos poderes do juiz, são amplos, tanto na condução do processo como na delimitação de seu objeto; d) resta assegurado o due process of law através da adequacy of representation; e) quanto à extensão ultra partes dos limites subjetivos do julgado, ocorre indiscriminadamente, na medida em que tenha ocorrido regularmente a far notice a respeito da demanda, assegurando-se o direito de exclusão (right to opt out). (LEONEL, 1998).
Diante do exposto, verifica-se que o estudo da class action, assim como a ação popular do Direito Romano, é fundamental, havendo divergência doutrinária com relação a qual desses dois institutos seria a verdadeira origem do Processo Coletivo. Entretanto, não há dúvidas de que a Crise do Estado Liberal, no contexto da Revolução Industrial, seja o marco histórico da crise do individualismo e da transição para um período em que direitos sociais, como os direitos coletivos, passam a ter grande importância.
É sobre esse evento histórico que dissertaremos no item seguinte.
2.1.3 – A Crise do Estado Liberal, o advento do Estado Social e a prevalência dos interesses (direitos) coletivos
Com a decadência do Estado Moderno através das Revoluções Burguesas, dentre elas a Francesa, no século XVIII, surgiu o modelo constitucional de Estado Liberal de Direito, sendo caracterizado principalmente pela priorização do individualismo.
Prevaleciam, à época, os direitos individuais, considerados atualmente de primeira geração. As Constituições Liberais consideravam como direitos fundamentais a liberdade e a propriedade, o que exemplifica a prevalência do individualismo.
Nesse passo, disserta Luciano Velasque Rocha Silva (2007) que, com o advento do liberalismo, as ações coletivas – juntamente, aliás, da maior parte das formas de manifestação não individuais – passam a um plano secundário: é o apogeu do individualismo.
Ocorre, no entanto, que com o advento da Revolução Industrial, no século XIX principalmente, o Estado Liberal entrou em crise, tendo em vista o aumento intenso da desigualdade social.
A defesa da livre concorrência em prol do Liberalismo Econômico fez com que o Estado quase nunca interferisse nas relações econômicas, o que possibilitou que os burgueses, industriais, explorassem os proletariados, visando o lucro. Ou seja, os burgueses, minoria, se tornavam cada vez mais ricos, enquanto os trabalhadores, a maioria, ficavam mais pobres.
Ante esta desigualdade, a necessidade de intervenção estatal na economia passa a ser necessária, principalmente devido à crescente insatisfação dos trabalhadores, ressaltando-se, inclusive, que os mesmos começaram, nesse contexto, a se organizar através de sindicatos.
Na sociedade globalizada, não há lugar para o homem como indivíduo isolado; ele é tragado pela roda-viva dos grandes grupos e corporações: não há mais a preocupação com as situações jurídicas individuais, o respeito ao indivíduo enquanto tal, mas, ao contrário, indivíduos são agrupados em grandes classes ou categorias, como tais, normatizados(MANCUSO, 2004).
Karl Marx formulou sua Teoria Comunista neste contexto. Tal teórico repudiou o Estado Liberal justamente pela desigualdade social existente, o que o levou a acreditar na crise do capitalismo e do Estado de Direito.
Entretanto, talvez, esse respeitável estudioso tenha subestimado a capacidade do Estado de Direito e do próprio capitalismo de se renovar e buscar novas alternativas, pois foi encontrada uma solução para a crise do Estado Liberal, qual seja o modelo constitucional de Estado Social de Direito.
O individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do Estado Liberal provocaram imensas injustiças, e os movimentos sociais do século passado e deste especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades burguesas, permitiram que se tivesse consciência da necessidade da justiça social, conforme nota Lucas Verdù, que acrescenta: “Mas o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como liberal, necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social”. Transforma-se em Estado Social de Direito, onde o “qualificativo social refere-se à correção do individualismo clássico liberal pela afirmação dos chamados direitos sociais e realização de objetivos de justiça social”. Caracteriza-se no propósito de compatibilizar, em um mesmo sistema, anota Elias Diaz, dois elementos: o capitalismo, como forma de produção, e a consecução do bem estar social geral, servindo de base ao neocapitalismo típico do Welfare State. (SILVA, 1993).
Destarte, é no contexto do Estado Social, que aumenta a preocupação do Estado com os direitos coletivos e a forma como os mesmos serão tutelados. Os direitos individuais não são mais os únicos a serem priorizados.
Uma vez que o Estado Social deve, obrigatoriamente, interferir nas relações dos cidadãos implantando políticas públicas, os direitos que, até então, eram marginalizados, como os direitos coletivos, passam a ser observados.
Frise-se que a transição do Estado Liberal para o Estado Social não foi repentina, como todas as mudanças na história humana. Por isso, as discussões a respeito dos direitos metaindividuais somente se intensificaram, realmente, no período posterior à Segunda Guerra Mundial.
E é nesse cenário que surgem as inovações a respeito do tema, advindas de uma sobrecarga no sistema político e jurídico, que não tinham resposta para as novas demandas que lhe eram apresentadas(ROCHA, 2007).
Ressalte-se, por exemplo, que Mauro Capelleti e Bryan Garth, através de seus estudos sobre o “acesso à justiça” com base no Projeto de Florença, afirmam que a crise do Estado Liberal e o advento do Estado Social foram fundamentais para o aumento da preocupação com os direitos coletivos.
Na evolução conceitual do “acesso à justiça” do Projeto de Florença, a partir do momento em que as ações e relacionamentos assumiram um caráter mais coletivo do que individual, as sociedades modernas deixaram para trás a visão individualista dos direitos, consubstanciada nas declarações de direitos dos séculos XVIII e XIX. Capelletti e Garth se reportam ao crescimento em complexidade das sociedades do laissez-faire, levando a uma transformação radical no conceito de ‘direitos humanos’. Esse movimento ‘faz-se no sentido de reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, associações e indivíduos’.”(FERNANDES;PEDRON, 2008, p. 96)
Em busca de uma solução para o acesso à justiça, Capelletti traça em seu relatório barreiras para o fim almejado. Essas, de forma resumida, são classificadas em três grandes núcleos, envolvendo, sobretudo, as custas judiciais, as possibilidades das partes e os problemas especiais dos interesses difusos. (FERNANDES; PEDRON, 2008)
Nesse ponto, abrimos um parêntese para o pioneirismo do Projeto de Florença, pois na verdade ele é um dos primeiros, senão o precursor, no estudo de direito comparado, que, de forma sistemática, vislumbra a inserção dos direitos difusos e direitos coletivos, tendo em vista basicamente o direito ao meio ambiente saudável, bem como a efetiva proteção ao consumidor, chamando a atenção para aquilo que será um dos temas centrais no Paradigma do Estado Democrático de Direito, qual seja, a inadequação de confiar-se apenas no Estado para a defesa dos “interesses difusos”.(FERNANDES;PEDRON,2008)
Ocorre que, com decorrer do tempo, o modelo constitucional de Estado Social também começou a ser criticado por alguns estudiosos. O protecionismo e a concentração decisória pressupostos no Estado Social interventor oportunizou o advento de governos ditatoriais e totalitários, ressaltando-se que foi a própria Constituição de Weimar que legitimou a ascensão do nazismo.
Diante desse problema, foi apresentada uma nova proposta de leitura e interpretação do direito: o Estado Democrático de Direito, que, no Brasil, foi adotado explicitamente pela Constituição da República de 1988.
Destarte, ante esse marco histórico, necessária se faz a reformulação do processo coletivo e de seus institutos, dentre eles a coisa julgada, ressaltando-se, aliás, que alguns desses ainda estão vinculados ao individualismo do Estado Liberal.
2.1.4- O Processo Coletivo no Direito Brasileiro
Conforme já salientamos, a Ação Popular da Roma Antiga é tida como a origem do Processo Coletivo na história mundial.
O fenômeno repetiu-se no direito brasileiro com as mesmas cores e a mesma intensidade com que se verificou alhures. Em nosso ordenamento, a gênese da tutela judicial dos interesses coletivos teve sua definição através da instituição da ação popular(LEONEL, 1998).
Lado outro, assim como na Europa Ocidental, os direitos coletivos no Brasil começaram a ser valorizados devido à crise de um período do Estado Brasileiro regido pela Constituição Liberal de 1891 e o advento de um governo mais voltado para o modelo constitucional do Estado Social.
Com a Revolução de 1930, decaiu a República do Café com Leite e Getúlio Vargas assumiu a Presidência do Brasil, sendo tal período consagrado com a Constituição de 1934. É neste texto constitucional que a Ação Popular é prevista pela primeira vez na legislação do Brasil com tanta relevância.
Na Constituição de 1934, no inc. XXXVIII do art. 113, vinha a previsão do instrumento processual conferido a qualquer cidadão para pleitear a nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios. Mas ela não sobreviveu ao Estado Novo, sendo suprimida na Constituição de 1937. (LEONEL, 1998).
Somente com o fim da Ditadura Getulista, ressurgiu na esfera constitucional a Ação Popular na Carta de 1946, no inciso XXXVIII do art. 141. Mais adiante, a Constituição de 1967 , a EC 1/69 e a vigente Constituição de 1988 mantiveram a Ação Popular em seu texto.
Somado a isso, vale ressaltar que a ação popular também esteve e continua prevista na legislação infraconstitucional. A mais importante das leis ordinárias sobre Ação Popular no Brasil é a Lei 4.717/65, aplicável até a atualidade.
Todavia, a Ação Popular não é a única forma de resolução judicial de conflitos envolvendo direitos coletivos prevista na legislação brasileira. Como exemplos importantes e, mais recentes, têm-se a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, que prevêem expressamente a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Ademais, frise-se que a previsão dos direitos coletivos lato sensu (difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos) aparecem pela primeira vez, dentre todas as Constituições da República, na Constituição de 1988, sendo a proteção daqueles direitos considerada função institucional do Ministério Público nos termos do artigo 129 da Carta Magna.
2.2- A Coisa Julgada no Direito Contemporâneo e seus limites
Pretende-se, agora, fazer uma breve análise das diversas concepções sobre a coisa julgada e sobre os seus limites: subjetivos e objetivos.
Estudar a coisa julgada é examinar a sua história, fixar – através dos dados que ela fornece – o seu conceito, distinguir, neste, o essencial do acidental, apontar os seus lindes, para definição do conteúdo que lhe é específico, preordenando, assim, os efeitos que lhe são próprios. A contraprova da exatidão com que se procede, essa só a vida poderá dar, quando não reaja à normatividade decorrente dos resultados a que se tenha chegado. (NEVES, 1971, p. 05)
Nesse sentido, muito embora o presente trabalho trate sobre o processo coletivo, faz-se necessário o estudo do instituto da coisa julgada sob enfoque do processo civil individual, o qual vem sendo objeto de análise pela doutrina do direito há anos.
O conceito de coisa julgada está muito relacionado ao individualismo. Mauro Capelletti, em seu relatório sobre o Projeto de Florença, apresenta como uma de suas soluções, as três ondas, para o real acesso à justiça, a reforma da legitimação para agir na tutela dos interesses difusos, criticando os institutos jurídicos que os norteiam, como, por exemplo, a coisa julgada.
O relatório aponta modificações quanto à legitimação ativa, pois através de reformas legislativas tentou-se, em alguns ordenamentos, uma justa adequação para a representação dos interesses envolvidos. Mas, além dessas, lembramos outras reformas relativas à citação e ao direito de ser ouvido, bem como em relação à tradicional noção de coisa julgada. Todas indo de encontro da visão individualista do direito processual. Essa deveria ceder lugar a uma realização dos chamados direitos públicos relativos a interesses difusos. (FERNANDES; PEDRON, 2008).
Nesse passo, constata-se que para o entendimento da coisa julgada nas ações coletivas é necessário discorrer a respeito deste instituto sob o aspecto individualista, já que, por muitos séculos, a coisa julgada foi analisada levando em consideração apenas o processo individual.
Ante a diversidade de estudos sobre o tema, de grande complexidade, pretende-se enfatizar somente os conceitos de coisa julgada para os principais estudiosos do tema no Direito Contemporâneo, tendo em vista que a estrutura da legislação dos países da civil law, incluindo o Brasil, está ligada diretamente ou indiretamente aos estudos dos autores que serão expostos nos próximos subitens.
2.2.1- Coisa Julgada em Chiovenda
O primeiro grande autor do Direito Contemporâneo que trata com muita categoria sobre a coisa julgada é Giuseppe Chiovenda, mestre italiano, que aprofundou seus estudos a respeito do tema em 1905.
Inicialmente, vale ressaltar a respeito da concepção de processo para Chiovenda, que é adepto da Teoria da Relação Jurídica formulada por Von Bülow, o qual inova o estudo da Teoria do Direito, classificando o processo como direito público.
Com efeito, é o direito subjetivo – conceituado pelos individualistas como poder sobre a conduta alheia – o sustentáculo da teoria estruturada por Bülow, sendo certo que tal conceito, com Windscheid (1856), deu origem ao de relação jurídica, entendida como vínculo normativo entre duas pessoas, das quais uma pode exigir da outra o cumprimento de um dever jurídico. Esta noção de relação jurídica, estreitamente ligada à idéia de dominação e opressão que vai marcar a forma de organização das relações sociais e humanas da época, quando transposta para o campo processual, é inovada com a chegada do Estado para ocupar o pólo passivo da relação jurídica processual, mas mantém sua característica essencial: o vínculo jurídico de exigibilidade entre os sujeitos do processo, pelo qual se mantém ainda que se considere a relação processual triangular (Wach), angular(Planck e Hellwig) ou linear (Köhler). (LEAL, 2005, p. 25).
Nesse passo, considerando que o Estado está envolvido na relação jurídica processual, o processo integra o campo do direito público, sendo que Chiovenda conceitua a sentença como manifestação da vontade do Estado através da interpretação “sábia” do juiz.
O raciocínio sobre os fatos é obra da inteligência do Juiz, necessária como meio de preparo da formulação da vontade da lei. A sentença é, apenas, a afirmação de uma vontade do Estado que garante a alguém um bem de vida no caso concreto e apenas a este pode estender-se a autoridade do julgado. Esta doutrina moderna, que considera, particularmente, o aspecto público do direito processual, chega, assim, a conclusões que constituem um retorno aos princípios romanos.(NEVES, 1971)
Chiovenda adota a concepção de direito subjetivo pré-existente ao processo, o que justifica o conceito de sentença por ele trazido, já que a sentença, conforme salientamos, consiste no reconhecimento da vontade da lei, na qual está previsto o direito subjetivo.
Partindo deste conceito de sentença, Chiovenda conceitua a coisa julgada como efeito daquela decisão judicial. A coisa julgada é tratada, em seu sentido substancial, como indiscutibilidade da existência da vontade concreta da lei afirmada na sentença.
Quanto aos casos em que a coisa julgada substancial ocorre, especifica Chiovenda: a) o da sentença de mérito; b) o da sentença sobre a admissibilidade dos meios de prova; c) o da sentença sobre exceções processuais, que eximem, temporariamente, da ação do adversário. (NEVES, 1971, p. 348).
Ressalte-se, ainda, que o mestre italiano diferencia preclusão e coisa julgada.
A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. (THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 601)
Ao ser analisada a coisa julgada para Chiovenda, poder-se-ia dizer que este instituto se confunde com o da preclusão. Entretanto, a mesma não se aplica apenas na fase processual em que ocorre a coisa julgada.
Como exemplo prático de preclusão, tem-se a revelia, advinda da inércia do réu em se manifestar a respeito do pedido inicial. Nesse caso, há a preclusão mas não ocorre a coisa julgada. Se ocorrer a coisa julgada, necessariamente há a preclusão máxima. Contudo, não se pode dizer que o contrário é verdadeiro.
A coisa julgada contém, portanto, em si, a preclusão de qualquer futura questão. Na preclusão está a base prática da eficácia do julgado, o que equivale a dizer-se que a coisa julgada substancial (nos futuros juízos), tem por pressuposto a coisa julgada formal (preclusão das impugnações). (NEVES, 1971, p. 347)
Noutro giro, vale ressaltar a existência de limites subjetivos e limites objetivos da coisa julgada segundo a visão de Giuseppe Chiovenda.
Quanto aos limites objetivos, o limite do julgado é a conclusão última do raciocínio do Juiz, não incluindo as questões prejudiciais incidentalmente resolvidas, nem motivos da sentença. No que se refere aos limites subjetivos, a coisa julgada obriga somente os sujeitos da relação processual, mas vale para todos e não pode prejudicar terceiros estranhos à lide. (DINIZ, 2008, p. 32)
2.2.2 – Coisa Julgada em Liebman
Outro grande estudioso do instituto da coisa julgada foi Enrico Tulio Liebman, jurista importantíssimo, principalmente para o Direito Brasileiro, ressaltando-se que o conceito de coisa julgada previsto no Código Brasileiro de Processo Civil de 1973 baseia-se na teoria de Liebman.
Liebman, discípulo de Chiovenda, é um dos adeptos da Teoria da Relação Jurídica já exposta em tópico anterior, sendo que, no Brasil, seus estudos inspiraram a criação da Teoria Instrumentalista do Processo em São Paulo pelo professor Cândido Rangel Dinamarco.
A atividade mediante a qual se desempenha em concreto a função jurisdicional chama-se processo. Essa função não se cumpre, em verdade, a um só tempo e com um só ato, mas através de uma série coordenada de atos que se sucedem no tempo e que tendem à formação de um ato final. (LIEBMAN, 1985, p. 33)
O processo civil passou, então, a ser visto como instrumento de pacificação social e de realização da vontade da lei e apenas secundariamente como remédio tutelar dos interesses particulares.(THEODORO JÚNIOR, 2007)
Retornando-se à questão da coisa julgada segundo Liebman, verifica-se que os estudos do mesmo, conforme já dito anteriormente, partiram da análise da Teoria de Chiovenda.
A obra de Chiovenda – admite Liebman – quer como síntese do que de melhor nos deu a doutrina moderna, quer como contribuição pessoal, representa um passo de fundamental importância na evolução do direito processual, e não pode ser comparada- sobretudo para os países latinos – à de qualquer outro escritor contemporâneo. Pode-se resumir sua significação na distinção entre preclusão e coisa julgada (NEVES, 1971, p. 395)
Partindo daí, Liebman trata a coisa julgada como qualidade dos efeitos da sentença.
Para LIEBMAN, coisa julgada é qualidade dos efeitos da sentença, numa formulação que intenta superar a identificação do efeito com o elemento que o qualifica – a que se reduziria a doutrina que vê a coisa julgada na declaração produzida pela sentença. (NEVES, 1971, p. 398)
A reelaboração do conceito deste instituto por Liebman se deu através de uma problemática trazida pelo autor. Esse eminente jurista questionou a relação entre coisa julgada e efeitos da sentença, combatendo a idéia de Chiovenda de que a coisa julgada é um dos efeitos da sentença.
O que aquele mestre italiano observa é que a Teoria de Chiovenda é falha em alguns pontos, tendo em vista que para ele (Liebman), os efeitos da sentença (declaratório, constitutivo e executório) podem ocorrer, ainda que no plano hipotético, independentemente da autoridade da coisa julgada.
A coisa julgada é qualquer coisa mais que se ajunta para aumentar-lhes a estabilidade, e isso vale igualmente para todos os efeitos possíveis das sentenças. Identificar a declaração produzida pela sentença com a coisa julgada significa,portanto, confundir o efeito com um elemento nôvo que o qualifica. (NEVES, 1971, p. 398)
A partir de Liebman a res iudicata passou a ser classificada como coisa julgada no aspecto formal e material, considerando-se que a formal é a preclusão dos recursos disponíveis às partes para impedir que a decisão produza seus efeitos e a material, está na finalização do processo apreciando o pedido feito pelas partes com a composição da lide. (DINIZ, 2008)
Em suma, verifica-se que a teoria de Liebman conceitua a coisa julgada como um somatório entre eficácia, que tem abrangência erga omnes, e a imutabilidade, que é inter partes.
Essa teoria, no entanto, foi alvo de críticas de alguns doutrinadores, como, por exemplo, Allorio, conforme disserta Celso Neves.
Allorio nota que a própria definição da coisa julgada como estabilidade dos efeitos da sentença depende de se fazer a quem essa estabilidade se refere. Se ao juiz, isso seria fruto, apenas, da sua normal posição que não lhe permite mudar a situação das relações de direito material submetidas ao seu juízo; se às partes, os efeitos jurídicos produzidos pela sentença não escapam às mudanças que estão no âmbito de sua livre disponibilidade.’A verdade – remata ALLORIO – é que imutáveis não são os efeitos da sentença; imutável é a própria sentença. Mas a imutabilidade da sentença não é coisa julgada: ou melhor, é, somente, a coisa julgada em sentido formal. Precisamente a confusão entre coisa julgada substancial e coisa julgada formal parece-me o último e fundamental erro da teoria combatida. (NEVES, 1971, p. 415)
Rosemiro Pereira Leal também formulou sua análise acerca do conceito de coisa julgada para Liebman.
Leal (2005) considera um grande avanço a atribuição de autonomia ao instituto da coisa julgada, tratando-a como qualidade dos efeitos da sentença, diferenciando-a dos mesmos.
Entretanto, Rosemiro Pereira Leal também tece algumas críticas a Liebman, ressaltando, principalmente, que haverá coisa julgada, com todos os seus efeitos, independentemente se a sentença é de mérito ou não.
A contribuição de Liebman foi auspiciosa em conceituar a coisa julgada como qualidade dos efeitos da sentença de mérito, distinta desses efeitos, mas essa qualidade, hoje elevada à condição de direito-garantia constitucional, pode decorrer de uma sentença que, embora não julgando mérito, torne insdiscutíveis direitos reconhecidos. (LEAL, 2005, p. 200-201)
Vale ressaltar, no entanto, que, apesar das críticas existentes, a teoria de Liebman é predominante no direito brasileiro. Aliás, o legislador brasileiro adotou as idéias deste autor inclusive no tocante ao instituto da coisa julgada.
O artigo 467 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”.
Diante disso, independentemente da adequabilidade ou não da teoria de Liebman, a análise dos estudos deste jurista é imprescindível para qualquer pesquisa em Teoria Geral do Processo, tendo em vista a grande influência que as idéias de Liebman exercem sobre o direito brasileiro.
2.2.3– Coisa Julgada em Fazzalari
As idéias de Elio Fazzalari, doutrinador italiano, são muito influentes no Direito Brasileiro, sendo estudado, principalmente, o conceito de processo para esse teórico, que criou a Teoria do Processo como Procedimento em Contraditório.
Fazzalari, primeiramente, faz uma releitura da concepção de procedimento, afirmando que este nada mais é que uma sequência de atos preparatórios de um provimento estatal e não uma mera forma de exteriorização do processo, conforme defendem os seguidores da Teoria Instrumentalista do Processo.
Nesse sentido, afirma Aroldo Plínio Gonçalves, sobre a teoria de Fazzalari, que
O procedimento não é atividade que se esgota no cumprimento de um único ato, mas requer toda uma série de atos e uma série de normas que os disciplinam, sem conexão entre elas, regendo a sequência de seu desenvolvimento. Por isso se fala em procedimento como sequência de normas, de atos e de posições. (GONÇALVES, 1992, p. 108)
Ao elaborar este conceito de procedimento, Fazzalari também confecciona a sua concepção de processo, que, para ele, seria espécie de procedimento, com a presença de um elemento determinante: o contraditório.
O contraditório é a garantia de participação, em simétrica paridade, das partes, daqueles a quem se destinam os efeitos da sentença, daqueles que são os ‘interessados’, ou seja, aqueles sujeitos do processo que suportarão os efeitos do provimento e da medida jurisdicional que ele vier a impor. (GONÇALVES, 1992, p. 120)
Pode-se dizer que a exigência da presença do contraditório no processo faz com que a teoria de Fazzalari se aproxime um pouco do modelo constitucional Estado Democrático de Direito, surgido como alternativa para o falido Estado Social, contexto no qual surgiram importantes teorias do processo como a Teoria da Relação Jurídica e a Teoria Instrumentalista.
Nesse passo, partindo desta concepção de processo, Fazzalari construiu também o seu próprio conceito de coisa julgada, ao conceber que a mesma é a irretratabilidade da sentença.
Para Fazzalari, a coisa julgada é denominada como irretratabilidade da sentença obtida através de um processo, como procedimento, aqui entendido como sequência de normas, atos e posições subjetivas, em contraditório entre as partes que sofrerão os efeitos do provimento, com simétrica paridade de armas, no qual se operam preclusões sucessivas. (BONFIM JÚNIOR., 2006)
2.2.4– Coisa Julgada para Rosemiro Pereira Leal
Com a crise do Estado Social paternalista, surge como alternativa o Estado Democrático de Direito, proposto na Constituição da República de 1988.
[...] A relação entre o público e o privado é novamente colocada em xeque. Associações da sociedade civil passam a representar o interesse público contra o Estado privatizado ou omisso. Os direitos de 1ª geração e 2ª geração ganham novo significado. Os da primeira são retomados como direitos (agora revestidos de uma conotação sobretudo processual) de participação no debate público que informa e conforma a soberania democrática de um novo paradigma, o paradigma do Estado Democrático de Direito e seu direito participativo, pluralista e aberto”(CARVALHO NETTO, 1999, p. 109).
Nesse contexto, necessário se faz que o direito processual também se adeque ao paradigma do Estado Democrático de Direito.
É a Teoria Neo-Institucionalista do processo do professor Rosemiro Pereira Leal que parece se aproximar mais do paradigma oficialmente instituído, no Brasil, pela Constituição Cidadã.
Segundo tal teoria, o processo nada mais é que um direito-garantia constitucional norteado pelos princípios institutivos: contraditório, ampla defesa e isonomia. Eleva-se o processo, portanto, a um nível constitucional.
O que mais relaciona a teoria de Leal com o Estado Democrático do Direito é a concepção do processo como forma de participação ativa do povo, que contribui para o provimento final, o que diferencia essa teoria da Teoria Constitucionalista do Processo, defendida por José Alfredo de Oliveira Baracho.
O que distingue a teoria neo-institucionalista do processo que estamos a desenvolver da teoria constitucionalista que entende o processo como modelo construído no arcabouço constitucional pelo diálogo de especialistas (numa Assembléia ou Congresso Constituinte representativo do povo estatal) é a proposta de uma teoria da constituição egressa de uma consciência participativa em que o povo total da sociedade política é, por autoproclamação constitucional, a causalidade deliberativa ou justificativa das regras de criação, alteração e aplicação de direitos. (LEAL, 2001, p. 95)
Aliás, é justamente com o fim de formular um conceito de processo nos moldes do Estado Democrático é que Rosemiro Pereira Leal tece críticas às idéias traçadas pelos defensores da Teoria da Relação Jurídica e da Teoria Instrumentalista do Processo, as quais foram criadas no contexto do falido Estado Social.
[...] a jurisdição, face ao estágio da Ciência Processual e do Direito Processual, não tem qualquer valia sem o PROCESSO, hoje considerado no plano do direito processual positivo, como complexo normativo constitucionalizado e garantidor dos direitos fundamentais da ampla defesa, contraditório e isonomia das partes e como mecanismo legal de controle da atividade do órgão-jurisdicional (juiz) que não mais está autorizado a utilizar o PROCESSO como método, meio, ou mera exteriorização instrumental do exercício da jurisdição. (LEAL, 1999, p. 42)
Diante disso, Leal criou o seu próprio conceito de coisa julgada, partindo da idéia de processo como direito-garantia constitucional.
Para esse teórico, a coisa julgada deve ser entendida como um instituto autônomo, uma vez que é qualidade dos efeitos da sentença, assim como estabelece Liebman. Entretanto, inova o conceito ao afirmar que, independentemente do conteúdo da sentença, havendo o devido processo legal, tem-se a coisa julgada, sendo desnecessária a divisão: coisa julgada formal e coisa julgada material.
Nesse sentido, vê-se que a coisa julgada pode ser tratada como uma extensão do devido processo legal, balizado pelos princípios institutivos.
O debate, portanto, sobre a res judicata atualmente já não pode ser tratado em órbita exclusiva de Direito Processual sistemático, porque a coisa julgada, como efeito ou qualidade das sentenças, não mais se define como instituto jurídico pelos estreitos limites objetivos procedimentais da “relação” de direito material..., mas ganha feições de direito-garantia, quando a sentença, de mérito ou não, gera efeitos ou qualidade que se autonomizam, por norma constitucional, pelo instituto da coisa julgada de natureza jurídico-fundamental, tal como assegurado nas constituições modernas (LEAL, 2005, p. 202).
Em suma, verifica-se que o conceito de coisa julgada para Teoria Neo-Institucionalista está de acordo com os princípios do Estado Democrático de Direito. No entanto, resta saber se esse entendimento poderia ser aplicado no Processo Coletivo.
2.2.5- Os Limites Subjetivos e Objetivos da Coisa Julgada
Após discorrer sobre o entendimento da doutrina brasileira a respeito do conceito de coisa julgada, faz-se necessário analisar a extensão deste instituto, tratando dos seus limites - subjetivos e objetivos – tema que também advém do Direito Romano.
Outro ponto que resistiu ao tempo e chegou até nossos dias, provindo do direito romano, está na limitação da coisa julgada, em seus aspectos subjetivo e objetivo (...) O direito moderno só acentuou, a par da função negativa da coisa julgada, a sua função positiva, reportando-as, todavia, ao próprio sistema romano, consoante o magistério de SAVIGNY. (NEVES, 1971, p. 498)
A limitação objetiva da coisa julgada está ligada ao dispositivo da sentença, sendo que isso inclui tudo o que o juiz considerou no tocante ao pedido realizado pelas partes.
Percebe-se que com relação a esse tema a doutrina de Liebman influenciou o direito brasileiro, vez que a Teoria da Substanciação, de autoria desse jurista, contribuiu para a compreensão da limitação objetiva da coisa julgada.
Assim, disserta Celso Neves:
O fato de prevalecer, no sistema jurídico brasileiro, o princípio da substanciação do pedido que compreende tanto a causa próxima como a causa remota actionis, corrobora o caráter restrito da limitação objetiva da coisa julgada. A definição do seu conteúdo vincula-se, portanto, ao que foi pedido na ação e constitui objeto do julgamento, de seu lado restrito ao elemento declaratório da sentença. (NEVES, 1971, p. 494)
No tocante aos limites subjetivos, tem-se que a coisa julgada no processo civil individual opera-se inter partes. Ou seja, havendo a coisa julgada, as partes de determinado processo ficam impedidas de ajuizarem nova ação com os mesmos elementos, não se aplicando essa proibição para terceiros.
Nesse sentido, Eduardo Arruda Alvim, seguidor da doutrina de Liebman, assim discorre:
A coisa julgada, no Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o art. 472, atinge apenas quem tenha sido parte no processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros. É dizer, a imutabilidade do que tenha sido decidido, quando tenha havido julgamento de mérito (art. 269 do CPC), atinge apenas quem foi parte. É um juízo nitidamente utilizado para que cada qual vá a juízo, se quiser, cuidar de seus próprios interesses, e, por isso mesmo, o que for decidido atinge apenas aquele que moveu a ação, não prejudicando, e tampouco beneficiando terceiros. Trata-se da regra da coisa julgada inter partes, expressa no multicitado art 472 do CPC, a qual se forma sempre, em tendo havido decisão de mérito. (ALVIM, 2007, p. 175)
Diante disso, vale ressaltar que a análise dos limites da coisa julgada é exigível na medida em que é principalmente neste ponto que o entendimento deste instituto sob o enfoque do processo coletivo se diferencia do processo individual.
3- O PROCESSO COLETIVO E OS CONCEITOS JURÍDICOS APLICÁVEIS
Busca-se no presente capítulo dissertar a respeito de conceitos jurídicos aplicáveis para o processo coletivo, traçando-se apenas uma análise do entendimento da doutrina majoritária e do que está previsto na legislação brasileira.
Exporemos os significados de direitos (interesses) difusos, coletivos e individuais homogêneos, que são o bem jurídico tutelado no processo coletivo. Em seguida, dissertaremos sobre a legitimação para agir e sua classificação, sendo que essa análise é de grande relevância para compreensão da Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, marco teórico adotado para este estudo.
Por último, discorrer-se-á com relação ao significado de coisa julgada secundum eventum litis, demonstrando a presença de tal conceito jurídico na legislação brasileira que trata de processo coletivo.
3.1- Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Para o estudo do Processo Coletivo, a análise dos direitos tutelados por tal instituto é fundamental para que sejam compreendidos diversos conceitos jurídicos aplicáveis nas ações coletivas.
Constata-se que os denominados direitos coletivos dividem-se em: difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. Alguns doutrinadores afirmam, ainda, que o melhor seria falar-se em interesses coletivos. Entretanto, conforme demonstraremos mais adiante, esta última terminologia não parecer ser a mais adequada, uma vez que interesse e direito possuem conceitos diversos, ao contrário do que defendeu Ihering.
Inicialmente, não faremos a diferenciação, necessária, entre direito e interesse, que será explanada no capítulo seguinte. Portanto, trataremos os termos interesses coletivos e direitos coletivos como se sinônimos fossem até mesmo para fins de didática.
Feitas as ressalvas necessárias, passemos ao exame mais aprofundado dos direitos coletivos lato sensu.
Um dos tipos dos direitos coletivos é o direito difuso, que, segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, tem uma concepção diferenciada dos direitos individuais:
Ao contrário do que se passa com os conflitos intersubjetivos de cunho individual, os interesses difusos, por definição, não comportam atribuição a um titular definido, em termos de exclusividade: eles constituem a reserva, o arsenal dos anseios e sentimentos mais profundos que, por serem necessariamente referíveis à comunidade ou a uma categoria como um todo, são insuscetíveis de apropriação a título reservado. Do fato de se referirem a muitos não deflui, porém, a conclusão de que sejam res nullius, coisa de ninguém, mas, ao contrário, pertencem indistintamente, a todos; cada um tem um título para pedir a tutela de tais interesses. O que se afirma do todo resta afirmado de suas partes componentes. (MANCUSO, 2004, p.145)
Partindo deste ponto, constata-se que os destinatários dos direitos difusos são indeterminados e indetermináveis, ou seja, no momento em que surge um conflito de cunho coletivo, não se sabe quem são as pessoas lesionadas devido ao seu número elevado. As únicas pessoas que, em alguns casos, podem ser definidas são os causadores da lesão.
Essa “indeterminação de sujeitos” revela-se, também, quanto à natureza da lesão decorrente de afronta aos interesses difusos: essa lesão é disseminada por um número indefinido de pessoas, tanto podendo ser uma comunidade (por exemplo, uma vila de pescadores, ameaçada pela emissão de dejetos urbanos no mar) como uma etnia (nos casos de discriminação racial) ou mesmo toda a humanidade (como ameaça constante de guerra nuclear, ou na “exploração” predatória e anárquica da Amazônia). Os interesses difusos situam-se, assim, no “extremo oposto” dos direitos subjetivos, visto que estes apresentam como nota básica o “poder de exigir”, exercitável por seu titular, contra ou em face de outrem, tendo por objeto certo bem da vida. Ora, é justamente essa relação de imanência entre o interesse e uma pessoa determinada que inexiste nos interesses difusos; sendo insuscetíveis de apropriação a título exclusivo, os interesses difusos caracterizam-se, justamente com referir-se a uma série indeterminada de sujeitos. (MANCUSO, 2004)
Lado outro, tem-se que os direitos difusos são indivisíveis, tendo em vista que não podem ser fragmentados em quotas a serem distribuídas para pessoas e ou grupos.
Assim, ante a indivisibilidade, significa que a satisfação ou lesão de uma pessoa afeta no mesmo sentido a todos os interessados difusos.
Não se trata de identificação dos interessados difusos como simples soma de interesses individuais, tampouco como síntese destes, referindo-se sim a necessidades que são da coletividade como um todo, daí surgindo sua indivisibilidade. (LEONEL, 1998).
Mancuso acrescenta que, além da indeterminação dos sujeitos e da indivisibilidade do objeto, os, por ele denominados, interesses difusos possuem mais duas características essenciais: a litigiosidade interna e a transição ou mutação no tempo e no espaço.
Com relação à litigiosidade interna, assim discorre o ilustre doutrinador:
“...a marcante conflituosidade deriva basicamente da circunstância de que todas essas pretensões metaindividuais não têm por base um vínculo jurídico definido, mas derivam de situações de fato, contingentes, por vezes até ocasionais. Não se cuidando de direitos violados ou ameaçados, mas de interesses (conquanto relevantes), tem-se que nesse nível, todas as posições, por mais contrastantes, parecem sustentáveis. É que nesses casos de interesse difusos não há um parâmetro jurídico que permita um julgamento axiológico preliminar sobre a posição “certa” e a “errada. Exemplo sugestivo ocorreu no Rio de Janeiro, quando da construção do chamado “sambódromo”, o qual gerou os conflitos metaindividuais entre os interesses ligados à indústria do turismo versus os interesses dos cidadãos e associações, contrários à construção de um local permanente para os desfiles das escolas de samba”.(MANCUSO, 2004, p. 103).
Somado a isso, Mancuso (2004) afirma que, uma vez que os interesses difusos estão ligados diretamente a situações fáticas que são mutáveis, aqueles também são passíveis de mudança, podendo aparecer e desaparecer de acordo com o tempo e o espaço.
Assim, após a conceituação dos direitos difusos e da exposição de suas características, passemos ao estudo dos direitos coletivos stricto sensu.
Verifica-se que os direitos coletivos, assim como os difusos, são indivisíveis e são inerentes a pessoas indeterminadas. Quais seriam, então, as diferenças entre esses dois tipos de direitos coletivos lato sensu?
Primeiramente, com relação à questão da indeterminação dos sujeitos, deve-se frisar que no caso dos direitos coletivos stricto sensu, as pessoas são indeterminadas mas determináveis, ao contrário dos direitos difusos, em que os sujeitos são indeterminados e indetermináveis.
A possibilidade de as pessoas serem determinadas nos direitos coletivos está no fato de que existe um vínculo mais sólido entre elas, pois há uma relação jurídica em comum entre os membros de uma classe, grupo, categoria... Já na situação dos direitos difusos, vimos que não há um vínculo jurídico pré-estabelecido, sendo que a situação fática acidental que une os interessados difusos.
A peculiaridade dos coletivos consiste na indivisibilidade decorrente da existência, como reflexo da situação da vida onde auferem sua gênese, de uma relação jurídica de direito material comum, inerente a todos os envolvidos na categoria considerada.(LEONEL, 1998).
Leonel (1998) sintetiza com muita propriedade no tocante aos direitos coletivos e difusos.
Tanto os difusos como os coletivos são efetivamente (essencialmente) transindividuais, e os respectivos titulares, indeterminados e indetermináveis (os primeiros), e indeterminados, porém determináveis (os últimos). Ambos possuem como objeto bem indivisível, de sorte que a lesão a um implica a lesão ao todo, e o benefício concedido a um a todos aproveita. Distinção evidente é que os difusos são originados em circunstâncias de fato, ao passo que os coletivos propriamente ditos nascem de uma relação jurídica base. (LEONEL, 1998, p. 110)
Por último, resta somente a análise dos Direito Individuais Homogêneos, previstos no artigo 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, para que se complete o breve estudo a respeito da classificação tríplice dos direitos coletivos.
Na verdade, a inserção dos direitos individuais homogêneos na categoria de direitos coletivos foi opção do legislador, tendo em vista que possuem características que permitem que cada interessado pleiteie seu direito individualmente em juízo.
O tratamento processual coletivo conferido a estes interesses decorre da conveniência da aplicação a eles das técnicas de tutela coletiva. Sua implementação configura opção de política legislativa. Na essência, são interesses individuais e nada impede a demanda atomizada de cada qual dos titulares, com v. g., obtenção de indenização a título pessoal pelos danos sofridos. (LEONEL, 1998, p. 108)
Tais direitos possuem titulares indeterminados, mas determináveis, assim como os direitos coletivos stricto sensu. Entretanto, o que diferencia os direitos individuais homogêneos dos demais direitos coletivos é o fato de que o objeto é divisível e de que não relação jurídica definida que interligam os interessados.
O estudo desta classificação é imprescindível para a futura análise do tema central deste trabalho, sendo que a legislação brasileira, inclusive a Constituição da República de 1988, adota esta classificação, estando os efeitos da coisa julgada vinculados à espécie de direitos (interesses) coletivos discutidos na ação.
3.2 – A Legitimação para agir: classificação e aplicação no processo coletivo brasileiro
Um ponto muito interessante é a questão da legitimação para agir no processo coletivo. Para isso, é pertinente a análise do entendimento doutrinário a respeito da legitimidade no processo individual, tendo em vista que a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, marco teórico adotado neste trabalho, estabelece uma forte crítica ao modelo tradicional de legitimidade para agir conforme discorreremos noutro capítulo.
Em breve palavras, a legitimidade nada mais é do que a conjugação da situação jurídica da parte, o que se postulou em juízo, e a situação legitimante, que consiste no que está previsto em lei para a posição jurídica atribuída pela pessoa envolvida.
Tem-se que a legitimidade, ativa e passiva, é uma das condições da ação, que fazem parte do denominado Trinômio de Liebman, ressaltando-se que a mesma está prevista expressamente no Código de Processo Civil Brasileiro.
A legitimidade para agir divide-se, tradicionalmente, em legitimidade ordinária e extraordinária.
A legitimação é ordinária (MOREIRA, 1969, p. 10) quando há uma coincidência entre a situação legitimante e aquela manifestada em juízo. A sentença recairá diretamente sobre a esfera jurídica própria do titular da situação jurídica deduzida. Será por sua vez extraordinária a legitimação se a situação legitimante, embora não tendo criado correspondência com o próprio titular da situação jurídica deduzida em juízo, ocasiona uma sentença que terá para ele efeitos em sua esfera jurídica, gerados pela atuação do legitimado. Ou seja, na legitimação extraordinária alguém age no processo como legitimado, participando da formação de sentenças cujos resultados incidirão na órbita jurídica de terceiros. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Pode-se classificar a legitimação extraordinária em autônoma e subordinada, conforme discorre José Carlos Barbosa Moreira.
A legitimação extraordinária autônoma ocorre quando o legitimado age de forma independente como representante daquele que seria o legitimado ordinário relacionado a determinada situação legitimante definida em lei. Em oposição, tem-se a legitimação extraordinária subordinada, que consiste na hipótese em que há uma prévia instauração da demanda pelo legitimado ordinário, podendo, juntamente com o mesmo, o legitimado extraordinário subordinado participar em razão de uma situação subjetiva da qual é titular.
Deve-se frisar, também, que a legitimação extraordinária autônoma subdivide-se em exclusiva e concorrente.
No caso da legitimação extraordinária autônoma exclusiva, a parte principal é somente o legitimado extraordinário. Já a legitimação concorrente possibilita a participação do legitimado ordinário e do extraordinário, ambos separadamente ou em conjunto, não interferindo na regularidade do contraditório.
Com relação à legitimação extraordinária autônoma e concorrente, verifica-se que esta se subdivide em primária e subsidiária.
A legitimação extraordinária autônoma concorrente e primária ocorre quando qualquer um dos legitimados pode agir sem qualquer vinculação à ação do outro. Já a legitimação concorrente subsidiária advém da inércia do legitimado ordinário no prazo determinado, o que possibilita o ajuizamento e prosseguimento da ação pelo legitimado extraordinário.
No caso das hipóteses de legitimação extraordinária autônoma, manifesta-se o fenômeno da substituição processual, que a doutrina assim classifica para designar o fato de alguém agir em nome próprio na defesa de interesse alheio. Barbosa Moreira (1969, p. 12), embora reconheça a difusão da terminologia, entende que ela não é a melhor, porque o que se denomina de substituição processual deveria merecer a nomenclatura de “legitimação extraordinária autônoma exclusiva”, uma vez que em rigor lógico somente nesta última é que a lei substitui (retira coisa ou pessoa para em seu lugar colocar outra) o legitimado ordinário pelo extraordinário. (MACIEL JÚNIOR, 2006).
Somado a isso, tem-se, conforme já dito, a legitimação extraordinária subordinada, sendo que, neste caso, necessita-se da instauração do contraditório pelo legitimado ordinário, mas os legitimados extraordinários participam da demanda conjuntamente àquele.
Ephraim de Campos Jr. (1985, p. 86-96) admite grandes dificuldades enfrentadas na questão da legitimação quando se trata dos interesses coletivos ou difusos em face de haver um declínio da concepção individualista do processo, normalmente centrada nas relações intersubjetivas, para a adoção de uma nova perspectiva, hoje direcionada para a solução de conflitos metaindividuais. Para o autor, a solução da legitimidade nessas categorias de interesses poedria ser encontrada com a admissão da substituição processual, adotando-se a legitimação extraordinária concorrente dos diversos co-interessados, o que viabilizam uma tutela efetiva com o favorecimento de todos os substituídos em virtude da atividade do substituto. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Nesse passo, para uma análise crítica em capítulo posterior, faz-se necessário demonstrar como é tratada a legitimação para agir na legislação brasileira sobre processo coletivo, tomando como exemplos a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular.
Na lei 7.347/85, que versa sobre Ação Civil Pública, em seu artigo 5º, os legitimados ativos são: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações que estejam constituídas há pelo menos um ano e que tenham como finalidade a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Esse também é o rol de legitimados estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 82.
Essa legitimação coletiva é concorrente na medida em que todos os legitimados enumerados nos dispositivos legais supracitados têm a faculdade de ajuizar a ação coletiva, não havendo prioridade de um com relação ao outro. Além disso, a legitimidade ativa é disjuntiva, pois um legitimado pode ajuizar a ação independentemente da presença dos outros legitimados legais.
Nesse sentido, vale ressaltar que é possível, segundo Gregório Assagra de Almeida, o litisconsórcio ativo nas ações coletivas, tendo em vista justamente o fato de que a legitimidade é disjuntiva e concorrente, sendo que o litisconsórcio deve ser necessariamente unitário.
É admissível o litisconsórcio ativo com restrições na ação civil pública; o previsto para o pólo ativo, na espécie, é o ativo facultativo (§3º do art. 5º da Lei 7.347/85). Contudo, em havendo litisconsórcio ativo facultativo na ação civil pública, ele será, pelo menos em tese, unitário, pois todos os legitimados ativos coletivos serão atingidos de forma unitária pelo provimento jurisdicional final (incindibilidade para os demandantes coletivos da res in judicium deducta). (ALMEIDA, 2007)
Quanto ao litisconsórcio passivo, constata-se que também é possível, sendo que, neste caso, poderá ser facultativo ou necessário e unitário ou simples.
Noutro giro, frise-se que a questão da legitimidade para agir no processo coletivo está dentre aqueles institutos que precisam ser questionados ante o surgimento do Estado Democrático de Direito. Ressalte-se, inclusive, que este estudo influencia muito na idéia de coisa julgada.
Aqui a questão que se coloca é a seguinte: será que é razoável no Brasil a ampliação da legitimidade ativa nas ações coletivas, como na ação civil pública, para qualquer pessoa física para a defesa dos direitos difusos e para membro do grupo para a defesa dos direitos ou interesses coletivos e individuais homogêneos? A opção constitucional já não foi legitimar o cidadão para a ação popular, nas hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5º, LXXIII, da CF)? Esse é um grande debate que deve ser travado no País, especialmente no contexto do movimento pela codificação do direito processual coletivo brasileiro. (ALMEIDA, 2007).
Lado outro, tem-se que a doutrina, buscando enquadrar essa legitimidade à classificação adotada para o processo individual, enfrenta o debate a respeito da natureza jurídica da legitimidade ativa na Ação Civil Pública.
A questão é polêmica: a) há quem sustente que se trata de legitimidade extraordinária e, por isso, os legitimados ativos seriam substitutos processuais (doutrina clássica e maioria da jurisprudência); b) há também quem sustente que se trata de legitimidade anômala do tipo misto (ordinária e extraordinária), pois seria uma legitimidade ativa ordinária sui generis com motivos e traços da legitimidade extraoridinária; e c) há quem sustente, com base na doutrina alemã, que em relação à tutela de direitos difusos e coletivos em sentido estrito, que são os que possuem dimensão essencialmente coletiva, estar-se-ia diante de uma legitimação autônoma para a condução do processo ( selbständige ProzeBführungsbefugnis), que seria uma espécie diferenciada de legitimidade ordinária que decorre da lei e da afirmação do direito, sem que em relação a ela seja necessário o questionamento sobre a titularidade substancial do direito transindividual, difuso ou coletivo, pleiteado; contudo, diz essa doutrina que se tutela for de direitos individuais homogêneos, que são os de dimensão acidentalmente ou artificialmente coletiva, a legitimidade coletiva ativa seria extraordinária e haveria substituição processual, pois esses direitos são divisíveis e seus titulares são pessoas determinadas ou facilmente determináveis; d) há até mesmo os que afirmam que se trata de espécie do gênero legitimidade ordinária, sendo nesse sentido o entendimento já sustentado por Kazuo Watanabe. (ALMEIDA, 2007).
Tal discussão exemplifica com muita clareza como o processo coletivo brasileiro ainda é influenciado por teorias criadas sob a ótica do processo individual, o que será alvo de críticas no capítulo seguinte.
No caso em questão, percebe-se que a doutrina majoritária aplica a classificação de legitimidade para agir nas ações coletivas, não obstante ter sido formulada sob o enfoque do processo civil individual.
Com relação à Ação Popular, observa-se que o artigo 1º da lei 4.717/65 e o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República prevêem que a legitimidade ativa da ação popular é restrita ao cidadão.
A doutrina clássica defende que o legitimado ativo da ação popular é somente aquele cidadão que goza de direitos políticos, dentre eles o direito de votar, sendo este o entendimento de Rodolfo de Camargo Mancuso, por exemplo.
Entretanto, uma parte da doutrina, como Gregório Assagra de Almeida, entende que a palavra cidadão não se restringe àquele nacional que tem direito ao voto, estando a legitimidade ativa, no caso da Ação Popular, relacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador do Estado Democrático de Direito.
Destarte, todos os que devem ser respeitados na sua dignidade de pessoa humana têm legitimidade ativa para o ajuizamento de ação popular: o analfabeto que não se alistou; os maiores de 70 (setenta) anos, cujo voto também é facultativo; os que não estejam em dia com o serviço eleitoral; os presos, etc. Interpretação em sentido contrário esbarra nos princípios comezinhos de interpretação constitucional. (ALMEIDA, 2007)
Frise-se, ainda, que aqui também há a divergência quanto à natureza da legitimidade, se é ordinária ou extraordinária, o que demonstra, mais uma vez, o quanto a doutrina tradicional busca adequar os conceitos do direito individual ao processo coletivo.
Quanto à legitimidade passiva percebe-se que ela é ampla, podendo ser proposta a ação em face das pessoas jurídicas ou privadas; das entidades referidas no artigo 1º da Lei de Ação Popular; das autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão; dos beneficiários diretos.
Por último, em síntese, vale ressaltar que o estudo da legitimidade para agir no processo coletivo é importante, tendo em vista que esse tema influencia muito a forma como se concebe a coisa julgada nas ações coletivas.
3.3 – A Coisa Julgada no Processo Coletivo e a legislação especial
No processo individual, verifica-se que a coisa julgada produz efeitos exclusivamente inter partes, sendo também considerada pro et contra. Ou seja, independentemente da procedência ou improcedência do pedido, a decisão afetará apenas as partes do processo.
Diversamente do que ocorre no processo individual, a coisa julgada no processo coletivo não se estabelece pro et contra, tendo em vista que a existência dos efeitos, que podem ser erga omnes ou ultra partes, dependem do resultado do processo.
O que se tem no processo coletivo é a chamada coisa julgada secundum eventum litis, ou melhor, segundo o evento da lide.
Ante o estudo da coisa julgada secundum eventum litis, vale ressaltar como a coisa julgada está prevista na legislação infraconstitucional brasileira sobre processo coletivo, composta por três grandes normas: Lei 7.347/85 sobre Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei que versa sobre Ação Popular, de número 4.717/65.
A aplicação da coisa julgada nas ações previstas na legislação especial somente existirá se implementadas algumas condições, o que demonstra a adoção da chamada coisa julgada secundum eventum litis no sistema brasileiro.
O artigo 16 da Lei 7347/85 prevê que, nas ações civis públicas, haverá coisa julgada com efeitos erga omnes. Entretanto, ressalva o dispositivo que, se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, não haverá coisa julgada.
Frise-se, ainda, que o artigo determina que a coisa julgada na ação civil pública produz seus efeitos erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Tal restrição foi introduzida à Lei 7347/85 em 1997 através da Lei 9494/97, que é resultado da conversão da Medida Provisória 1570/97 em lei.
Trata-se de alteração retrógrada e inconstitucional. Primeiro porque ela veio a confundir limites subjetivos da coisa julgada com questão de competência. Depois porque não se trata de alteração razoável, já que ela visou, na verdade, despotencializar a coisa julgada coletiva, que faz parte do direito constitucional a uma tutela jurisdicional adequada. (ALMEIDA, 2007)
A restrição citada viola o direito de ação previsto no artigo 5º da Constituição da República, sendo que a alteração no artigo 16 da LACP pode ser considerada ineficaz, tendo em vista a existência dos artigos 18 da LAP e 103 do CDC aplicáveis às ações civis públicas sob o fundamento legal dos artigos 90 do CDC e 21 da LACP.
Contudo, apesar da clara inconstitucionalidade do dispositivo legal, verifica-se que é controverso o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
Observa-se que foi ajuizada a ADI 1576-1, Rel. Min. Marco Aurélio, contra a Medida Provisória 1570/97, mas foi negada liminar. Na sequência, a mencionada medida provisória foi convertida na Lei 9.494/97 e a ADI 1576-1 foi julgada prejudicada por decisão monocrática, de sorte que não houve decisão de mérito do STF sobre a constitucionalidade ou não da alteração levada a efeito no art. 16 da LACP. (ALMEIDA, 2007)
Noutro giro, constata-se que o instituto da coisa julgada é previsto de forma diferenciada no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 103 do CDC prevê três tipos de coisa julgada, levando-se em consideração o direito coletivo, lato sensu, discutido na ação.
A coisa julgada coletiva pelo regime do CDC (art. 103) utiliza-se dos critérios secundum eventum litis (segundo o resultado do julgamento) e secundum eventum probationis (segundo o resultado da prova).(ALMEIDA, 2007)
Em seu inciso I, tal dispositivo legal trata dos direitos difusos, determinando que nas ações coletivas que versem sobre estes direitos, a coisa julgada tem efeitos erga omnes, exceto se houver improcedência por insuficiência de provas, ocorrendo a coisa julgada secundum eventum probationis.
Ademais, o mesmo artigo dispõe no seu § 1º que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais, observando-se que a improcedência não pode impedir o ajuizamento de ações individuais pelos interessados.
Ressalte-se, ainda, que, em caso de procedência, o § 3º do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de se aplicar a transferência in utilibus dessa coisa julgada coletiva para o plano individual.
Art. 103. § 3º. CDC. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos artigos 96 a 99.
Gregório Assagra de Almeida, em sua obra sobre ações constitucionais, elogia a adoção da coisa julgada secundum eventum litis no direito brasileiro, fazendo uma crítica às class actions do direito americano.
Assim, a opção do sistema pátrio pelo sistema da coisa julgada coletiva secundum eventum litis, no qual a coisa julgada coletiva somente poderá beneficiar o indivíduo, foi, pelo menos em tese, mais vantajosa do que o regime do opt out das class actions do sistema norte-americano, pois nesse sistema alienígena os indivíduos integrantes do grupo, categoria ou classe de pessoas somente não serão atingidos pela coisa julgada pro et contra se pedirem a sua exclusão das hipóteses de incidência do julgado. (ALMEIDA, 2007)
Lado outro, com relação aos direitos coletivos stricto sensu, o artigo 103 do CDC estabelece que a sentença fará coisa julgada ultra partes restritivamente ao grupo, categoria ou classe, exceto no caso de improcedência do pedido por insuficiência de provas, assim como na hipótese dos direitos difusos, desde que haja prova nova.
Os efeitos serão ultra partes, pois atingem não somente as partes litigantes, mas, também, a todos os integrantes do grupo, classe ou categoria, diferenciando-se dos efeitos erga omnes aplicáveis às sentenças de ações envolvendo direitos difusos, tendo em vista que neste último caso os efeitos atingem a todos as pessoas da comunidade.
A improcedência também não prejudicará o ajuizamento de ações individuais pelos interessados (art. 103, §1º, do CPC), mas em havendo a procedência do pedido em caso de tutela dos direitos coletivos em sentido estrito, igualmente é cabível a transferência in utilibus dessa coisa julgada coletiva para o plano individual (art. 103, § 3º, do CDC) (ALMEIDA, 2007).
Quanto às ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos, verifica-se que o artigo 103 no inciso III do CDC dispõe que haverá coisa julgada erga omnes em se tratando de procedência do pedido.
Na hipótese de improcedência, haverá coisa julgada com efeitos restritos às partes e aos interessados que intervieram no processo como litisconsortes, sendo que os que não o fizeram poderão propor ação de indenização a título individual, conforme o § 2º do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante à coisa julgada secundum eventum probationis, aplicável nos casos de direitos difusos e coletivos em sentido estrito, tem-se que a problemática encontrada na doutrina é quanto à identificação, na prática, do conteúdo da sentença improcedente: se foi por insuficiência de provas ou não.
O respeitável jurista Eduardo Arruda Alvim defende que o magistrado deve identificar de forma expressa na sentença se a improcedência foi em razão de insuficiência de provas ou não. Se o juiz assim não o fizer, a parte interessada poderá interpor embargos de declaração no prazo legal ou, caso o trânsito em julgado já tenha ocorrido, caberá ação rescisória no prazo de dois anos.
Em oposição, Ada Pellegrini Grinover e Gregório de Assagra Almeida entendem que na sentença de improcedência proferida nas ações sobre direitos difusos e coletivos estaria implícita a cláusula rebus sic stantibus.
Todavia, vale ressaltar que esses dois doutrinadores divergem apenas no que diz respeito a quais provas poderiam ser utilizadas na nova ação.
Grinover estabelece que apenas as provas surgidas após o trânsito em julgado do primeiro processo. Já Almeida defende que as provas que existiam antes do fim da ação também podem ser tidas como fundamento para o ajuizamento de nova ação coletiva desde que não tenham sido utilizadas, por motivo plausível, em processo anterior.
Por último, resta a análise acerca da coisa julgada na Ação Popular prevista no artigo 18 da lei 4717/65.
Lei 4717/65.Art. 18.A sentença terá eficácia de coisa julgada erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Verifica-se que a coisa julgada na Ação Popular é tratada da mesma forma que na Ação Civil Pública, ressaltando-se que a Lei 4.717/65 serviu de inspiração para a elaboração da Lei 7.347/85.
Ressalte-se, apenas, que no artigo 18 da Lei de Ação Popular os efeitos não estão limitados à competência territorial do órgão prolator da decisão, diferentemente da Ação Civil Pública. Ademais, não está prevista a hipótese de transferência in utilibus da coisa julgada coletiva.
Diante do exposto, observa-se a diferença de entendimentos a respeito da coisa julgada nas leis sobre ações coletivas. Não seria melhor o entendimento uniforme sobre o tema para qualquer tipo de ação coletiva?
4 A COISA JULGADA NA TEORIA DAS AÇÕES COLETIVAS COMO AÇÕES TEMÁTICAS
Após a análise da evolução histórica do processo coletivo e da coisa julgada sob o ponto de vista do individualismo e o estudo dos conceitos jurídicos aplicáveis às ações coletivas, passa-se, agora, ao tema central do presente trabalho.
A partir da Teoria das Ações Coletivas como Ações Coletivas, marco teórico adotado, far-se-á uma crítica ao modelo de processo coletivo adotado no Direito Brasileiro.
Pensamos ser essencial uma tentativa de estruturação de uma teoria que sirva de base para um salto qualitativo no processo coletivo. Temos de rever, aprofundar, compreender os conceitos que estão na base do direito coletivo, no intuito de perquirir qual o melhor modelo para a construção de uma efetiva tutela dos direitos coletivos através do processo. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Pretende-se questionar primeiramente a classificação tradicional de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O que se procura debater é se a denominação interesse seria cabível no caso dos direitos coletivos. Para isso, faz-se necessária a análise crítica da Teoria de Rudolf Von Ihering a respeito do tema do interesse.
Em seguida, trataremos sobre a questão da legitimidade para agir no processo coletivo, buscando demonstrar o quão desconforme com o modelo constitucional do Estado Democrático de Direito é a legislação brasileira sobre o tema.
Somado a isso, utilizando desses conceitos, será exposta a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas formulada por Vicente de Paula Maciel Júnior, que buscou traçar novos contornos para o processo coletivo em oposição ao entendimento da doutrina tradicional.
Por último, após o estudo do marco teórico adotado, buscar-se-á formular um conceito adequado de coisa julgada nas ações coletivas na perspectiva das ações temáticas, tratando, principalmente, dos efeitos desse instituto jurídico.
4.1- A Dicotomia entre Interesse e Direito
No estudo do Direito Processual, a análise do direito material envolvido é imprescindível para justificar o procedimento judicial utilizado para a tutela do direito.
Nesse sentido, demonstra-se relevante dissertarmos a respeito dos direitos coletivos lato sensu, objeto material das ações coletivas, sob o ponto de vista de Vicente de Paula Maciel Júnior.
Para isso, deve ser posta em questão a classificação interesses difusos, interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. Entretanto, partindo dos estudos de Maciel, estaria certa esta divisão? O que significa o termo interesse? Pode ser o interesse considerado sinônimo de direito?
Assim, para entender tal terminologia e responder a esses questionamentos, passaremos ao estudo da Teoria de Rudolf Von Ihering, doutrinador utilitarista que inspirou a classificação tripartite supracitada.
A doutrina utilitarista defende, em suma, que o interesse aproxima-se da idéia de utilidade, valor e necessidade.
Nesse passo, Ihering estabelece que, uma vez que o interesse é considerado útil e necessário, o legislador lhe dá a devida importância e produz uma norma jurídica para protegê-lo, o que configura o direito subjetivo. O direito subjetivo para Ihering nada mais é do que um interesse juridicamente tutelado, demonstrando-se que aquele autor defendia que interesse e direito são sinônimos.
Ihering (1946, p. 180-181) entendia que os direitos não existem apenas para realizar a idéia de vontade jurídica abstrata. Servem para garantir os interesses da vida, ajudar as suas necessidades e realizar fins. (MACIEL JUNIOR, 2006)
Partindo desta teoria, a doutrina clássica divide os interesses em três categorias gerais: o individual, o coletivo e o público.
Diante disso, constata-se, conforme já dito, que a Teoria de Ihering influenciou a classificação do objeto material das ações coletivas em interesses coletivos (difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos).
Ocorre, entretanto, que a Teoria Utilitarista de Ihering merece algumas críticas, principalmente no tocante à equiparação de direito a interesse, termos diferenciados que são considerados sinônimos.
O equívoco metodológico de Ihering consistiu em pressupor que o interesse somente teria importância para o direito a partir do momento em que houvesse a previsão legal de tutela desse interesse. O interesse que importaria ao direito seria um interesse juridicamente tutelado, ou seja, um direito. Não haveria, segundo essa concepção, a razão para a diferenciação ontológica entre interesses e direitos. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Os interesses são manifestações individuais de vontade, que necessitam da existência de um processo de validação para que possam ser considerados direitos. Assim, todo direito pressupõe a existência de um interesse, mas o contrário não é verdadeiro.
Ocorre que os interesses, além daqueles juridicamente tutelados, merecem consideração, tendo em vista que, com o desenvolvimento da sociedade humana, passou-se a reconhecer direitos que não eram expressos em lei, não obstante a sua existência.
Os chamados interesses e direitos coletivos e difusos são exemplos disso. A legislação brasileira, em diversas passagens fala da tutela dos interesses e direitos difusos, coletivos. A nomenclatura revela que haveria uma distinção entre as expressões. Se adotássemos a definição de Ihering de que os direitos são interesses juridicamente tutelados, teríamos de admitir que tanto os interesses quanto os direitos difusos representam exatamente a mesma coisa, não havendo divergência ontológica entre as expressões, que cairiam no vazio. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Todavia, sob a perspectiva da Teoria de Vicente de Paula Maciel Júnior, a nomenclatura interesse difuso e coletivo não existiria, tendo em vista que os interesses dizem respeito a manifestações volitivas com relação a um bem.
Os interesses sempre estão vinculados ao psíquico de um indivíduo. Necessário se faz que o manifestante de um interesse específico seja determinado e determinável. O que se pode falar é em interessados difusos e coletivos.
A análise da doutrina majoritária, que se baseia na Teoria Utilitarista, leva em consideração o aspecto subjetivo para a classificação de interesses difusos. Contudo, a questão da indeterminação dos sujeitos não é o melhor critério classificatório no caso em questão, mas, sim, a circunstância de fato.
Se a abrangência do fato for tamanha que não se possa identificar o número de interessados individuais no mesmo estaremos diante de interessados difusos. Se o fato atingiu um número de interessados pertencentes a um grupo organizado e associado teremos os interessados coletivos. Se, por outro lado, o fato atinge um número determinável de indivíduos não organizados ou associados, mas que manifestam de modo homogêneo os interesses que se harmonizam, temos os interessados homogêneos. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Diante da inviabilidade da denominação interesses coletivos (lato sensu), verifica-se que a melhor forma de classificar o objeto das ações coletivas é dividi-lo em direitos coletivos, direitos difusos e direitos individuais homogêneos.
4.2 – A legitimação de agir: sobre a necessidade da atuação dos interessados coletivos e difusos
O questionamento acerca do modelo de legitimação de agir na ação coletiva é imprescindível para o estudo da coisa julgada coletiva, principalmente com relação aos limites subjetivos da mesma.
É fato que a legitimidade para agir está vinculada ao direito objeto da ação coletiva, o que justifica a diferenciação entre o rol de legitimados para ações que versam sobre direitos difusos das que tratam de direitos coletivos stricto sensu.
Quanto à ação coletiva sobre direito coletivo em sentido estrito, tem-se que os legitimados são representantes da chamada vontade coletiva de um grupo ou categoria.
Existe, portanto, a “vontade coletiva”, que é a expressão do consenso obtido entre as manifestações de interesse, por um processo válido de legitimação e escolha do interesse prevalente. Mas não existe interesse coletivo, porque o interesse é individual e mesmo considerando a manifestação desse interesse perante outras pessoas que deverão deliberar sobre a prevalência de um interesse determinante, os interessados dissidentes poderão continuar pensando e manifestando seus interessados individuais contrários. Só que a pessoa jurídica que os representa deverá agir segundo a vontade coletiva prevalente e nesse sentido direcionar suas ações. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 154)
Verifica-se, portanto, que, uma vez que há um processo de escolha do representante do grupo para atuar na ação coletiva, a legitimação é válida, não se exigindo que o interessado coletivo participe diretamente do processo judicial.
A problemática se encontra, na verdade, no tocante aos direitos difusos, sendo incorreta a afirmação de que há uma vontade difusa, pois não há uma organização desses direitos para o estabelecimento da vontade da maioria.
Enquanto no direito coletivo stricto sensu temos um bem comum e sobre ele haverá a manifestação de uma série de interessados para que, segundo os estatutos e a lei seja extraída a vontade comum, esse processo não existe no direito difuso. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Verifica-se que na legislação brasileira a legitimidade para as ações sobre direito difuso não é atribuída aos interessados diretos. Na Lei de Ação Civil Pública, por exemplo, a legitimidade é atribuída ao Ministério Público, que poderá atuar em uma ação em nome dos interessados difusos, indeterminados e indetermináveis.
Nesse sentido, o modelo de legitimação no processo coletivo merece críticas, tendo em vista que os representantes legais dos interessados difusos não são escolhidos mediante prévio processo de validação, diferentemente do que ocorre no caso dos direitos coletivos.
Tratando-se de interesse difusos, o ideal seria que a legitimação fosse também difusa, isto é, aberta a todos os interessados. O instrumento processual hábil seria a vetusta actio popularis, do direito romano, através da qual, os cidadãos – cuivis de populo – participavam da res publica, esta englobando o erário, a ordem pública, a família, a gens e os valores morais e religiosos – as rei sacrae da comunidade. (MANCUSO, 2004, p. 190)
Para fundamentar a sua crítica quanto à questão da legitimação no tocante aos direitos difusos, Vicente de Paula Maciel Júnior adotou como marco teórico a Teoria Objetiva, combatendo a Teoria Subjetiva tão defendida por Vincenzo Vigoriti, por grande parte da doutrina e por diversas legislações sobre processo coletivo.
Entretanto, é a teoria objetiva que melhor explica o problema dos direitos difusos. Segundo essa perspectiva, como esclarece Vigoriti, a definição dos direitos difusos seria definida a partir do bem envolvido. Isso significa que os legitimados para a demanda coletiva seriam todos aqueles que são direta ou indiretamente afetados pela situação jurídica que atinge um determinado bem. A legitimação seria construída nesse modelo a partir do bem, para saber quais pessoas foram atingidas pelos fatos que o envolveram. Vigoriti expressamente rejeita essa linha de pesquisa e acata a teoria subjetiva, sob a justificativa de que ela transforma em legitimados para a ação todos aqueles que são atingidos pela modificação sofrida pelo bem e isso inviabilizaria a própria ação coletiva. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 156)
Ocorre que o problema da legitimação para agir quando se trata de direitos difusos está ligado exatamente ao entendimento trazido pela Teoria Subjetiva, vez que esta submete o processo coletivo à principiologia do processo civil individual.
Nesse passo, os defensores da Teoria Subjetiva entendem que os institutos do processo civil individual, inclusive o da legitimidade, devem ser aplicados nos mesmos moldes no processo coletivo.
Partindo dessa relação entre processo individual e coletivo, os subjetivistas optaram pela restrição da legitimação para agir nas ações coletivas, conforme disserta muito bem Vicente de Paula Maciel Júnior.
Ao optar pela teoria subjetiva, Vigoriti e todos aqueles que o seguiram submeteram o processo coletivo ao conhecido padrão do processo civil individual, procurando explicar e aplicar-lhes seus institutos, o que acabou justificando juridicamente os movimentos políticos desejosos de um maior controle e limitação sobre legitimação para agir. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 156)
Seguindo essa perspectiva, o legislador brasileiro restringiu a legitimação para agir nas ações coletivas, atribuindo-a às associações e a órgãos e entidades públicas como se viu no capítulo anterior deste trabalho, ocorrendo, então, o caso de legitimação extraordinária.
Ora, verifica-se que o legislador brasileiro retirou a legitimidade para agir nas ações coletivas dos interessados, como se constata na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Direito do Consumidor por exemplo.
Entretanto, considerando-se que a Constituição da República vigente trouxe como alternativa o Estado Democrático de Direito, merece críticas a restrição da legitimidade nas ações coletivas, tendo em vista que os interessados são excluídos do rol de legitimados não obstante a existência de interesse.
Ademais, por estarmos sob o pálio de um Estado Democrático de Direito, que se obrigou a apreciar lesões ou ameaças a direito, deve-se conceder aos interessados a legitimação para agir nos processos coletivos pertinentes a fatos que repercutam difusamente. Permitir a apenas alguns órgãos a legitimação para agir nesses casos, seria afrontar o modelo de Estado e ofender a garantia constitucional. (TEIXEIRA, 2006, p. 360)
Lado outro, não só há uma restrição na legitimação, como também é atribuída exclusivamente aos órgãos e às associações a análise de qual interesse será tutelado, não havendo um processo deliberativo para essa escolha, diferentemente do que ocorre com relação aos direitos coletivos.
Enquanto na ação coletiva ocorre um processo deliberativo para a fixação da vontade coletiva, no direito difuso isso não ocorre. Significa que os interessados difusos sequer chegam a manifestar seus interesses. Um órgão ou associação interpretará que o interesse que deve ser tutelado é X ou Y e farão sua defesa em juízo.(MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 156)
No direito difuso, a legitimação, seguindo a Teoria objetiva, deve ser definida tomando como parâmetro o bem, fatos e direitos que afetarão um número indeterminado de indivíduos.
Destarte, haverá uma decisão sobre o litígio que afetará os interessados difusos. Portanto, estes indivíduos devem participar da construção do provimento final, tendo em vista que serão afetados por ele.
Somado a isso, o que levou o legislador a crer que os legitimados elencados nas leis especiais sobre processo coletivo seriam sempre os adequados para defender os direitos difusos? Será que esses legitimados são mais capacitados do que o indivíduo?
São esses questionamentos que necessitam ser feitos, uma vez que, muitas vezes, os órgãos públicos ou as associações não estão capacitados para defesa de determinados direitos difusos, não possuindo conhecimentos e estrutura que um indivíduo teria.
Como exemplo, tem-se o caso de ação coletiva para tutela de meio ambiente, que pode, em alguns casos, exigir que haja um conhecimento técnico que, raramente, um promotor de justiça, um advogado da união... terão.
Diante do exposto, conclui-se que a melhor solução para o problema da legitimação para agir na defesa de direitos difusos seria a legitimidade concorrente, incluindo o indivíduo interessado, os órgãos públicos e as associações.
A possibilidade de uma tutela ampla e multifacetada é fundamental para garantir uma abordagem sobre o bem objeto de tutela em face de um número indeterminado de interessados.(MACIEL JÚNIOR, 2006).
Apesar da crítica ao modelo atual, Maciel Júnior entende que deve ser mantida a legitimidade dos órgãos e associações, mesmo que haja a inclusão do indivíduo. O jurista afirma que: “A legitimação de outros órgãos, associações , é uma medida importante, porque amplia a possibilidade de uma tutela que abranja o maior número de abordagens sobre o bem”.
Noutro giro, feitas as devidas críticas, vale ressaltar que o estudo da legitimação é imprescindível para a análise do tema central do presente trabalho: a coisa julgada. Esta só ocorrerá no tocante ao discutido na ação coletiva, tendo efeitos erga omnes.
Nesse sentido, até mesmo o interessado difuso que não participa do processo será afetado pela sentença.
Destarte, verifica-se que a atribuição de legitimidade ao indivíduo seria um grande avanço. Permitir-se-ia que o interessado difuso participasse da construção do provimento final, pelo qual é afetado.
É partindo dessa crítica à legitimação no processo coletivo que passamos para o item seguinte, que tratará da coisa julgada sob a perspectiva da Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas.
4.3 – As ações coletivas como ações temáticas e a coisa julgada
Buscando adequar o processo coletivo ao Estado Democrático de Direito foi que Vicente de Paula Maciel Júnior formulou a sua Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, partindo das críticas tecidas ao modelo de legitimação para agir, conforme já demonstrado em item anterior.
Assim disserta Maciel Júnior (2006):
Entendemos que a ação coletiva deve ser uma demanda que viabilize a discussão de “temas”. Esses temas são os fatos ou situações jurídicas que afetam os interessados. Assim, por exemplo, a construção de uma praça pública que gere a destruição de uma grande área verde em um determinado bairro de uma cidade, podendo afetar o manancial de água ou mesmo a qualidade do ar, suscita uma questão ambiental onde diversos interessados poderão ter entendimentos divergentes sobre a questão. Essa questão ambiental referente a determinado fato concreto de uma cidade será o “tema” da ação coletiva. (MACIEL JÚNIOR, 2006, P. 178)
As ações temáticas são, na realidade, ações coletivas que versam sobre um determinado tema, sobre o qual diversos interessados debatem e participam da formação do seu objeto, definido na fase inicial do processo.
Ressalte-se que o que se deve exigir é a concessão de oportunidade para que os interessados contribuam para o provimento final em prol do princípio do contraditório e não a participação efetiva do interessado.
Diante disso, propõe-se, pela teoria em questão, que deve ser estabelecido um prazo pelo juiz, através de edital ou de outros meios de comunicação, para que os interessados difusos compareçam e apresentem seus interesses.
Nesse sentido, ultrapassado, então, esse prazo, não seria mais possível o interessado difuso intervir no processo para a construção do mérito, frisando-se que, ainda assim, será afetado pela decisão final.
No entanto, pretende-se que o maior número possível de interessados atue no processo coletivo, vez que a variedade de entendimentos fará com que a decisão judicial, que gera coisa julgada erga omnes, não tenha uma visão unilateral e represente uma parcela maior de pessoas.
Quanto maior a participação dos interessados na formação do mérito do processo maior será a possibilidade de que esse processo represente o conflito coletivo de forma ampla. Isso é de extrema importância porque terá repercussões nos efeitos da sentença coletiva e na extensão da coisa julgada. (MACIEL JÚNIOR, 2006, P. 179)
Constata-se, então, que a reconstrução do modelo de legitimação para agir é imprescindível para a aplicação da Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas.
Conforme já dito, a legitimidade nas ações coletivas deve ser estendida ao interessado difuso, devendo haver uma legitimação concorrente, com o objetivo, justamente, de se ter uma visão multifacetada sobre um tema que envolva um bem.
É isso o que pretende a Teoria de Vicente de Paula Maciel Júnior.
Mas a legitimação concorrente significa uma liberdade maior na abordagem dos problemas que envolvem o bem e cada interessado pode ter uma posição que não seja em nada, ou seja apenas parcialmente igual à dos demais interessados . Ou seja, as teses defendidas por cada interessado poderiam apresentar-se parcial ou totalmente diferentes umas das outras, entretanto, os efeitos pretendidos envolveriam o mesmo bem objeto da pretensão de todos. (MACIEL JÚNIOR, 2006, P. 182)
Somado a isso, tem-se que essa teoria preocupa-se também com a questão da alteração do objeto do processo após a instauração da ação coletiva.
Maciel Júnior (2006) defende que a formação do mérito deve ser participada durante o processo coletivo, não havendo que se falar em legitimação ativa ou passiva. Há apenas interessados difusos que podem intervir no processo por estarem sujeitos a sofrer os efeitos de uma decisão final.
Nesse passo, entende-se que, ainda que a ação seja ajuizada por uma pessoa somente, todos os interessados difusos poderão participar da demanda, razão pela qual se permite a alteração do objeto.
Se a ação coletiva seguisse aqui o método do processo civil individual ela restringiria o campo de debate sobre o tema objeto da demanda e deixarei á margem de participação um grande número de interessados difusos que não teriam suas questões debatidas no processo. Isso praticamente obrigaria a que os indivíduos que tivessem pontos de vista diferentes sobre a ação coletiva pudessem trazer novas abordagens através de uma infinidade de ações individuais. (MACIEL JÚNIOR, 2006, P. 181)
Entretanto, afirma o autor que é necessário se estabelecer um momento a partir do qual não seria mais permitida a alteração do pedido. É fundamental essa restrição, tendo em vista que, por se tratar de ação sobre direitos difusos, a ação poderia se prolongar de forma a impedir a tutela do bem discutido.
As ações coletivas como ações temáticas permitem, portanto, a participação dos legitimados na formação do provimento, resgatando às partes (interessados difusos), o direito de participação em contraditório no processo decisório que os afetará. (MACIEL JÚNIOR, 2006)
Ante o exposto, percebe-se que a reestruturação proposta pela Teoria das Ações Temáticas, principalmente no tocante à legitimação para agir, tem reflexos em outro instituto de extrema importância para o Direito Processual: a coisa julgada.
A coisa julgada, entendida sob a ótica de Rosemiro Pereira Leal, é a extensão do devido processo legal, que abrange os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, sendo considerada instituto constitucional.
Partindo desse conceito que, a meu ver, se aplica também no processo coletivo, verifica-se que aqueles que sofrerão os efeitos da sentença devem ter ao menos a faculdade de participar da construção do mérito. Ou seja, se não foi oportunizado o contraditório para os interessados difusos, não se poderia fazer coisa julgada em relação aos mesmos, pois a coisa julgada não adviria de um devido processo legal.
Diante disso, uma vez que na legislação a coisa julgada, no caso de ação sobre direitos difusos, tem efeitos erga omnes, é necessário se questionar se esses limites subjetivos são válidos.
Ora, uma vez que a legislação brasileira não permite que todos os interessados difusos participem ativamente do processo coletivo, demonstra-se que os efeitos erga omnes não são válidos, já que são esses interessados os afetados pela decisão.
Entretanto, nos termos da Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, os efeitos erga omnes da coisa julgada passam a ser justificáveis.
Assim discorre Maciel Júnior:
O que será fundamental para estabelecer os limites da demanda e, por conseguinte, da extensão dos futuros efeitos da coisa julgada nas ações coletivas será uma clara definição sobre o mérito ou o conteúdo da demanda, que não será formado apenas pelo objeto do pedido constante na petição inicial, mas pela efetiva oportunidade de ingresso na ação do maior número de interessados difusos que tenham teses diferentes dos já existentes de alterações ou ampliação do mérito da ação proposta, o que é de admissão restritíssima dentro do processo civil individual. (MACIEL JÚNIOR, 2006, P. 180)
Na perspectiva das Ações Temáticas, os interessados difusos devem participar ativamente da construção do mérito, respeitando-se o princípio institutivo do contraditório. É aí que se identifica a importância da idéia de legitimidade para o estudo da coisa julgada.
Nesse passo, assim discorre Aroldo Plínio Gonçalves:
Em relação às partes, os efeitos do provimento determinam a legitimação para agir porque esse efeitos incidirão no patrimônio (universum ius) dos sujeitos que dele são os destinatários, e o princípio do contraditório exige que aqueles que sofrerão tais efeitos tenham a oportunidade de participar da fase de sua formação. Por isso, diz Fazzalari, enquanto são legitimados passivos (perante o provimento), tais sujeitos são legitimados a ‘dizer e contradizer’, são ‘legitimados ao processo’. (GONÇALVES, 1992, p. 146)
O que se verifica é que a defesa de que a coisa julgada estende-se a todos os interessados difusos, tendo efeitos erga omnes, torna-se válida, já que é facultado aos afetados pela decisão final participar do processo coletivo.
Noutro giro, no plano da limitação objetiva, tem-se que a coisa julgada também é erga omnes, limitando-se ao que foi discutido no processo.
Os efeitos erga omnes, nas ações temáticas, podem ser considerados mais democráticos, justamente pelo fato de que o que se busca nessas ações é uma visão multifacetada do tema, permitindo-se a alteração do objeto do pedido inicial.
A importância da ação coletiva fundada em direito difuso ser temática é que ela trará para o seu bojo um conjunto maior de questões para serem discutidas e terá maiores condições de abranger o conflito pelos diversos ângulos que ele possua. Isso será fundamental para que se possa estabelecer uma política legislativa sobre a preclusão das questões referentes ao processo coletivo, afetando diretamente o tema da coisa julgada. (MACIEL JÚNIOR, 2006, P. 181)
Pretende-se que o maior número de interessados difusos apresente os seus interesses, o que contribui para que a decisão final, que fará coisa julgada nos limites do pedido, traga uma análise do maior número de interesses possíveis.
Diante disso, percebe-se quão adequada é a Teoria das Ações Temáticas ao Estado Democrático de Direito, pois a visão do Processo Coletivo é no sentido de permitir aos interessados participarem ativamente, contrariando os ideais paternalistas do Estado Social.
5 CONCLUSÃO
No âmbito de uma comunidade acadêmica em que o estudo dos direitos individuais prevalece, a análise do Direito Coletivo e, principalmente, da forma como serão tutelados judicialmente é um estímulo para o desenvolvimento do Direito Brasileiro.
A complexidade da sociedade contemporânea trouxe consigo diversas questões que afetam um número indeterminado de indivíduos, como os problemas no tocante ao meio ambiente.
Assim, exige-se que o Direito acompanhe as mudanças ocorridas de forma a trazer soluções para os conflitos surgidos juntamente com essas modificações.
O presente trabalho visou contribuir para o estudo do Processo Coletivo, o qual tutela os direitos coletivos, que ganharam força exatamente pela o desenvolvimento da sociedade, que se torna cada dia mais complexa.
Tendo em vista a extensão de temas envolvendo o Processo Coletivo, restringiu-se a pesquisa somente à questão da coisa julgada e seus efeitos nas ações coletivas, assunto de grande relevância, tomando como referência os ideais do Estado Democrático de Direito.
Uma vez que o Brasil adotou na Constituição Cidadã o modelo do Estado Democrático, todos os ramos do Direito devem se estruturar de modo a se adequar ao paradigma constitucional vigente, inclusive o Direito Processual.
Nesse passo, objetivou-se, então, provar através desse trabalho que a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas se adequa ao Estado Democrático de Direito, objetivo evidentemente cumprido.
No paradigma constitucional em questão, um dos ideais é a participação efetiva dos cidadãos na defesa de seus direitos, diferente do Estado Social, onde cabia ao Estado proteger os mais “fracos”, sendo que o indivíduo agia passivamente.
Constatou-se que nas Ações Temáticas os interessados difusos podem atuar efetivamente no processo judicial, contribuindo para a construção do mérito. Não há órgão público tutelando exclusivamente os interesses de diversas pessoas.
Verificando-se que o marco teórico adotado está de acordo com o paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito, todos os institutos processuais, como a coisa julgada, por exemplo, que forem estruturados com base nessa teoria também serão adequados.
Se os interessados difusos pudessem participar da ação coletiva, os efeitos erga omnes da coisa julgada seriam válidos, pois a coisa julgada adviria de um devido processo legal, em que o princípio do contraditório foi respeitado.
Ressalte-se, apenas, que deve ser oportunizado o contraditório a todos os interessados, mas não se exige que todos eles participem efetivamente. Trata-se de uma faculdade do interessado.
Diante disso, conclui-se que merece reforma a legislação brasileira sobre ações coletivas, principalmente no tocante à legitimação para agir, incluindo-se os interessados difusos, o que influenciará diretamente na questão da coisa julgada e de seus efeitos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Gregório Assagra de, Direito Processual Coletivo – Um novo ramo do direito processual. São Paulo: Saraiva, 2007.
ALVIM, Eduardo Arruda. Coisa Julgada e Litispendência no Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. In: GRINOVER, Ada Pelegrini (coord.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 174-193.
ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 11 ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 374p.
BONFIM JR., Carlos Henrique de Morais. Coisa Julgada em Fazzalari, p. 231-296. In: LEAL, Rosemiro Pereira (coord.) Coisa Julgada: de Chiovenda a Fazzalari. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
BRASIL. Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em: . Acesso em: 15 jan. 2008.
BRASIL. Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: . Acesso em: 15 jan. 2008.
CARVALHO NETTO, Menelick de. Controle de constitucionalidade e democracia. In: Antônio G Moreira Maués. (Org.). Constituição e democracia. 1 ed. : Max Limonad, 2001, v. 1, p. 215-232.
CARVALHO NETTO, Menelick de. O requisito essencial da imparcialidade para a decisão constitucionalmente adequada de um caso concreto no paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito. In: RVPGE, 1999, p. 101-115.
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v 1, 1965, A.
DINAMARCO, Cândido R. A instrumentalidade do processo. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2005 413p.
DINIZ, Suzana Rocha Savoi. A coisa julgada no processo coletivo na perspectiva das ações coletivas. 2008. 145f.. Tese (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito.
FERNANDES, Bernardo Gonçalves; PEDRON, Flávio Quinaud. O poder judiciário e(m) crise: reflexões de teoria da constituição e teoria geral do processo sobre o acesso à justiça e as recentes reformas do poder judiciário à luz de: Ronald Dworkin, Klaus Günther e Jürgen Habermas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 306p.
GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992. 219p.
GRINOVER, Adda Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 416p.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.
LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões: no direito processual democrático. 2000. 115f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte.
LEAL, Rosemiro Pereira. Estudos continuados de teoria do processo: volume 1: a pesquisa jurídica no curso de mestrado em direito processual. Porto Alegre: Síntese, 2000 188p. v1.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6ª ed. São Paulo: Thomson, 2005 339p.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. 4ª ed. Porto Alegre: Síntese, 2001.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. 2ª ed. Porto Alegre: Síntese, 1999.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002. 206p.
LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. São Paulo: RT, 1998.
LIEBMAN, Enrico Túlio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, v.1, 1985.
MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. Teoria das Ações Coletivas: as ações coletivas como ações temáticas. São Paulo: LTR, 2006.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 6 ed.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Coisa Julgada e Declaração. In: Temas de Direito Processual. Primeira Série. 2ª ed., p. 90-96. São Paulo: Saraiva, 1988.
NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 1993. 9ª Ed.
SILVA, Luciano Velasque Rocha. Ações Coletivas – O problema da legitimidade para agir. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007.
TEIXEIRA, Renato Patrício. A legitimação para agir no processo coletivo. 2006. 402f.. Tese (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 1. 861p.
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 303 p.
Data de elaboração: dezembro/2009
Diogo Henrique Dias da Silva
Especialista em Direito Processual Civil pelo CEAJUFE. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogado.Código da publicação: 2372
Como citar o texto:
SILVA, Diogo Henrique Dias da..A extensão do instituto da coisa julgada sob o enfoque da teoria das ações coletivas como ações tematicas. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 14, nº 752. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/trabalhos-academicos/2372/a-extensao-instituto-coisa-julgada-sob-enfoque-teoria-acoes-coletivas-como-acoes-tematicas. Acesso em 29 nov. 2011.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.