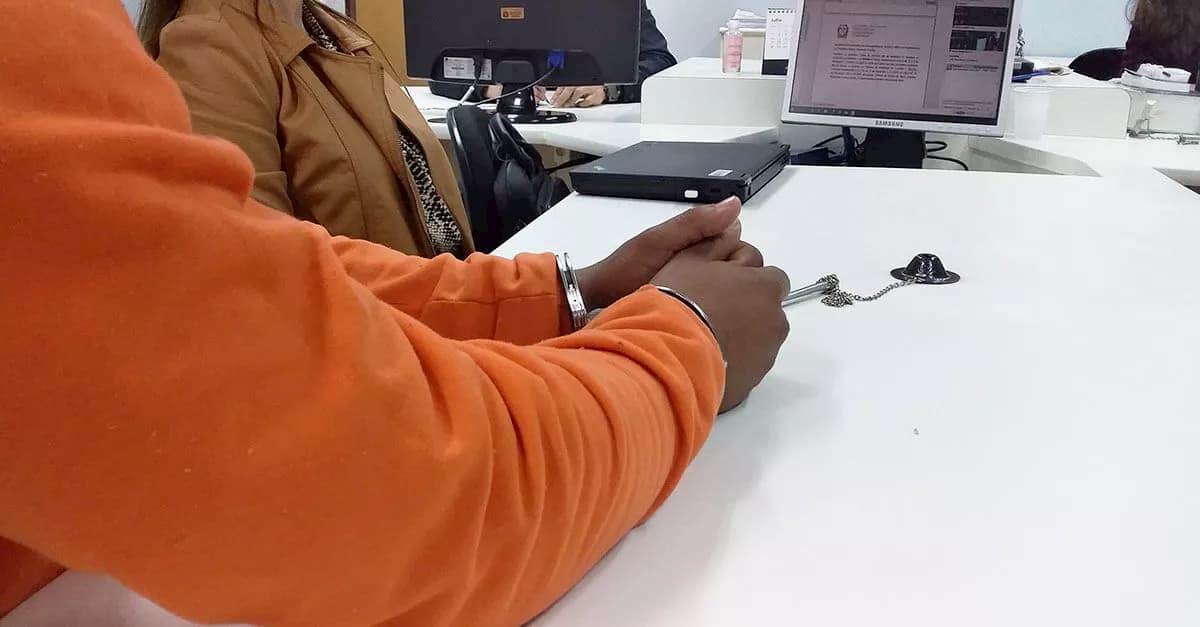O papel assumido por Joaquim Barbosa no redirecionamento da atividade jurisdicional – mais transparente, direta quanto aos seus objetivos, avessa aos circunlóquios que mascaram a finalidade do direito – não é um fato casual, mas um compromisso que foi estabelecido segundo padrões históricos cujos paradigmas se afirmaram contra a “lei” da conveniência.
Introdução
Quando Joaquim Maria Machado de Assis morreu, em 1908, Euclides da Cunha escreveu uma famosa nota fúnebre no “Jornal do Commércio” do Rio de Janeiro, lamentando que o grande escritor tivesse sucumbido cercado de poucos amigos, sem que o país sentisse “uma grande e nobilitadora comoção nacional” diante daquela imensa perda. Porém ressalvou um fato insólito: pouco antes de expirar, Machado recebe a última visita, de um adolescente desconhecido. Os amigos consentem que ele entre. O jovem, então, ajoelha-se à beira do leito e, sem dizer uma palavra, beija a mão do moribundo e se curva sobre seu peito. Em seguida, se retira. Só por grande insistência, diz seu nome reservadamente para o crítico José Veríssimo. Sem saber de quem se tratava quando escreveu a nota fúnebre, Euclides da Cunha especulou que aquele gesto do adolescente talvez fosse o sinal de que as gerações futuras saberiam resgatar a memória e a obra daquele que então tivera um fim tão modesto e negligenciado: “Qualquer que seja o destino dessa criança, ela nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento o seu coração bateu sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo – no meio segundo em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis – aquele menino foi o maior homem de sua Terra.” (Fontes: blogs.estadao.com.br/luiz-zanin/a-ultima-visita e www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/visita-ao-bruxo).
Bem depois, relatado por historiadora da literatura, veio a se saber que o jovem era Astrogildo Pereira, estudante de convicções libertárias e anarquistas, que se tornou jornalista e crítico literário, fundador do Partido Comunista em 1922 e seu secretário-geral até 1930. Ou seja: alguém que o próprio Machado não imaginaria se incumbisse do resgate que Euclides da Cunha preconizara. Não havia razões aparentes para que um jovem libertário se devotasse a um escritor que gozara das honras do establishment de então e, no fim da vida, parecia que fora definitivamente abandonado.
Joaquim Francisco de Assis Brasil foi um político e diplomata de grande importância na transição do Império para a República, sendo ardoroso defensor desta última forma de governo, do regime presidencialista e do reconhecimento da divisão do poder pelo federalismo, tal como existe hoje em nosso país. Em virtude dos revezes da República sob o comando inicial dos militares, que haviam derrubado o imperador sem a participação popular, assumiu crescentemente o papel de opositor, até que se converteu em chefe do movimento revolucionário de 1923. Deodoro da Fonseca, depois de desorganizar o país com seus destemperos que já trazia da caserna, acumulando o complexo de culpa por haver traído seu admirado amigo D. Pedro II e mostrando total incapacidade de articulação política, ensaiou um golpe que, frustrado, ocasionou sua renúncia. Floriano Peixoto assumiu a presidência da República e concretizou imediatamente aquele golpe intentado por seu antecessor, passando a governar com o Congresso dissolvido. Esses militares tinham a noção de Estado unitário, tal como ele existia no Império, mas iam mais longe: não podendo contar com os barões (a quem o imperador outorgava nobiliarquia não hereditária e de quem colhia fidelidade), legitimavam coronéis ou caudilhos locais, que também só sabiam governar seus redutos como ditadores.
Depois da Revolução Federalista de 1893, no governo de Floriano, as lideranças civis se organizaram através de uma política de alianças, sob o comando alternado principalmente das elites republicanas de S. Paulo e Minas Gerais. Porém, o arranjo no plano nacional era farsesco; não havia a possibilidade de vitória da oposição, como mostraram as duas eleições em que Ruy Barbosa concorreu. Nos Estados, a ditadura dos régulos locais ficou mantida. Assim, o movimento revolucionário de 1923 não foi mais uma disputa entre dirigentes locais no sul do país, como pareceu a tantos comentaristas precipitados, que esquematizam a história sem enfrentar seus fatos relevantes. Ela foi a reafirmação dos princípios republicanos que haviam sido distorcidos desde o início pelos militares golpistas, os quais idealizavam uma ordem positivista, treslida da doutrina de Comte, que não reconhecia um estado de representação política, com a participação ativa da sociedade civil. Em seu lugar, eles praticaram a tutela autoritária. Essa herança foi parcimoniosamente administrada pelos governos civis, a partir de Prudente de Moraes, que mantiveram uma rede de fidelidades regionais em que a autonomia de mando era reconhecida pelo governo federal, por maior que fossem os abusos, como ocorria no Rio Grande do Sul, onde Borges de Medeiros se reelegia vezes seguidas, em pleitos fraudados, contra a Constituição.
Foi nesse quadro que um dos generais de campanha de Assis Brasil, o rústico tropeiro Honório Lemes, de letras parcas mas com grande tirocínio, expressou nesta frase célebre o propósito revolucionário, quando instado a explicar as razões dos insurretos: “quero leis que governem homens, não homens que governem leis” (Fonte:www.ufrgs.br/ensinodareportagem/cidades/honoriolemes).
Talvez nossas faculdades de direito mais antigas, geralmente instaladas em prédios solenes, ganhassem muito em perenidade se transcrevessem essa frase em seus pórticos, colunas ou vitrais, em lugar de bobagens pomposas como jus est ars boni et aequi e outras semelhantes, que o vulgo chama com razão de “latinório”. Hoje destituídas de nexo, fim e objetividade, diga-se desde logo, pois não possibilitam nenhuma análise proveitosa no mundo contemporâneo.
Filho e neto de senadores do Império, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, ou simplesmente Joaquim Nabuco, foi outro que não respeitou uma ordem natural de acatamento das condições sociais de que usufruía. Monarquista, ele pregou a imediata abolição da escravatura como causa do nosso país tanto quando da humanidade. A propósito da República, sua desconfiança está expressa nesta afirmativa, que consta em sua autobiografia “Minha Formação”: a República sem democracia é uma forma de estelionato político. Ele tinha razão. Toda a Primeira República foi um continuado estelionato político, em que a representação era viciada pelo “voto a cabresto”, não existiam controles democráticos do exercício do poder e a imprensa não gozava mais nem mesmo da liberdade que havia sido assegurada a ela durante o II Império.
Por que o escritor mulato, que ascendeu da origem humilde a altos cargos públicos, quis enfrentar os conflitos mais profundos da angustiada existência humana, os becos sem saída dessa condição de liberdade sempre irrealizada, ao invés de produzir uma literatura de costumes ou tramas romanescas que levassem a seus leitores a satisfação pelas intrigas, sucessos e frustrações dos personagens? Não seria essa sua inclinação literária previsível?
Por que um político que tinha tudo para ser um chefe ou caudilho reconhecido pelo governo central do país, bem abrigado pelo poder republicano que ajudara a fundar, escolheu fazer oposição radical ao regime que ele próprio idealizou, indo ao limite da revolução para refunda-lo na sua forma mais autêntica?
Por fim, por que um homem de elite assumiu com todas as suas forças a luta pela emancipação daqueles escravos a quem a própria elite devia sua posição de privilégio e, ao mesmo tempo, quis manter um regime monárquico que já soçobrava, pois era apenas nele – e não em republicanos autoritários - que reconhecia as bases da democracia que desejava preservar?
Todas essas perguntas têm a mesma resposta: porque esses Joaquins refutaram a “lei” da conveniência; não só não a cumpriram mas ainda não a reconheceram como lei. O Brasil deve a eles um pouco de sua identidade como país livre. Nos momentos mais marcantes de suas vidas, certamente não foi a conveniência que escreveu a trajetória de cada um deles.
Conjuntura do acesso de Joaquim Barbosa ao STF
Há muitas versões sobre a escolha de Joaquim Barbosa para integrar o Supremo, mas só uma está documentada e tem autoria certa. Trata-se do relato do frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, conhecido como Frei Betto, no livro “Calendário do Poder”, em que conta a experiência e as frustrações de haver sido Assessor Especial no Palácio do Planalto, nos anos de 2003 e 2004, na presidência de Lula. O que está narrado no livro a respeito da nomeação de Joaquim Barbosa foi repetido em várias entrevistas e, em favor da síntese, está melhor reproduzido nesta publicação do jornal Zero Hora: “O senhor é responsável pela indicação de Joaquim Barbosa ao STF, um ministro que se tornou algoz do PT por conta do processo do mensalão. Como vocês se conheceram? Por mero acaso, numa agência da Varig, antes da posse de Lula. Sentamos lado a lado, ele me reconheceu, puxou conversa e trocamos cartões. E passaram alguns meses, o ministro Márcio Thomaz Bastos (da Justiça) entrou na minha sala e disse que o presidente queria nomear um jurista negro para o STF; perguntou se eu conhecia algum. Lembrei da conversa que tive com aquele jurista, entreguei o cartão do Barbosa e, depois, vi que ele havia sido nomeado ministro. Penso que esta não é a melhor forma de fazer um ministro, por razões étnicas e não por razões de histórico e mérito. Na verdade, eu advogo que os ministros em todas as instâncias deveriam ser eleitos por seus pares.” (Fonte: jornal Zero Hora, 24 de novembro de 2013, pág. 22).
Márcio Thomaz Bastos era o plenipotenciário do governo em questões jurídicas, mas a nomeação do novo ministro negro foi programada para ser um marco de inclusão, e ele não conhecia nenhum que pudesse ser inequivocamente reconhecido como tal, pois os nomes que então patrocinava eram de brancos. O Supremo teve ao longo de mais de duzentos anos alguns juízes mestiços (o honorável Pedro Lessa, que atuou no início do Século XX, é o mais conhecido deles), de modo que a nomeação de alguém mesmo fortemente miscigenado não causaria impacto, nem marcaria o ineditismo. Pesava também o fato de no governo anterior, de Fernando Henrique, já ter sido nomeada a primeira mulher para o STF, Ellen Gracie. Nesse quadro de escolha pré-determinada (para obter certa composição do Tribunal que repercutisse bem e obtivesse grande reconhecimento público), ninguém mais foi encontrado que proviesse da indicação de políticos e juristas a serviço do Poder Executivo e pudesse firmar um compromisso de fidelidade, atuação solidária ou reconhecimento reverente pela própria nomeação. Isto é, ninguém que atendesse a isso e tivesse um currículo melhor do que Joaquim Barbosa, que era procurador regional da República, professor universitário e havia realizado cursos no exterior.
A vaga a ser preenchida em 2003 decorria da aposentadoria do ministro Moreira Alves, que havia ocupado o cargo longamente, desde 1975, e há muitos anos era o decano do Supremo. A atuação desse jurista erudito, conservador, tecnicista e reconhecidamente guardião de uma ordem constitucional cristalizada, que havia sido instrumentada durante o regime militar para ser o alicerce do regime de exceção, também precisava ser marcada como página virada, dando início a um novo compromisso de renovação democratizante e que fosse reconhecida como anti-elitista. Para isso também a nomeação de um jurista negro parecia bem oportuna.
Quanto ao processo para a seleção dos ministros do Supremo, marcadamente voluntarista, há quem teça uma rede de Penélope de lamentações, vendo nele infindáveis defeitos. Porém, nunca houve a indicação por ninguém de um método objetivo que garantisse a melhor escolha. Quando a Constituição de 1988 restringiu a faculdade do chefe do Poder Executivo incumbir-se da nomeação dos ministros do Tribunal de Contas, que passou a resultar da indicação majoritária do Congresso, a composição daquele órgão até piorou, e hoje depende de arranjos tortuosos que favorecem a uma política de compensação a parlamentares com dificuldades eleitorais, ou a quem é devido o “pagamento” por serviços prestados. Assim, a “solução democratizante” resultou num jogo de barganha político que levou à decadência ao TCU e, por imitação da fórmula, aos tribunais de contas dos Estados. A reforma, portanto, tornou pior a escolha. A situação só não é calamitosa porque o serviço de controle das contas é efetivado tecnicamente por auditores concursados.
A modalidade empregada para compor a Suprema Corte dos Estados Unidos é sempre lembrada no Brasil pelos que pretendem aperfeiçoar a regra aqui adotada, pois o Congresso lá realiza um levantamento circunstanciado da vida profissional e pessoal dos indicados pela presidência da República, em sessões de homologação que despertam grande interesse e acompanhamento público, com ampla inquirição dos indicados e manifestação de professores das academias, jornalistas, políticos e entidades civis e culturais. Desse modo, o presidente dos EUA, qualquer que seja, procura ser seletivo, usar critérios de qualidade técnica reconhecida no exercício de funções anteriores, de modo a manter um equilíbrio de tendências interpretativas na Suprema Corte, em linhas bem abrangentes, como é da cultura dos EUA, entre liberais e conservadores. Todavia, isto não impediu a nomeação do ministro Lewis Powell, em 1971, pelo presidente Richard Nixon. Advogado de grandes corporações, apenas dois meses antes de ser indicado, mas quando as tratativas obviamente já haviam sido estabelecidas, Powell enviou um memorando secreto para a poderosa US Chamber of Commerce, recomendando que as empresas tomassem papéis mais ativos no Estado, direcionando suas ações em favor do capitalismo liberal, influenciando órgãos de controle e licenciamento, mobilizando-se para responder ao que chamou de “ataque ao sistema americano de livre empresa” (Fonte: the lewis powell memo – reclaimdemocracy.org).
O memorando – uma verdadeira “receita” pormenorizada para as corporações intervirem no governo e universidades – passou à história como marco da data em que veio a ser incrementada a política conhecida, um tanto impropriamente, como neoliberalismo, afinal amplamente implantada no governo de Ronald Reagan. Se o documento fosse conhecido à época da indicação, Lewis Powell seria rejeitado, pois sua posição de radical servidor da livre iniciativa fazia com que apontasse como inimigos do Estado, indistintamente, tanto contestadores que provinham dos movimentos de contracultura dos anos ’60 e os intelectuais colaboradores da revista “New Left”, como o advogado dos direitos do consumidor, Ralph Nader, que é nominalmente citado no memorando. Mesmo sob os critérios da livre iniciativa que marcam a política e a economia americana, tal partidarismo seria incompatível com os princípios democráticos, pois o engajamento tão marcante e prioritário em favor dos direitos do grande negócio corporativo se mostrava incompatível com o sistema americano de garantias constitucionais ao cidadão, que ainda se inspira na Bill of Rights redigida por Thomas Jefferson.
Portanto, lá como cá, surgem interesses impositivos estranhos ao direito como ao Judiciário. Não se achou ainda a fórmula para controlá-los. Só os pós-positivistas têm a ilusão de encontrá-la através de chaves mediúnicas. Há também situações conjunturais específicas e, sobretudo, papeis sociais que são assumidos ou não pelos agentes políticos que tomam as decisões a respeito. Os atores envolvidos nessa cena político-jurídica igualmente fazem suas escolhas sem assumir nenhuma obrigação de prestar contas, sem apresentar um porquê à população. Por isso, tais escolhas só aparecem na forma de aceitação ou recusa às promessas de bastidores por parte dos “candidatos”, que depois podem se revelar através de “votos carimbados” nos julgamentos, com ou sem as verdadeiras cartas-compromisso, como a que escreveu o juiz americano Lewis Powell.
No caso de Joaquim Barbosa, o que se pode dizer é que o jogo político, com os lances aleatórios e circunstâncias de ocasião que determinaram sua escolha, não contaminou sua atuação, de modo que não se deve atribuir a ele fidelidade ou infidelidade aos governantes, nem aos seus programas. Muito menos a algum pacto para infirmar instituições permanentes que se expressam, em uma democracia republicana, como regime legal para todos. Ao invés disso, pode-se sim dizer que Joaquim Barbosa teve seu próprio programa de atuação, e ele se mostrou afirmativo de valores que são historicamente negligenciados, sempre em favor de uma conduta supostamente neutra, do equilíbrio de interesses, da representação formal nas liturgias em que se absolvem todos os pecados dos que têm poder político e econômico, e se expressa através de uma técnica jurídica aparentemente refinada, mas – ao cabo – homologatória de práticas antigas do relacionamento viciado de mútuo favorecimento entre os principais participantes da cena judiciária.
Em outras palavras, é inegável que houve um programa de renovação assumido por Joaquim Barbosa, não com base num dever-ser oportunista como os adeptos de todas as deontologias defendem para um futuro a-histórico, certos de que a sua vontade de ser já é um valor. A renovação a que Barbosa se filiou diz respeito ao resgate do que já deveria ter sido, pelo menos desde a Constituição de 1988: a atuação de um Judiciário também ele redemocratizado, em que a igualdade diante da lei fosse reconhecida sem subterfúgios e prontamente, sem precisar ser arrancada ao escalpelo a cada vez que alguém recorresse à Justiça. E que um tribunal de garantias deveria, prioritariamente, garantir o cumprimento da lei que a todos resguarda.
Deve-se ainda estabelecer um contraponto argumentativo: Barbosa poderia ter semeado simpatia entre os que detêm grandes interesses, os quais se manifestam não raro em ações judiciais vultosas. Poderia também ter reconhecido garantias inegáveis para que as pessoas que infringem “ocasionalmente” a lei, em nome de seus negócios privados ou públicos, não fossem penalizadas como criminosos comuns, pois afinal esses negócios são os que movimentam a economia do país, em benefício de todos. Poderia ainda manter prerrogativas especiais para corporações de advogados, de funcionários, de juízes – e quem duvidaria que elas formam o tripé que sustenta a instituição judiciária? Poderia, por fim, tendo em vista sua origem funcional, acolher e louvar todos os pareceres do Ministério Público, pois não é esse órgão um supra-poder que se afirma acima da República, colhe duvidosos frutos de vantagens corporativas reconhecidas para si mesmo e desfruta de uma independência utilizada de forma voluntarista por seus agentes?
Barbosa colheria assim a louvaminha de políticos e juristas bem estabelecidos, a simpatia expressa dos mais respeitados meios de massa e construiria afinal o grande encontro de todas as nossas esperanças: os saberes, etnias, doutrinas e peculiaridades do talento tropical seriam convergentes para alcançar a finalidade que, aparentemente, ainda constitui o sonho de muitos: mudar para que as coisas continuem como estão. Se fizesse tudo isso, Joaquim Barbosa talvez recebesse muitas condecorações, tantos títulos honoris causa como Lula e, quem sabe, o antropólogo Roberto DaMatta – como bom sucessor dos animados delírios de Glauber Rocha e Darci Ribeiro – o classificasse como um novo gênio da raça.
Por que tudo isso não aconteceu? Por que a passagem de Joaquim Barbosa por tensos onze anos pelo Supremo não se estendeu para vinte, sob congratulações gerais? Talvez porque foi necessário, como diz um verso de Virgilio, aprender a causa das coisas e pisotear todos os medos. Porque, enfim, a “lei” da conveniência teve de ser desmascarada – e isso ocorre raramente em nosso país.
Como Barbosa encontrou a Corte
Quando Joaquim Barbosa ingressou no Supremo, em 2003, já estavam aposentados todos os ministros escolhidos durante o regime militar. A corte era presidida por Maurício Corrêa sendo seu decano Sepúlveda Pertence.
Não havia ainda sido editada a Emenda Constitucional nº. 45/2004, que modificou profundamente a organização do Poder Judiciário, criou o Conselho Nacional de Justiça e autorizou que fossem enunciadas súmulas vinculantes pelo STF. Antes dessas transformações, o tribunal cultivava uma cultura ou ideologia que o caracterizava como corte de garantias, sob o impacto da Constituição de 1988, marcada pelo senso de recusa às ações autoritárias e perseguições de caráter pessoal e político, que haviam vicejado no período do regime militar entre 1964 e 1985. Havia por esse tempo o cultivo da expressão retórica “estado democrático de direito”, que consta na Carta, como se fora a chave do significado (obviamente ingênuo) da liberdade política. A expressão é retórica porque nada define no mundo social-histórico. É uma verberação aos regimes de exceção, mas sem construir um postulado que tenha o significado concreto de se opor em relação a eles. Na verdade, para que o direito se faça instrumento da democracia é necessário que ele defina e garanta que a lei será indistintamente aplicada a todos a quem se destina. E que nela se reconheça a legitimidade de dispor da maneira adequada, uma vez que resulta da vontade comum representada politicamente. É essa concretude, como dizem os eruditos, que define um Estado republicano, e ela se mostra bem mais compreensível do que o metafísico estado democrático de direito.
O longo decanato de Sepúlveda Pertence permitiu uma identificação da ideologia das garantias formais com ele, tal como costuma acontecer nos Estados Unidos, onde as tendências da Suprema Corte são vinculadas ao chief justice e referidas mesmo como “a Corte de Holmes” ou “a Corte de Warren”, por exemplo. Sepúlveda Pertence demonstrou ser um juiz de grande desenvoltura e rica experiência tanto jurídica como política. Teve proximidade e colaboração com os ministros Evandro Lins e Victor Nunes Leal, ambos aposentados compulsoriamente no STF pelo Ato Institucional nº. 5. O próprio Sepúlveda recebeu a mesma pena, como integrante do Ministério Público do Distrito Federal. Exerceu então a advocacia participando e entrando em contato com grandes escritórios. Presidiu a Seção da OAB/DF e foi o candidato identificado com a esquerda à OAB federal (derrotado). Colaborou na assessoria ao Congresso durante a transição para a democracia e, por fim, exerceu a chefia da Procuradoria-Geral da República.
Nesse período inicial em que pontificava uma personalidade exuberante como Sepúlveda Pertence, Barbosa enfrentou grandes dificuldades de ajustamento, de modo que ele próprio experimentava certa estranheza para que pudesse defender suas teses, cuja força não estava na elaboração rebuscada ou na técnica sofisticada, mas sim na compreensão objetiva da ordem jurídica visando principalmente a preservar os seus fins. Era como se Barbosa perguntasse: de que valeria ao Supremo obter o reconhecimento de ser uma “corte de garantias” se não houvesse uma preocupação primordial de que a lei fosse cumprida? Como ele se havia proposto em seu projeto reformador, a lei precisava também ser garantida.
Entretanto, a Corte que tinha encontrado assegurava sim garantias a quem tivesse suficiente esperteza profissional ou dinheiro para custeá-las, ou que pudesse produzir pressão mediática sobre os juízes e outros agentes públicos, apontando-os como portadores de interesses mesquinhos, ou pessoas com falhas de personalidade, o que os deixava vulneráveis, acusados de usarem seus cargos para fins de projeção na carreira ou na opinião pública. Geralmente, saiam-se bem os portadores dos grandes interesses, ainda quando estes tivessem sido severamente contrariados, sempre que podiam pressionar e desfazer junto a cúpulas os atos de julgamento ou de investigação, em nome de garantias, que então pareciam ter sido concebidas unicamente para esse fim.
Enquanto se estabelecia essa tensão de concepções, que se traduzia em tensão de relacionamento, ficava claro que o STF apresentava uma excessiva permeabilidade a grandes escritórios de advocacia, tanto quanto havia também excessivo reconhecimento da influência de círculos político-jurídicos. Foi então que um grupo de advogados atuantes em Brasília adotou comportamento público compatível com a high society (expressão que já havia ganho nos anos 1960 a conotação de vulgaridade, bem ao gosto do novo rico, o parvenu, cuja preferência por nossa capital parece definitiva), e passou a fazer marketing com a sua proximidade ou convivência social com ministros do Supremo e tribunais superiores. Ao mesmo tempo em que vicejava essa promiscuidade, a TV Justiça vinha mostrando desde 2002 situações em que o concerto ou desconcerto das teses (e dos destinos das causas) variava conforme a superfetação das interpretações, defendidas não raro em performances que buscavam, certamente, alimentar uma vocação latente dos ministros (talvez frustrada ou reprimida) para a dramaturgia.
Entretanto, foi nesse mesmo período de dificuldades e atritos que pôde ser identificado pelo público o surgimento do projeto de atuação concebido por Joaquim Barbosa: dar consequência ao direito, antes e acima de tudo, sem privilegiar interesses. Nenhum processo, por nenhum motivo, poderia ser concluído contra o direito, especialmente tendo o Tribunal elucubrando falsas razões de erudição que só reconheciam a quintessência de princípios jurídicos. Foi o auge da principiologia pedante. O programa de Barbosa obviamente implicava em romper com o ambiente hostil a uma visão transformadora do papel dos tribunais, não no sentido de transformarem a realidade do país, mas a sua própria. Para tanto eles precisariam – e o STF especialmente – impulsionar medidas corretivas, concebidas para obter uma prestação jurisdicional consumativa: que o processo produzisse efetivamente, e logo, os efeitos que a lei prevê para ele.
Como foi dito, havia então a alentada cultura das teses rebuscadas que, por acolherem nulidades temerárias, ou exigirem ritos litúrgicos, ou ainda pressuporem a excelência dos agentes públicos que coletam os elementos instrutórios dos processos, como se eles estivessem nos campos elísios e não muitíssimas vezes em repartições precárias e com pouco apoio técnico, acabavam por frustrar o reconhecimento e a aplicação do direito.
Dois exemplos são bastante ilustrativos e ocorreram no Supremo nessa época. O primeiro foi a confirmação da sentença aplicada ao jornalista Pimenta Neves, ex-diretor de redação do jornal “O Estado de S. Paulo”, por haver matado a também jornalista Sandra Gomide, o que só ocorreu longos onze anos depois do crime ser praticado (embora o criminoso fosse confesso), quando a família da vítima, além da perda, já estava devastada pela impunidade. O criminoso ficou em liberdade todo esse tempo em virtude de decisão do STF (do ministro Celso de Mello). O segundo foi o homicídio do estudante de medicina Edson Tsung Chi Hsueh, que sofreu um “trote” violento de veteranos da Faculdade. Nesse caso, o Supremo convalidou a esdrúxula tese de que os acusados não deveriam ser levados ao Tribunal do Juri, elaborada de modo cerebrino no STJ, embora não estivesse presente nenhuma das três hipóteses legais para o trancamento da ação penal. O caso não só ficou impune como o Judiciário negou-se a julgá-lo. Ao proferir seu voto, Barbosa veio a referir-se ao STJ como “tribunal burocrático”, com sobradas razões, pois é o que se pode esperar de um órgão que impede o julgamento de uma questão importante como a do estudante morto por puro sadismo e, por outro lado, convalida e estabelece regras para a fundamentação ad relationem, que é aquela onde simplesmente se transcreve sentenças, pareceres e acórdãos anteriores, sem nada acrescentar de entendimento próprio. Numa época em que os processos eletrônicos permitem facilmente o uso dos recursos “seleciona, recorta e cola” dos editores de texto, é inegável que cópias pertinentes e impertinentes, omissões, remissões aleatórias, etc, são feitas abundantemente, e a esse simulacro se chama julgar.
O Supremo e o STJ saíram-se terrivelmente mal também no famoso caso da Operação Satyagraha, que já deu origem a várias reportagens e livros, entre estes “Operação Banqueiro”, de Rubens Valente, o mais recente e talvez o mais completo. Muitas teses conspiratórias foram defendidas a respeito em outros textos, mas o certo é que o Judiciário agiu errado, e o STJ acabou por anular o processo ao aplicar a “teoria” da árvore envenenada, segundo a qual a nulidade ou dubiedade de alguma prova retiraria a autenticidade de qualquer outra, ainda que esta fosse obtida legitimamente e produzisse efeito inequívoco e incriminador. Tecnicamente não se trata de uma teoria, mas de uma fábula de originalidade duvidosa, eis que não muito diferente das visões ancestrais da perda do paraíso, em virtude de um pecado irreversível. A matéria ainda voltará a ser examinada pelo Supremo, pela via de recurso extraordinário do Ministério Público. Porém, já não se apaga esta mácula: grandes interesses gozam dos privilégios de prioridade e de garantia num Supremo demasiado acessível a pessoas muito poderosas.
Felizmente, nesse mesmo período começou a firmar-se a tendência à jurisprudência ativa ou, conforme a matriz americana, ao ativismo judicial. Coincidiu com essa tendência a reforma constitucional que permitiu as súmulas vinculantes. Também foi o período de julgamento de ações afirmativas, da autorização para pesquisa com células-tronco, do reconhecimento amplo da união estável independente do sexo dos nubentes, bem como de um grande número de processos envolvendo acusados com prerrogativa de foro, notadamente parlamentares, em ações penais originárias. Sobre a existência de investigação e ação penal contra congressistas, é extremamente expressivo este levantamento: “Dos 594 parlamentares, pelo menos 191 (160 deputados e 31 senadores) são alvos de 446 inquéritos (...) e ações penais.” Tudo isso para o STF instruir e julgar. (Fonte: congressoemfoco.uol.com.br > ficha limpa).
Concomitante, o esclarecimento de crimes da repressão política – que prossegue – veio a trazer o tema, ainda irresolvido, dos limites da lei da anistia. Há uma contradição em reconhecer a prescrição decretada pela lei interna, quando os delitos são considerados imprescritíveis por tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Os juízos e tribunais, sem excluir o STF, têm fixado o seu foco interpretativo na lei de anistia (que foi um texto negociado politicamente para pôr fim ao regime de exceção, portanto, determinado por uma circunstância histórica já amplamente suplantada através de realidades subsequentes que modificaram as instituições), enquanto deveriam fazê-lo na Constituição de 1988. Por fim, o Supremo viveu muitos impasses, como o constrangedor empate de votos (quando havia uma vaga aberta e contava com dez ministros) sobre a vigência da Lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular, cuja aplicação foi demasiado postergada – em prejuízo da confiança do povo.
Por isso tudo, a tendência à avaliação “psicologista” vulgar, tendo em conta o temperamento de Joaquim Barbosa, supostas atitudes autoritárias ou desconsideração para com outros juízes e opiniões alheias é insustentável. A última década foi uma época de grandes transformações no Supremo; Barbosa tinha um projeto também transformador. Por isso é necessário analisar o jogo de forças que se estabeleceu no STF então. Para narrar os verdadeiros fatos históricos, aqueles que têm relevo suficiente para serem determinantes no destino dos povos, ainda vale a recomendação do escritor romano Tácito para proceder sine ira et studio, sem ódio e ideias preconcebidas, pois não é localizando ressentimentos ou projetando motivos de ordem subjetiva para as ações humanas que se poderá conhecer o que move e direciona a História, ou seja, o que confere historicidade aos fatos da vida.
O jogo de forças na atuação de Joaquim Barbosa
Deve ser reconhecido logo e sem dificuldade que Joaquim Barbosa teve atritos decorrentes do confronto de sua atuação funcional com outros ministros. O atrito mais contundente – e também o mais despropositado e destemperado – ocorreu com Cezar Peluso, quando este exerceu a presidência do Tribunal e depois (Fonte: oglobo.globo.com/.../peluso-manipulou-resultados-de-julgamentos e www.conjur.com.br/.../joaquim-barbosa-chama-peluso-caipira-tiranico). Em alguma coisa não é difícil reconhecer que, objetivamente, Barbosa tinha razão. Foi Peluso quem deu o voto de empate na discussão sobre a vigência imediata (conforme deliberação do TSE) ou não da Lei da Ficha Limpa. Como presidente do STF, Peluso não soube conduzir uma solução, levando o Tribunal a um impasse desnecessário tecnicamente e nocivo politicamente. Ele não conseguia definir se, no empate, vigoraria o acórdão do TSE (que afinal não tinha sido revogado), ou se o Supremo aguardaria a nomeação de seu 11º ministro, ou ainda se, nos termos do Regimento, o presidente da Corte votaria pela segunda vez para desempatar. Ora, se foi para levar a isso, por que Peluso empatou?
Muitas vezes esses atritos repercutiram na imprensa em narrativas tendenciosas, que os apresentavam como uma “coleção de casos”, de sorte que o modo de atuar de Barbosa parecesse unicamente direcionado para produzir desentendimentos e convulsionar a Corte por conta de idiossincrasias de personalidade e demonstrações de ressentimento.
Todavia, desde agosto de 2007, Joaquim Barbosa arcava com a relatoria da famosa Ação Penal 470 (o processo do “Mensalão”). Ali ele enfrentou dificuldades inumeráveis, desafiadoras, desde questiúnculas jurídicas, manobras diversionistas, votos vencidos com fundamentação especiosa, além – sobretudo – da dificuldade imensa de coletar provas, investigar a legitimidade dos atos imputativos, quando eram muitos os acusados e múltiplos seus enquadramentos criminais. Em que pese a sucessão de obstáculos quase intransponíveis, a AP 470 acabou se mostrando uma espécie de leit motiv do programa jurisdicional que Joaquim Barbosa assumiu, como propósito maior de sua atuação.
Quando se aposentou, a ministra Hellen Gracie fez declarações públicas que sintetizam bem as dificuldades encontradas: “O relator, ministro Joaquim Barbosa, já ouviu 600 testemunhas em dois anos. Nenhuma vara criminal neste país teria tido capacidade para fazê-lo. Isso foi possível, em parte, porque houve a digitalização completa do processo.” (Fonte: veja.abril.com.br/.../ellen-gracie-não-vejo-no-supremo-ninguem-atrelado).
Faltou dizer: essa tarefa não seria possível, no próprio Supremo, se não tivesse sido constituída uma equipe de análise de primeira grandeza, nem uma coordenação focada na orientação precisa de levar o processo ao fim, sem que pudessem ser invocadas nulidades e sem que as manobras procrastinatórias tivessem o pleno êxito desejado. O próprio julgamento, proposto por Barbosa, pelo sistema que a imprensa denominou “fatiado”, isto é, com o exame de crime por crime, e não de autor por autor, mostrou-se fruto de uma metodologia exitosa e inventiva. Se as diversas imputações fossem examinadas separadamente para cada acusado, as idas e vindas na apreciação dos tipos e a definição dos papéis individuais em cada ação delituosa levariam o julgamento a uma balbúrdia – e não é de todo despropositado lembrar que havia muitos, e influentes, apostando nela.
Ao todo, foram reunidos 307 volumes, 500 apensos e 69.934 folhas. É perfeitamente adequado considerar que nenhum – vale repetir: nenhum – outro ministro do Supremo poderia ter feito melhor do que Barbosa fez com sua equipe, sendo que o imenso esforço despendido pelos integrantes desta – a quem o Brasil muito deve – permanecerá quase no anonimato.
É particularmente notável que existam muitos relatos sobre o processo do “Mensalão” que ignoram ou desconsideram o volume impressionante do trabalho que foi realizado. Não se tratou apenas de uma questão complexa, mas de uma situação absolutamente excepcional e, diante dela, a Corte Suprema teve que deliberar sobre o uso intensivo da máquina administrativa e de empresas estatais para corromper parlamentares e partidos, em grande escala, com a finalidade de obter apoio político. Esse uso, na verdade uma grande orquestração, foi empreendida por agentes públicos que se associaram em um esquema de fraude, notadamente para desviar recursos contabilizados como se fossem gastos em publicidade. Não havia precedentes a considerar, nas proporções que o “Mensalão” alcançou.
Considerado isso, deve ser notado também que o estudo profundo do caso começou a ser prejudicado com a saída da ministra Hellen Gracie em 2011, pois a Ação Penal 470 já tramitava há cerca de quatro anos (desde 2007). Seu afastamento voluntário mostra bem como a ordem de interesses atua na mentalidade dos servidores públicos no Brasil, de modo que conveniências privadas se sobreponham à imensurável importância de enfrentar antes questões em que a ordem do Estado é prioritária em grau absoluto. Como o processo da Ação Penal 470 foi inteiramente digitalizado, as peças dos atos instrutórios eram repassadas a todos os ministros, de modo que eles pudessem julgar os agravos interpostos. Esse acompanhamento passo-a-passo foi perdido em relação à ministra Ellen Gracie. Sua vaga só foi preenchida por Rosa Weber em dezembro de 2011. Pois foi exatamente nesse mês que houve a juntada do relatório de Joaquim Barbosa, ou seja, a instrução foi concluída. O que ocorreu depois (e por todo o ano de 2012), até o início do julgamento, foram apenas atos ordinatórios e deliberações do Plenário a respeito do rito (leitura resumida do relatório, tempo para a sustentação oral da PGR e dos advogados, etc).
Assim, pode-se dizer com certeza que a ministra Rosa Weber não acompanhou nenhum ato instrutório, precisando recorrer à anamnese e, já no dia inaugural do julgamento, teve de proferir o primeiro voto, muito tenso, após o ministro revisor Ricardo Lewandowski acolher estranhamente, em longa manifestação escrita (portanto pré-redigida), a questão de ordem proposta – como é próprio, de improviso - pelo advogado de um réu, no sentido de pedir desmembramento do processo em relação aos acusados que não tinham foro privilegiado. A matéria já tinha sido examinada e rejeitada pelo plenário do STF. Como foi possível ao ministro Lewandowski prever que o advogado suscitaria o tema de novo, em questão de ordem? É uma questão esotérica... ou se deveria concluir o óbvio?
Essa instabilização da Corte, criada artificialmente com o afastamento voluntário de Ellen Gracie e agravada com sucessivos incidentes provocados pelo revisor Ricardo Lewandowski, veio a ser em parte compensada com os esforços colaborativos para a consumação do processo pelo presidente que assumiu em março de 2012, Ayres Britto. A importância de sua condução serena e determinada também mostrou-se decisiva para que o processo chegasse ao fim.
Entretanto, é impossível não reconhecer que foi engendrada uma manobra política para neutralizar os efeitos, no plano jurídico, do trabalho desenvolvido por Joaquim Barbosa para julgar o processo do “Mensalão”. Há evidência inafastável de que foi elaborada uma estratégia visando a reverter os efeitos penais que teriam necessariamente de ocorrer em face das provas já então levantadas. Em outubro de 2009 deu-se a nomeação de Dias Toffoli para o Supremo. Tratava-se do ex-advogado do PT, partido com maior envolvimento nas fraudes que estavam então sendo investigadas. O novo ministro também havia trabalhado por dois anos (quando os crimes estavam acontecendo) como subordinado direto de José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Por fim, segundo relatado na imprensa, sua companheira havia advogado para outro réu dessa mesma ação penal. Frente a isso, mais adiante, já quando se aproximava o julgamento, o ministro Marco Aurélio fez declarações no sentido de que seria imperioso reconhecer a suspeição de Dias Toffoli e, caso não admitida por ele próprio, deveria ser argüida pela PGR. (Fonte: politica.estadao.com.br/.../eleicoes,marco-aurelio-diz-que-toffoli-podera-co...).
O procurador-geral da República, no entanto, argumentando que se estavam sucedendo muitas manobras protelatórias da defesa, declarou que não argüiria a suspeição de Toffoli (não porque não a reconhecesse), apenas para não adiar ainda mais o julgamento (Fonte: blogdofred.blogfolha.uol.com.br/.../voto-de-lewandowski-e-suspeicao-d...).
O procurador Roberto Gurgel estava certo quanto ao seu propósito. Os incidentes provocados no trâmite tinham o objetivo de atrasar o julgamento até a mudança na composição da Corte. Os ministros Cezar Peluso e Ayres Britto abririam vagas antes do desfecho da causa (participaram de atos decisórios, mas não de todos), atingidos pela idade da aposentadoria compulsória. Entretanto, Roberto Gurgel não estava nada certo ao omitir a arguição de suspeição apenas considerando a oportunidade e a conveniência, pois o Supremo tinha o dever de manifestar-se sobre ela para salvaguardar seu prestígio de corte isenta. Simplesmente ele deveria tê-la proposto logo após concluída a instrução, ou seja, quando iniciada a fase decisória, ainda em 2012.
De todos esses fatos nefastos no sentido de abortar providências judiciais punitivas, o mais estarrecedor talvez seja aquele narrado pela repórter Vera Magalhães, do jornal Folha de S. Paulo, em 30/08/2007. Seu relato é extremamente detalhado quanto a local, hora e circunstâncias de fato que ela presenciou, cuja gravidade já aparece neste excerto: “Em conversa telefônica na noite de anteontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), reclamou de suposta interferência da imprensa no resultado do julgamento que decidiu pela abertura de ação penal contra os 40 acusados de envolvimento no mensalão. ‘A imprensa acuou o Supremo’, avaliou Lewandowski para um interlocutor de nome ‘Marcelo’. ‘Todo mundo votou com a faca no pescoço’. Ainda segundo ele, ‘a tendência era amaciar para o Dirceu’. Lewandowski foi o único a divergir do relator, Joaquim Barbosa, quanto à imputação do crime de formação de quadrilha para o ex-ministro da Casa Civil e deputado cassado José Dirceu, descrito na denúncia do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, como o ‘chefe da organização criminosa’ de 40 pessoas envolvidas de alguma forma no escândalo. O telefonema de cerca de dez minutos, inteiramente testemunhado pela Folha, ocorreu por volta das 21h35. Lewandowski jantava, acompanhado, no recém-inaugurado Expand Wine Store by Piantella, na Asa Sul, em Brasília.” (Fonte: w1.folha.uol.com.br/fsp/Brasil/fc3008200702.htm).
Concluindo este tópico, deve-se reconhecer sem dificuldade que a Ação Penal 470 não poderia ser julgada por magistrado de primeira instância, não só pelo motivo apontado pela ministra Ellen Gracie (a imensa soma de dificuldades na coleta da prova), como também pelo processamento cartorial das petições e recursos – sendo que estes certamente seriam acolhidos ou rejeitados de maneira caótica pelo tribunal ordinário de segundo grau, como costuma acontecer –, mas porque montanhas de incidentes seriam erguidas contra a atuação efetiva do juízo, bastando lembrar as pressões que foram exercidas contra os juízes federais Fausto De Sanctis na “Operação Satyagraha” e Sérgio Moro na “Operação Lava Jato”, incluindo procedimentos disciplinares marcadamente retorsivos no Conselho Superior da Magistratura.
Lidando com tantas dificuldades, que incluem a suspeição não argüida contra Dias Toffoli e a franca sabotagem que até a imprensa atribuiu a Ricardo Lewandowski, não se poderia esperar que Joaquim Barbosa levasse a bom termo o julgamento do “Mensalão” destacando-se por fazê-lo com lhaneza, como gostam de dizer os pedantes, salamaleques, homenagens às opiniões contrárias e povoando de vênias todas as suas constatações dos fatos que, afinal, eram aberrantes e jogavam o interesse público na sarjeta.
Até o fim
Em 06/06/2013, exatamente quando iniciava uma grande jornada de protestos no Brasil, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário 593443 oferecido pelo Ministério Público para reverter julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, que foi no sentido de trancar ação penal contra quatro estudantes veteranos de Faculdade de Medicina em São Paulo, acusados de causar a morte do calouro Edson Tsung Chi Hsueh, por afogamento na piscina de um clube, durante um “trote” universitário. O relator do recurso, ministro Marco Aurélio, em que pese haver apresentado voto impecável no qual demonstrou cabalmente que nenhum motivo legal para impedir o julgamento pelo Tribunal do Juri se fazia presente, foi vencido. Ao votar por último, Joaquim Barbosa proferiu talvez um dos maiores reptos já pronunciados em um tribunal brasileiro: o Supremo estava convalidando uma aberração praticada pelo STJ, que adiantara um exame incabível de provas em habeas corpus para concluir que os acusados tinham o direito de não serem julgados, ainda que o tribunal não tivesse identificado nenhuma regra na lei para trancar a ação penal. O repto de Barbosa deve ser registrado, pois ficará como marco na história do Judiciário por tratar de uma aberração superlativa, que é o reconhecimento nos dias de hoje do sibi non liqueri, a recusa de julgar, que os romanos já haviam exorcizado há mais de dois milênios. Assim, seu voto é inteiramente transcrito em nota ao final desse texto. Já o acórdão com o voto vencedor, de Ricardo Lewandowski, não se sabe se será merecidamente esquecido ou se – caso lembrado – o seja como mortalha para encobrir a morte estúpida de um inocente.
Os derradeiros dias de Joaquim Barbosa no Supremo mostraram que seu projeto esteve vivo até o fim. Na última sessão que presidiu em 1º/07/2014, ele teve de votar para definir um julgamento realizado antes, sem sua presença, e que resultara em um empate inacreditável. O STF havia declarado a inconstitucionalidade da Resolução 23.389/2013 do TSE e do dispositivo legal em que se apoiava, na parte em que redefinia o tamanho das bancadas dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Embora tenha havido essa declaração, ato contínuo o Supremo resolveu proceder à modulação dos efeitos, pois alguns ministros sustentavam que a Resolução continuaria a vigorar para que não se desse o vacuum legis e o Brasil visse periclitar o processo eleitoral previsto para 2014. Então deu-se o empate. Ao votar, Joaquim Barbosa sustentou que o princípio da segurança jurídica havia sido invocado “para perpetuar os efeitos de uma incursão indevida do TSE num campo em que – em qualquer democracia de peso – constitui, sem dúvida alguma, área de atuação por excelência do legislador.” (...) “Nada acontecerá no Brasil se essa resolução do TSE, que o Supremo já entendeu inconstitucional, for extirpada do ordenamento jurídico” (...) “...é dever do Supremo Tribunal Federal fazer o que estiver ao seu alcance para incutir, no espírito dos agentes constitucionais, a necessidade de se cumprir a Constituição e as leis, e não o contrário.” Com isso, Barbosa votou contra a modulação dos efeitos e a inconstitucionalidade já declarada vigorou ex prompto. O TSE adaptou sua Resolução nos dias seguintes e nenhuma hecatombe aconteceu no país, de modo que a distribuição das cadeiras no legislativo continuou segundo os critérios já vigentes. (Fonte: www.stf.jus.br – notícias STF, terça-feira, 01 de julho de 2014).
Dias depois, Joaquim Barbosa proferiu decisões monocráticas, já iniciado o recesso do Tribunal, que igualmente são marcantes da sua orientação. Numa delas, ele cassou a liminar concedida pelo ministro do STJ Napoleão Nunes Ferreira que impedia o TJ do DF de julgar recurso à sentença condenatória do ex-governador José Roberto Arruda, envolvido com os fatos criminais apurados na operação Caixa de Pandora, de notório conhecimento. Cassada a liminar, o Tribunal de Justiça do DF em seguida julgou o recurso e confirmou a sentença. Não fosse a decisão de Barbosa, a questão se estenderia talvez por anos, e mais uma vez a paralisia do Judiciário beneficiaria o réu, cuja pretensão é de concorrer novamente a governador (Fonte: g1.globo.com/.../barbosa-permite-que-tj-df-julgue-acao-contra-jose-robe..).
A outra decisão que merece destaque foi proferida por Barbosa como presidente no CNJ, em requerimento da OAB para que fossem prestados detalhados esclarecimentos sobre o processo eletrônico adotado no Judiciário, como base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). O pedido se inseria na pretensão inaceitável de querer “governar o sistema”, o que ficou expresso no fato da OAB formular nada menos do que 26 pedidos, incluindo o fornecimento do código-fonte operacional e as gravações das sessões do Comitê Gestor do PJe. A decisão que indeferiu o pedido, fundada na própria letra da Lei de Acesso, revela nitidamente uma concepção diferenciadora dos papéis de agentes que atuam no processo judicial. Ao Judiciário deve ser resguardada a independência de Poder do Estado para gerir seus próprios sistemas operacionais. As partes e os advogados que as representam têm sim o direito de se informar sobre esses sistemas, mas somente ao que diz respeito ao seu funcionamento, isto é, ao modus operandi que os afeta, e isso já vinha ocorrendo antes de ter sido apresentado o pedido. (Fonte: Revista Consultor Jurídico, 10 de julho de 2014).
Naturalmente, a orientação dada nesses três exemplos citados, sempre gera reações de toda parte. Os ministros que se mostraram tão temerosos de um vacuum legis, a ponto de levarem a Corte a um empate, logo viram que não veio hecatombe nenhuma com a retirada imediata do mundo jurídico dos termos inconstitucionais da Resolução do TSE. Viram mais: seria um péssimo precedente manter em vigor uma resolução declarada inconstitucional. Também os interesses eleitorais do candidato condenado pelo TJ do DF em seguida se manifestaram, prometendo batalhas jurídicas e sustentando interpretações sinuosas da lei, para manter sua elegibilidade. A OAB, como sempre, situou na pessoa de Joaquim Barbosa uma fonte de “antagonismo” que – seja reconhecido – a entidade identifica em todos aqueles que lhe negam o direito de governo da República. Assim, não será de estranhar que a entidade venha no futuro a querer a chave eletrônica do sistema Bacen-Jud, que realiza as penhoras de numerário on line, a título de “informação”...
Porém, mais que tudo isso, deve ser observado que não foram as condições mesmas do programa de Joaquim Barbosa que deram sinais de inviabilidade do seu projeto, apesar dos êxitos alcançados e que constituíram, particularmente, um feito ciclópico no que diz respeito à Ação Penal 470. Na verdade, com a nomeação de novos ministros e procurador-geral da República logo uma orientação modificadora se instalou, dando vigor a uma força renitente, de outros dois ou três outros ministros que já vinham opondo dificuldades à ultimação do processo do “Mensalão” ou à aplicação das penas. Não foi por acaso, portanto, que o julgamento sobre os embargos infringentes, após a condenação, encaminhou-se para um empate, até que o decano Celso de Mello desempatou para acolhê-los. O que fez apenas para instalar o caos, pois a seguir votou (vencido) pelo improvimento. É que já então a composição havia mudado, e os “votos carimbados” garantiram o acolhimento dos embargos para excluir o crime de quadrilha em relação a vários acusados e reduzir as penas. Entretanto, salta aos olhos daqueles que têm algum domínio da interpretação penal, que os vários crimes a que o Supremo condenou os réus seriam impossíveis de realizar se não houvesse a affectio sceleris, a coordenação das ações, a distribuição das tarefas e os contatos múltiplos e setorizados entre os vários operadores do esquema.
O sempre útil argumento a contrario sensu é esclarecedor: os crimes relacionados a corrupção ativa, corrupção passiva, remessa de divisas, fraudes financeiras, desvio de recursos públicos, superfaturamento e ainda outros que foram atribuídos aos réus do “Mensalão” poderiam ser cometidos (e até concebidos) se não houvesse uma quadrilha gerindo todas essas ações? Não é crível que alguém possa responder sim. Desse modo, o STF responderá pela distorção perene que perpetrou na ordem jurídica do país e, perante a história, nunca lhe será concedida remissão, tanto mais se considerados os reais motivos por que assim o fez.
Pouco se diz sobre o processo de escolha do procurador-geral, mas é exatamente aí que veio a ocorrer o fato mais bizarro. A respeito, o jornal Correio Braziliense publicou este texto: “Apontado por colegas como o responsável por profissionalizar a campanha para a sucessão de Gurgel, Rodrigo Janot admitiu ter entrado ‘de cabeça’ na corrida para vencer a eleição e defendeu que todos tratem a votação da ANPR como disputa de fato pelo cargo de procurador-geral. ‘Ou a gente acredita nessa lista ou chuta essa lista para o lixo. Eu acredito nessa lista, caí de cabeça na campanha’ (...) Rodrigo Janot contratou uma empresa para conduzir suas estratégias de campanha. Tirou licença-prêmio de um mês e tem viajado para pedir voto.” (Fonte: www.correiobraziliense.com.br/.../ministerio-publico-federal-inicia-dispu...)
Ao contrário dos Estados Unidos, no Brasil não se costuma falar, como invocação de um exemplo, nos fundadores da pátria. Mas é provável que Benjamin Constant Botelho de Magalhães, Silva Jardim e Quintino Bocaiúva, sabendo da desenvoltura arrivista com que o procurador-geral lançou-se à conquista do cargo, dissessem: “esta não foi a República que nós fundamos”. Mas não é tudo: nomeado, Rodrigo Janot passou sistematicamente a dar pareceres favoráveis aos condenados pelo “Mensalão”. O caso mais injustificável se encontra na manifestação dele para que o publicitário Marcos Valério pudesse utilizar os depósitos bancários que haviam sido indisponibilizados, porque resultantes de crime, para pagar a multa a que também fora condenado. Novamente, foi Joaquim Barbosa quem restabeleceu a ordem das coisas: o numerário e o produto dos bens (que deverão ser alienados conforme ordem judicial já expedida), têm de ser recolhidos aos cofres públicos, já que foi aplicada a pena do seu perdimento. Choca, portanto, que o procurador-geral da República, a quem incumbe a função persecutória em nome do povo, opine em favor de uma pretensão tão despropositada, que é a do lucro do crime ser usado para pagar a pena de multa da condenação... pelo crime.
Diante desses episódios, deve ser considerado: por maior que seja a determinação pessoal para cumprir um projeto, a análise da situação conjuntural tem necessariamente de ser feita, para que possam ser cumpridas paulatinamente a etapas de qualquer estratégia transformadora. Vendo a verdadeira “gincana” realizada como processo de escolha do procurador-geral e, depois, o que resultou dela; identificando “votos carimbados” de ministros para diminuir penas e precipitar a soltura de condenados do “Mensalão”, Joaquim Barbosa avaliou – e o fez bem – que um programa não se sustenta quando a reação a ele passa a ser verdadeira causa de sobrevivência para quem teve seus interesses contrariados. Quando isso ocorre é porque houve uma mudança da condição para realizar um trabalho reformador, e não é tarefa para um indivíduo mudar essa condição. Jonathan Swift já observou: não é difícil reconhecer onde surge um novo talento; basta ver contra quem conspiram todos os medíocres.
Na ordem sucessiva, os presidentes do Supremo passam a ser Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Para ficar apenas com os exemplos dos incidentes aqui relatados, poderá esperar-se de qualquer deles decisões estruturantes, centradas na rigorosa defesa da ordem jurídica e que preservem um Judiciário confiável, como aquelas que Barbosa tomou recentemente?
O significado que a passagem de Joaquim Barbosa teve e que não teve no Supremo Tribunal Federal receberá ainda muitos desdobramentos em estudos sobre da aplicação do direito no Brasil. Que expectativa ter do Supremo doravante, num futuro imediato? Certamente os patrocinadores de grandes causas ganharão desenvoltura e, tudo indica, haverá maior intangibilidade dos interesses que em geral não podem ser defendidos em público. Privilégios corporativos também voltarão a pesar demais em nossos bolsos e consciências. Já não há mais lugar para o STF ser um tribunal de garantias apenas no sentido retórico, mas ele seguramente ainda não é um órgão jurisdicional em que se reconheça a independência de injunções políticas e econômicas, que permita ser identificado como uma corte que se debruça com o autêntico interesse de consumar, isto é, de fazer efetivo, o direito de cada um, mas para todos, igualmente.
Depois da última sessão do STF presidida por Joaquim Barbosa, o ministro Luiz Fux teve a felicidade de improvisar este pequeno registro sobre ele: “Fez muito pela magistratura, guardando três características muito importantes que se exige: a nobreza de caráter, sua elevação moral e sua independência olímpica.” Na trajetória de mais de duzentos anos do Supremo Tribunal Federal encontram-se muito poucos ministros – na verdade, pouquíssimos – de quem se poderia dizer o mesmo. Temos outro Joaquim na nossa história.
_______________________________________________
NOTA: VOTO QUE FICARÁ COMO MARCO NO JUDICIÁRIO DO BRASIL
Supremo Tribunal Federal - 06/06/2013 PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.443 - SÃO PAULO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Senhores Ministros, como a maioria, eu descarto o fundamento relativo ao monopólio do Ministério Público; também acho que não há violação a esse princípio constitucional.
Mas vou direto ao que interessa. É muito comum, nas nossas discussões, nós esquecermos do fundo da questão. Aqui, o que nós temos? Um jovem, saído de uma minoria étnica brasileira, foi vítima de uma grande, de uma imensa violência, que resultou na sua morte e no fim dos seus sonhos e da sua família. É isso o que deveríamos estar debatendo. O Ministro-Relator leu a denúncia feita pelo Ministério Público, e nela eu não vi nenhum vício; ela é claríssima. Ela descreve, com muita clareza, os fatos que ocorreram naquela noite fatídica. Eu pergunto: alguns desses jovens que foram denunciados não participaram, deixaram de participar?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Certamente o Ministério Público não escolheu a dedo!
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - O Ministério Público não escolheu a dedo. Eu não ouvi da tribuna, do ilustre advogado, nenhuma alegação no sentido de que esses jovens - hoje médicos - denunciados não teriam participado daquele ato bárbaro. Não ouvi. A quem incumbiria examinar, verificar se eles são ou não culpados, já que houve morte? O Tribunal do Júri ou um órgão burocrático da Justiça brasileira situado aqui em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça? Falamos aqui, ouvi vários dizendo que não cabe exame de prova em habeas corpus; não cabe exame de prova no Recurso Extraordinário - que é o que estamos julgando. No entanto, o que mais se fez aqui hoje foi examinar prova. O que mais se fez aqui foi examinar prova. Para quê? Para confirmar uma decisão questionável do STJ. O que fez o STJ? O STJ fez aquilo que eu qualificaria de uma fuite en avant, um salto para frente. Salto para quê? Para assegurar o não prosseguimento do processo criminal contra esses jovens. Por quê? Não sei; porque os fatos me parecem muito claros. Olha, não é a primeira vez que, nesses meus dez anos de Supremo Tribunal Federal, presencio situação como aqui estamos vivendo hoje aqui: o Tribunal se debruçar sobre teorias, sobre hipóteses e esquecer aquilo que é essencial, a vítima. Não se fala da vítima. Não se fala da sua família. Repito, foi um jovem, que acabara de ingressar na universidade, que perdeu a sua vida. Estamos aqui chancelando a impossibilidade de punição aos que cometeram esse crime bárbaro. Não quero com isso culpabilizar esses jovens que estão sendo acusados; quero dizer simplesmente que o Supremo Tribunal Federal está impedindo que essa triste história seja esclarecida. É só isso.
Parece-me que o Superior Tribunal de Justiça, ao fazer essa fuite en avant, violou, sim, abertamente o art. 5º, XXXVIII, da Constituição; violou o princípio da soberania do Júri. Não cabia a ele, STJ, fazer esse exame aprofundado em oito, nove ou dez páginas como mostrou o eminente Relator. Fez para se precipitar, impedir que o Juiz-Presidente do Júri pronunciasse a sua decisão.
Dou provimento, sim, ao recurso, acompanhando o Relator.
Elaborado em julho/2014
Luiz Fernando Cabeda
Desembargador inativo do TRT da 12ª Região - SC, com estágio na Escola Nacional da Magistratura (França), Seção Internacional, autor dos livros "A Justiça Agoniza" e "A Resistência da Verdade Jurídica".Código da publicação: 3202
Como citar o texto:
CABEDA, Luiz Fernando..O Supremo sem Barbosa e a saga de alguns Joaquins na nossa história. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 22, nº 1192. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/cronicas/3202/o-supremo-sem-barbosa-saga-alguns-joaquins-nossa-historia. Acesso em 2 set. 2014.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.