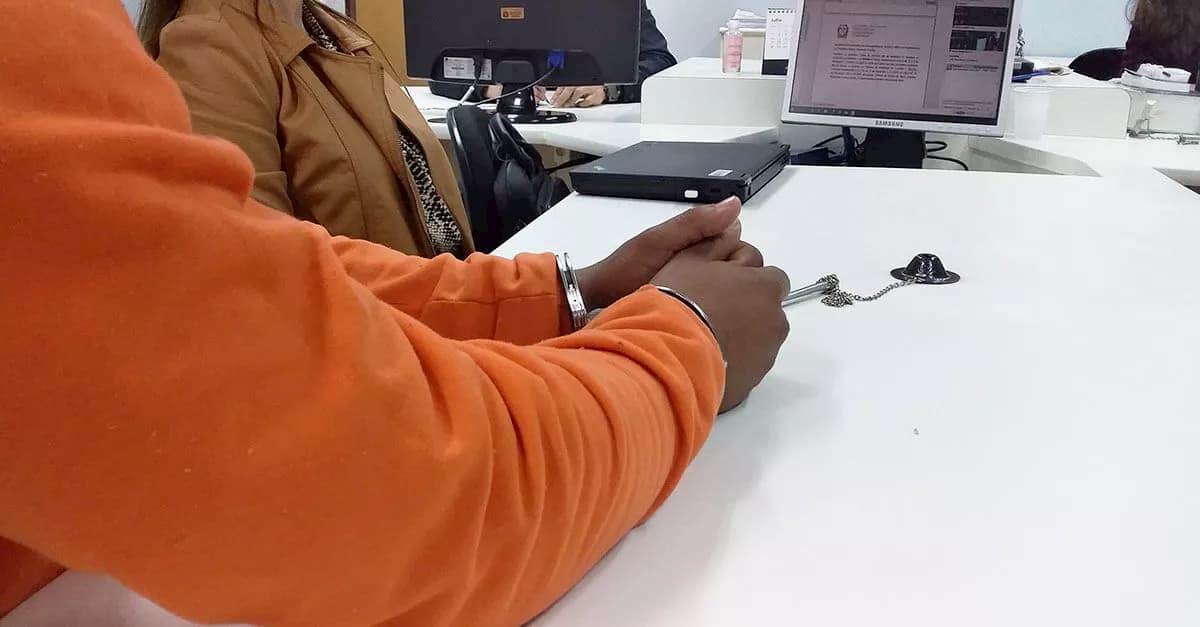Sumário: 1 INTRODUÇÃO; 2 O ESTADO NA FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA DE MERCADO; 3 O ESTADO NA CONTENÇÃO DO PODER ECONÔMICO: UM HISTÓRICO DO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL; 4 INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA DE 1988; 5 O NEOLIBERALISMO E A RESISTÊNCIA CONSTITUCIONAL; 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.
RESUMO
Nos últimos anos, o Estado brasileiro foi engolido pela apologia pseudocientífica à “globalização”. O marketing gringo encantou as instituições responsáveis pela defesa da Constituição, e ela, potencialmente emancipadora, foi denunciada como inimiga do seu próprio Povo. Deste modo, cientes de que a existência institucional se legitimava pela construção de uma ordem econômica difusora da dignidade (art. 170, caput, CRFB), puseram-se a serviço da cobiça externa. Fizeram e deixaram escoar, para longe, capitais públicos e privados, sabendo que era preciso observar a soberania nacional, a função social da propriedade, a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades sociais. Mas, em meio a reformas e deformas, os elementos centrais daquele projeto originário de sociedade estão intactos. Ninguém se atreveu a ser tão sincero. Cabe-nos promover a guinada compreensiva que os revitalize enquanto normatividade econômica. E, assim, toda política traduzirá, sob pena de nulidade, incentivo máximo ao mercado interno (art. 219, CRFB), o reduto social, jurídico e econômico da valorização estatal do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, CRFB). É dizer, que a industrialização interna dos bens primários seja estimulada; que as empresas de capital nacional tenham preferência; e que a renda dos bens públicos reverta ao Povo Brasileiro. Aos inconformados, um lembrete: isso é Texto Constitucional! A Constituição é escudo e, sim, arma popular. Levemo-la a sério, se não quisermos nos defender de outras. Se marketing produz ódio, o engodo também.
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA. MERCADO INTERNO. NEOLIBERALISMO. INTERVENÇÃO ESTATAL. BUSCA DO PLENO EMPREGO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA.
1 INTRODUÇÃO
Como ensina Ricardo Camargo, é em vista da conflituosidade social que o Direito exerce a sua função econômica, como espaço técnico, jurídico e político de seleção cogente das necessidades a serem atendidas. Nas palavras do referido jurista:
Se tivermos em mente que o fato só pode ser considerado econômico em função da repercussão que terá na atividade econômica, e que esta se constitui de condutas que adotam um determinado valor como referencial, e que tal valor surge da ponderação de interesses em conflito na sociedade, e estabelecido já que é ao Direito que incumbe dita ponderação para que o interesse tido por mais valioso se realize, a relação se tona evidente (CAMARGO, 1993, p. 24).
Ou seja, se à Ciência Econômica incumbe a “descrição do fato econômico tal como ele ocorre, com suas causas e consequências na atividade econômica” (CAMARGO, 1993, p. 25), ao Direito, como técnica-garantia de realização de um modelo socioeconômico, se confere o juízo de validade-adequação do fato econômico ao projeto político estabelecido[3].
Por essa linha teórica, a análise normativa das políticas neoliberais assumidas pelo Estado brasileiro causa enorme perplexidade. É que destoam por inteiro do conteúdo programático da Constituição Econômica – e não há hoje, no mundo, teoria jurídica respeitável que não suponha a sua força normativa.
O texto constitucional de 1988 prescreve que, ao integrar o patrimônio nacional, “o mercado interno será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País [...]. ” (CRFB, art. 219, grifo nosso), numa evidente opção por um modelo de desenvolvimento. Nesse sentido, se há um postulado-síntese da Constituição Econômica, é este a primazia do mercado interno – uma indisfarçável hierarquização de interesses firmada constitucionalmente -, o que deveria induzir à maximização das capacidades nacionais, preferencialmente, por via das políticas econômicas.
Na realidade, contudo, o Brasil se mantém, em termos econômicos, na mesma condição de barriga de aluguel dos tempos coloniais: exportando matérias-primas, muitas a preço vil, e absorvendo tecnologia externa; em sintonia só com o interesse industrial dos centros hegemônicos (EUA, Europa, China). Omissão sistemática e institucionalizada que, todavia, não tem mobilizado nossos fecundos mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade.
É preciso lembrar, porém, que a opção política pelo capitalismo cobra, entre nós, a constaste contabilidade dos resultados sociais alcançados. São eles que parametrizam a legitimidade desse sistema econômico, atrelado a um fim especial: o de assegurar a todos existência digna (CRFB, art. 170). E não há forma mais abjeta de se arriscar o progresso dignificador de um Povo do que trocar magníficos capitais por rendas pífias.
Não por acaso, a soberania nacional inaugura o rol de “princípios” da Ordem Econômica (CRFB, art. 170, I). Nela, reverbera a exortação feita por Celso Furtado, desde sua tese doutoral, de 1947: “transplantar para dentro do país o eixo de sua vida econômica” (2001, p. 147), de modo a garantir, por políticas de Estado, o suprimento das carências internas que inibem o desenvolvimento e a convivência em dignidade.
Interesse e dignidade: conceitos fundamentais à compreensão das funções do Estado no domínio econômico, e, por conseguinte, no caso brasileiro, à denúncia de uma hedionda inversão de prioridades.
2 O ESTADO NA FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA DE MERCADO
É amplamente conhecido que o liberalismo econômico chegou a ensaiar uma rigorosa dissociação entre vida política e vida econômica. Em nome de valores filosóficos, forjou-se um modelo teórico de Estado deferente a potencialidades econômicas de uma dinâmica privada inata e autopoiética[4]. Pouco se assume, porém, que o louvor liberal ao distanciamento do Estado da esfera econômica é adstrito ao plano de um marketing ideológico infiel aos antecedentes históricos da formação estatalista do capitalismo no século XVII, abaixo analisada.
O berço do capitalismo mundial expõe o quão perverso foi o estabelecimento das condições econômicas que lhe deram sustentação inicial. E que não se perca de vista: perversidade institucional.
No século XVII, por via “jurídica” os ingleses mediaram a transição do feudalismo para o atual sistema hegemônico, a partir da extinção de um sistema agropastoril comunitário - uma reforma agrária -, a par de um abjeto fator de persuasão ao trabalho, a criminalização da “vadiagem”, enquanto metodologia de reprodução do capital.
Segundo Jorge Luiz Souto Maior:
Na formação do capitalismo inglês [...], no mesmo período da consagração das grandes propriedades, determinadas pela política dos “cercamentos”, a figura do trabalho compulsório também aparece. As pessoas são retiradas das suas terras, dando-se início ao denominado “exército de mão de obra”, seguindo-se o seu deslocamento para as cidades, onde são conduzidas ao trabalho compulsório por meio de leis, a partir do pressuposto de que seria crime deixar de se entregar ao trabalho que lhe fosse oferecido sem que tivesse condições de sobrevivência (SOUTO MAIOR, 2017, p. 34, grifo nosso).
Eis aí a natureza da “lei” da oferta de mão de obra, na fase germinal do capitalismo inglês, propagado como o farol do liberalismo.
Os fatos inglórios do capitalismo britânico também são notáveis na sua expansão ultramarina, baseada na leva forçada de mão de obra ao solo americano.
A propósito, Celso Furtado observa:
Os esforços realizados, principalmente na Inglaterra, para recrutar mão de obra no regime prevalecente de servidão temporária se intensificaram com a prosperidade dos negócios. Por todos os meios procurava-se induzir as pessoas que haviam cometido qualquer crime ou mesmo contravenção a vender-se para trabalhar na América em vez de ir para o cárcere. Contudo, o suprimento de mão de obra deveria ser insuficiente, pois a prática do rapto de adultos e crianças tendeu a transformar-se em calamidade pública nesse país (FURTADO, 2007, p. 51).
Em suma, a História revela que o pragma do “liberalismo” econômico inglês foi alicerçado numa política fundiária concentradora, com o intuito de construir miséria e de formar, à força, uma “classe trabalhadora”, premida pela fome e o direito penal a produzir sem parar e em regime de alienação dos resultados.
Quanto ao Brasil, seu capitalismo se colocou também por vias exploratórias, violentas mesmo, desde os primórdios da invasão europeia. O progresso político-institucional da “nação-Brasil” foi o progresso da desigualdade social, planejada pelas elites econômicas e garantida pelo Estado, quase sempre operado monoliticamente por capitalistas exportadores.
De forma antinatural, ressuscitou-se “um sistema de relação de trabalho, que, à época, parecia já estar morta, a escravidão” (SOUTO MAIOR, 2017, p. 30). A razão econômica para isso: a altíssima disponibilidade de terras na América portuguesa e seu correlato baixo custo de aquisição.
Ante a função econômica da colônia - servir de unidade agrícola monocultural voltada para o mercado externo -, o Estado português, precocemente consorciado à burguesia[5], visou evitar o risco de “manter trabalhadores assalariados nas grandes propriedades. Eles poderiam tentar a vida de outra forma, criando problemas de fluxo adequado de mão de obra para a empresa mercantil” (PRADO JÚNIOR apud SOUTO MAIOR, 2017, p. 30).
Assim, em nossa fase formalmente colonial, “quase toda a renda nacional é, dessa forma, desviada do país. A fração que nele permanece é quase inteiramente consumida por uma pequena minoria senhorial” (FURTADO, 2001, p. 43).
Pouca coisa mudou com a implantação no Brasil de uma estrutura estatal descentralizada da metrópole. A gestação de órgãos administrativos em solo colonial incrementou o caráter concentrador da divisão da riqueza nacional, dada a “capacidade de infiltração e de domínio do Poder Político” (SOUZA, 2011, p. 22) das elites econômicas.
Segundo Antônio Venâncio Filho, o caráter municipalista das primeiras expressões políticas na burocracia nacional explica o avanço da desigualdade nesse período:
Até a segunda metade do século XVII, essa administração colonial não ganhara maior densidade, no dizer do mesmo CAIO PRADO JUNIOR, e competia às Câmaras Municipais o exercício de grande número de atribuições, “constituindo a verdadeira e quase única administração da colônia”. O poderio das Câmaras Municipais representava, no entanto, a influência na atividade política e administrativa dos grandes proprietários rurais, uma vez que essas câmaras eram compostas de vereadores e presididos por juízes ordinários, uns e outros escolhidos pelos homens bons, expressão eufemística, no dizer de EDGARDO DE CASTRO REBELLO, pois “homens bons eram todos os que exploravam o trabalho alheio; os que do seu viviam eram livres ou escravos; nem os primeiros entravam naquele rol”. Através desse embrião de organização política e administrativa, iria-se constituir um sistema de prevalência do poder privado sobre o poder público, que vai marcar até os nossos dias a feição do Estado Brasileiro (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 28).
Assim, apossados do discurso e das estruturas estatais, os senhores de engenho puderam gozar de “primazia econômica, administrativa e religiosa” (FURTADO, 2001, p. 166) na era colonial. Para Celso Furtado, antes da vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro (1808), “(...) O município [foi] uma expressão puramente exterior. Por trás estará o senhor todo-poderoso do domínio, de quem todos dependem e a quem todos obedecem” (FURTADO, 2001, p. 168).
Sequer com a independência política (1822) se observou mudança significativa do quadro econômico e social. Pelo menos até 1926 - quando emergiu reforma constitucional redutora desse externalismo da economia nacional -, as elites econômicas cuidaram de manter o país dependente das já implantadas linhas comerciais, de caráter agroexportador, o que mantém grande parcela da população à margem dos fluxos de renda[6].
Com efeito, as Constituições brasileiras do século XIX são desconcertantemente elucidativas da decisão política comprometida com os donos do dinheiro: senhores do capital e do Estado.
Na denúncia de Jorge Luiz Souto Maior, “Para se ter uma ideia, a Constituição de 1824 tratava os grandes proprietários de terras como ‘altos e poderosos senhores’ e no § 1º do art. 5º dizia que ‘escravos não eram brasileiros’ ” (2017, p. 67). Mais tarde, alterou-se o status jurídico destes, por “Emenda Constitucional, que passou a admitir que escravos podiam ser brasileiros, mas não eram cidadãos” (2017, p. 67).
Já em relação à primeira Constituição republicana, é significativa a observação de Hermes Lima, citado por Venâncio Filho:
Nossa Constituição de 1891 não fala uma só vem no trabalho; não há na Constituição de 1891 a palavra “trabalho”. Não poderia haver. Não era um atraso da Constituição; é que ela era um produto de determinada ambiência política e correspondia ao pensamento político dominante, ao funcionamento normal de uma certa ordem de produção (LIMA apud VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 40-41, grigo nosso).
De fato. Em que pese a escravidão ter sido formalmente abolida desde 1888, só pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926 que se faria menção a trabalho na lei fundamental do Estado, ao singelo motivo de conferir à União competência legislativa a respeito (SOUTO MAIOR, 2017, p. 167); ou seja, sem qualquer marca de adjetivação axiológica promocional, que já se podia ver nas Constituições do México (1917) e da Alemanha (1919) e, sobretudo, na Constituição da OIT (Tratado de Versalhes, 1919).
É certo que a federalização da competência legislativa em matéria trabalhista foi parte de uma ampla reforma constitucional que constituiu, entre nós, a primeira guinada estatal em prol da coordenação dos fatores econômicos dentro do território nacional.
A propósito, ensina Antônio Venâncio Filho:
O desenvolvimento da economia do País e a complexidade dos problemas que surgem, acentuam a debilidade da União Federal, para desempenhar-se das funções que lhe incumbem na vida do País. As repercussões da 1ª Guerra Mundial, desequilibrando de forma ponderável a vida econômica do País, levaram, também, o Estado a intervir na vida econômica, na base de novas normas legais, como foi o caso em 1918 da criação do Comissariado de Alimentação Pública (Decreto 13.069 de 12 de junho de 1918). No entanto, [uma] inadequação do sistema jurídico-constitucional conduz a um movimento, cada vez mais acentuado, no sentido de revisão constitucional, que finalmente se corporifica na reforma constitucional de 1926. [...], ampliam-se consideravelmente as funções da União Federal [...]. (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 29, grifo nosso).
Em síntese, com a Primeira Guerra Mundial e a retração da demanda internacional pelos produtos agrícolas, único eixo expressivo da economia nacional, deu-se azo a “medidas iniciais de intervenção mais ativa do Estado no domínio econômico, que, a partir daí, cada vez mais se acentuam [...]” (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 28).
Diante dos riscos derivados da sazonalidade da cultura do café, parcela da própria elite cafeeira passou a investir na atividade industrial, notadamente na região paulista. Foi ali que o excedente de capital germinou a industrialização, paradoxalmente conduzida por escravagistas com o crescente apoio do Estado (SOUTO MAIOR, 2017, p. 123).
Mais tarde, do conflito social que desencadeou a chamada Revolução de 1930 (SOUTO MAIOR, 2017, p. 173-174), estabeleceram-se as condições para se concretizar uma ampla política nacional de industrialização.
Nas palavras de Antônio Venâncio Filho:
A reforma constitucional de 1926 tentou corrigir algumas das falhas mais gritantes, mas é com a Revolução de 1930 que se tenta empreender um programa mais arrojado de reforma social e modificações da ordem econômica. [...] O dispositivo básico sobre a ordem econômica e social tem origem no projeto relatado pelo membro da Comissão, Sr. OSWALDO ARANHA, com a seguinte redação: ‘A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo a garantir a todos uma existência digna do homem. Dentro desses limites, é assegurada a liberdade econômica do indivíduo’. (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 41).
Para tanto, o Estado varguista foi empresário, banqueiro e legislador-trabalhista. Em tudo, atendia-se essencialmente aos interesses da crescente burguesia industrial.
É certo que só nas duas primeiras políticas setoriais fica nítido o consórcio com as aspirações dos capitalistas: os bens de produção produzidos pelo Estado, aliados ao crédito ofertado pelos bancos públicos, alimentariam a expansão e a produção nos parques industriais privados.
Mas quanto à política trabalhista de Vargas, convém explicitar os efeitos que por ela se perseguiram, a fim de desnudar o seu caráter retórico.
O diminuto contingente de trabalhadores nas cidades – durante toda a República Velha, estima-se que apenas 14% dos empregados estavam no setor industrial (TOLEDO apud SOUTO MAIOR, 2017, p. 134) – exigia a concepção de formas de atração para o provimento operário das indústrias. A tanto, o governo associou sua conhecida política legislativa, pródiga em declarar direitos trabalhistas, a uma política cultural apologética do trabalho, para afastar a ética popular de exaltação da malandragem[7]:
[...] na década de 30, a cultura foi posta a serviço da formação da unidade nacional, reforçando a lógica de uma harmonia social, propondo-se a difusão da ideia por meio de obras literárias, filmes, músicas e festas, advindo daí uma espécie de “espetacularização” da política, como se via nos eventos de comemorações cívicas: Dia da independência, Desfile da Juventude, Desfile da Mocidade e da Raça, Dia do Trabalho. (...). Se antes, para justificação da atração dos imigrantes, o brasileiro era preguiçoso, vendo-se nisto um grave problema para a produção econômica, agora a preguiça era uma característica exótica do povo brasileiro, que se mostrou uma necessária atitude de esperteza para fugir da exploração dos colonizadores estrangeiros. A esperteza constituía um valor: o da capacidade de inverter a lógica para explorar o explorador. O povo brasileiro, assim, na essência não era preguiçoso: era trabalhador e virtuoso e uma vez que fosse tratado com o devido respeito saberia responder ao chamado que lhe estava sendo feito para se integrar ao projeto da construção de uma grande nação (SOUTO MAIOR, 2017, p. 178-183).
Ocorre que, enquanto o trabalho traduzia uma necessidade, pela força triádica da pobreza, do Direito Penal e, por fim, da aludida aculturação; a efetiva fruição do direito figurava, ao revés, como mera eventualidade, na medida em que o Estado se mostrava conivente com o sistemático descumprimento da legislação pelos industriais.
A completa inoperância de órgãos de fiscalização e a difusão da ideia de conciliação são a marca congênita da burocracia trabalhista. Como ensina Souto Maior:
A partir de 1930, várias foram as leis trabalhistas publicadas, culminando, em 1943, com a CLT. Mas o advento dessa legislação estava ligado, precisamente, à intenção de organização dos fatores de produção para o desenvolvimento do modelo de produção capitalista, sendo que no aspecto do trabalho seria importante o seu disciplinamento, que se daria pela contrapartida de direitos, todavia sem um compromisso de que esses direitos fossem, efetivamente, aplicados. Tanto que em maio de 1932, no auge da edição da nova legislação, foi editado o Decreto n. 21.396, instituindo as Comissões Mistas de Conciliação, no âmbito do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com o fim específico de difundir a ideia de conciliação, para a solução de conflitos coletivos entre empregados e empregadores [...]. Na mesma linha de priorizar a conciliação, o Decreto n. 22. 132, de 25 de novembro de 1932, cria as Juntas de Conciliação e Julgamento (igualmente no âmbito do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio) [...]. (SOUTO MAIOR, 2017, p. 222).
Esses traços sinalizam que a profusão de leis trabalhistas foi, em grande medida, forma fraudulenta de satisfação dos interesses do empresariado, pela manipulação de destinatários de promessas.
Aliás, é sintomático que a política legislativa de Vargas tenha conquistado, naquele contexto, declarados elogios da burguesia industrial. Oliveira Vianna conta que o então presidente da FIESP teria retratado a nova legislação como um “cometimento útil e imprescindível ao atual estágio da civilização brasileira, que custa a crer já não fosse objeto de preocupação dos nossos estadistas”, destacando “o calor e o ingente esforço” implementado pelo Ministro do Trabalho para criar a legislação trabalhista, “cuja finalidade é dar amparo aos trabalhadores”. (VIANNA apud SOUTO MAIOR, 2017, p. 223).
Como se vê, não é de hoje que não se fala o que se pensa.
De todo o exposto, resta cristalino que as políticas estatais exerceram, bem aqui e como alhures, papel fundamental na conformação de bases econômicas para a chamada economia de mercado.
Portanto, releva-se justo o duro desabafo de Oliveira Vianna:
Entre nós, esta prevenção contra o Estado, esta atitude contra a “proteção” do Estado, esta preocupação de ficar à distância do Estado, é, então, absolutamente injusta. Principalmente quando parte, não de teóricos de cátedra, ou de publicistas doutrinários, mas de nossos capitães de indústria. Todos sabemos que para eles, o Estado tem sido um pai generoso e de mãos largas [...]. Procurem estes chefes de prósperas empresas pelo Brasil afora encontrá-los-ão todos, sem exceção, abrigados sob um guarda-chuva enorme - e este guarda-chuva que sustenta em suas mãos possantes é... o Estado. Sem esta “proteção do Estado” não ficaria um só de pé e seriam todos varridos num minuto, pelo pampeiro da crise (VIANA apud VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 35-36).
Com esse breve estudo da concretude histórica de formação do capitalismo, fica límpida a aliança Estado-Capital, bem como o caráter retórico da crítica ao que viria a ser o Estado Social, condenado por “exclusão do natural, em benefício do artificial” (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 63).
Assim é que, por uma linha teórica de marca histórico-realista, reafirma-se o caráter jurídico do mercado, como sendo “[...] uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam; um locus artificialis”, na sentença de Natalino Irti (apud GRAU, 2014, p. 29).
Mas, se a economia de mercado se colocou como resultante da ação do Estado no mundo econômico, este mesmo Estado não pôde ficar alheio às externalidades sociais que dela decorreriam, programaticamente. A pretexto de conter a pulsão exploratória do capitalista - que precifica tudo e todos -, novos modelos de Estado foram implantados, com promessas de conferir às pessoas uma vida não mercadológica.
É o que se analisa no próximo capítulo.
3 O ESTADO NA CONTENÇÃO DO PODER ECONÔMICO: UM HISTÓRICO DO CONSTITUCIONALISMO SOCIAL
Formadas pelo Estado as bases econômicas para a produção capitalista, deu-se a hora da burguesia dos países de industrialização avançada lançar mão de um discurso antiestatal. Pretendia-se – só agora - o fruir da mais ampla liberdade em todas as etapas do ciclo econômico[8], com vistas à otimização do espoco sistêmico, a “concentração capitalista” (SOUZA, 2011, p. 20), mais tarde inserido na eufemística noção axiológica da eficiência[9].
Com efeito, a Revolução Industrial imprimiu uma alavancagem na produção em níveis muitas vezes superiores à capacidade de consumo da sociedade produtora, que se via despojada dos recursos que respondessem às suas demandas mais básicas. Para remediar a crise de superprodução, os industriais impuseram, nas relações internacionais, por diplomacia ou guerra, (1) ampliação do acesso de suas mercadorias a outras regiões; e, na política interna, (2) a redução dos custos da produção, especialmente do fator trabalho.
É o típico mundo econômico do século XIX, fonte material do advento de um novo modelo, o “Estado Social ou Econômico” (CLARK; OLIVEIRA, 2011, p. 49), do século seguinte, pensado em socorro ao próprio modelo capitalista (GRAU, 2014, p. 28), embora tenha sido romantizado como um resgate humanitário das nações periféricas e dos trabalhadores, como anotam CLARK e OLIVEIRA (2011, p. 53).
Com efeito, o Estado Social é um modelo teórico construído a partir do que Venâncio Filho chama de “consciência do subdesenvolvimento” (1968, p. 14), que estimulou várias nações, notadamente no início do século XX, a retomarem medidas protecionistas, a fim de romper a posição de subserviência que ocupavam na economia global.
Assim se viu nascer, nas Constituições sociais, o princípio jurídico da soberania econômica, com destaque para a mexicana (1917) e de Weimar (1919) (CLARK; OLIVERIA, 2011, p. 53).
É possível dizer que se trata da projeção econômica do postulado da autodeterminação dos povos, pela qual a comunidade nacional decide perseguir a autossuficiência econômica, fixando normas relativas à produção e fruição dos bens de que dispõe.
Em consequência, a fim de garantir o exercício da soberania econômica, incumbiria ao Estado promover políticas de aprimoramento tecnológico e de inserção de sua população no sistema produtivo, expressões de um amplo e variado aproveitamento interno dos fatores de produção a ele juridicamente vinculados.
Em síntese, industrialização e democracia garantiriam soberania econômica, sem implicar, contudo, ostracismo nem necessária estatização dos fatores produtivos, como no “modelo socialista puro”[10]; mas apenas a ruptura de um alheamento colonial, em que eram (ou são?) indomáveis as contingências econômicas que incidiam no mercado interno.
Com efeito, a obra de John Maynard Keynes é apontada como a teoria econômica básica do Estado Social no século XX. Antônio Venâncio Filho argumenta, com espeque em Dênio Nogueira:
[...] a formulação econômica que JOHN MAYNARD KEYNES elaborou para o combate às grandes depressões representa [...] “a racionalização e os fundamentos da doutrina de que um Estado organizado – eventualmente um grupo de Estado – para estabilizar, estimular e dirigir o rumo de sua economia sem apelar para a ditadura e sem substituir um sistema baseado na propriedade por um sistema de poder ostensivo. Assim, KEYNES recriou a concepção de que a economia e a política estão indissoluvelmente ligadas”. O aparecimento da “Teoria Geral do Emprego, Juro e Dinheiro de KEYNES” em 1936, no dizer de DÊNIO NOGUEIRA, “consubstanciou em princípios teóricos a filosofia moderna da intervenção estatal na atividade econômica, com o fim de suplementar as forças econômicas que, como supunham os clássicos, tendiam automaticamente a restabelecer o equilíbrio, numa posição correspondente à ocupação plena”. E mais adiante observa o mesmo autor: “A economia contemporânea encontrou em KEYNES e seus seguidores os construtores do que hoje se convencionou chamar a economia do bem-estar social, em que são reconciliados os dois maiores fatores de estabilidade econômica: a iniciativa privada e a ação estatal. É a ação controlada do Estado que, sem regulamentar a atividade particular, procura distribuir os seus frutos de forma mais justa, com o fito de atender ao interesse coletivo” (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 12, grifos nossos).
Em termos normativos, o Brasil emplacou a receita keynesiana em diversas de suas Constituições, a começar pelo texto de 1934, de ímpar aspiração social.
A seu respeito, Antônio Venâncio Filho fornece-nos uma contextualização histórica:
A manutenção do Governo Provisório, com a ausência de um estatuto constitucional, fêz [sic] redobrar os esforços no sentido da convocação de uma Constituinte que estruturasse um estatuto legal, adotando os novos princípios legais que inspiraram as Constituições Européias do pós-guerra. A ascensão das classes trabalhadoras e a necessidade de reger os novos fenômenos da economia contemporânea já tinham conduzido à adoção, na Europa, a partir da Constituição Alemã de WEIMAR, de um título “Da Ordem Econômica e Social” nas Constituições, enquanto que em nosso continente americano a Constituição de 1917 do México, resultado da Revolução de 1910, também adotara esse capítulo. Assim o desejo da reconstitucionalização representava, não apenas a adoção de um novo diploma legal, na base dos moldes tradicionais, mas o esforço pela introdução, na nova Constituição brasileira, de diretrizes renovadoras. [...] A Constituição de 1934 já se enquadra nesse novo espírito das Constituições europeias do pós-guerra, refletindo o desenvolvimento de uma ordem econômica e social mais consentânea com as aspirações das classes trabalhadores e com as novas atividades do Estado (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 31).
Mas Washington Peluso Albino de Souza vai além, identificando na Carta de 34 similaridades com período ainda mais avançado do constitucionalismo europeu:
[...] o texto brasileiro de 1934 se antecipou à grande maioria das demais Constituições estrangeiras, cuja maior parte seguiu esta orientação somente após a II Guerra Mundial. Configura-se, portanto, nesta Carta, a passagem à ideologia neoliberal [sic], neocapitalista, ordoliberal, e, por outro lado, devemos dizer que também se registrou a passagem do Estado de Direito para o Estado Social de Direito, correspondendo a este tipo de ordem econômica. ‘Intervencionismo’, ‘planejamento’, ‘desemprego’, ‘justiça social’, ‘desenvolvimento’ foram expressões novas agora incorporadas (SOUZA, 2002, p. 86).
Neste ponto, importa dizer, de passagem, que o professor Albino de Souza compreende o “neoliberalismo” como o epíteto de um capitalismo submetido ao Direito Econômico, e, assim, ao controle estatal; portanto, distanciado da atual noção hegemônica de um “livre mercado” sem peias[11].
Seguindo a mesma orientação, adveio a Constituição de 1946, destituída, porém, da devida eficácia, como de resto se passa com as raras estruturas que visam estatuir políticas de bem-estar social. Venâncio Filho aduz, com espeque em Hermes Lima:
[...] HERMES LIMA assinalava “nada haver mais parecido com a Constituição de 34 do que a Carta de 46”, e acrescentava que, “tanto a constituinte de 34, com a de 46, foram assembleias preocupadas sobretudo de impedir que um Estado avassalador, de tendências discricionárias, dominasse a cena pública”. A ideia era justamente a de apagar a mancha do Estado Novo, “considerado como um hiato, um episódio que não teria deixado saudades”. A Constituição de 1946 mantém, assim, a estrutura dos poderes do Estado, como já arquitetado na Constituição de 1934, embora se apresentasse com melhor estruturação o capítulo referente à ordem econômica e social e demonstrasse maior atenção aos problemas sociais. Nesses quatro lustros, aumentou consideravelmente a intervenção do Estado no domínio econômico, sem que, porém, a máquina estatal estivesse aparelhada para atender essas novas realidades (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 34-35, grifo nosso).
O fato é que, a despeito da remansosa ineficácia das primeiras Constituições sociais, ali se gestava o objeto de uma nova disciplina jurídica no Brasil, o Direito Econômico, cujas raízes dogmáticas remontam à Paris de 1938[12], e que, anos mais tarde, em 1988, repercutiria na conformação de uma Constituição Econômica com inigualável ímpeto transformador.
4 INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA DE 1988
Dando início à compreensão e análise do objeto dogmático desta disciplina, importa esclarecer, de partida, o que se tem por Constituição Econômica.
Apesar de corriqueira a prática política, notadamente no pós-Segunda Guerra, de se inserir nos textos constitucionais um título ou capítulo específico para nominar de “Ordem Econômica”, “[...] esta ‘parte’ da Constituição não é um compartimento estanque em relação às outras normas e princípios constitucionais” (CANOTILHO; VITAL MOREIRA apud SOUZA, 2002, p. 12). Assim, podem compor a Constituição Econômica, outros dispositivos constitucionais que tocam o econômico.
Sendo mais específico, Eros Grau sustenta que a matéria afeta à Constituição Econômica orbita os institutos da propriedade e da empresa. Em suas palavras:
Há que determinar, pois, o critério a adotar para o fim de que se tenham reunidas – ou, melhor ainda, unidas – as matérias da ordem econômica à qual aludimos. Valho-me da propriedade e da empresa como critérios determinantes dessa reunião de matérias. (...) em primeiro lugar, é certo que pode ser tomado o tratamento conferido à propriedade – e, de fato, é -, se bem que associado à consideração da forma de repartição do produto econômico, como determinante da compostura das instituições jurídicas e sociais de conformidade com as quais se realiza o modo de produção. (...) em segundo lugar, importa salientar que me refiro à empresa, aqui, como expressão dos bens de produção em dinamismo, em torno da qual se instala o relacionamento capital x trabalho e a partir da qual se desenrolam os processos econômicos privados. Propriedade e empresa – inclusive a empresa agrícola -, assim, são dotadas da força atrativa que conduz à reunião, sob a alusão à ordem econômica, de preceitos que, na Constituição de 1988, encontram-se localizados em Títulos outros que não o da Ordem Econômica (e Financeira). (GRAU, 2014, p. 171-172-173).
Com efeito, tal premissa viabiliza o completo estudo da Constituição de 1988, ressaltando que os seus fundamentos jurídico-políticos, inscritos especialmente nos art. 1º, 3º, 6º, 7º, 170, 218 e 219, ainda se encontram vigentes, apesar das ditas “reformas neoliberais”, da década de 1990 e seguintes, que emendaram parcialmente o texto.
O substancial permanece hígido e, assim, apresenta potencial normativo para sua aplicação processual, em todos os âmbitos da institucionalidade.
Em confronto com as Constituições meramente estatutárias, a Constituição de 1988 é limpidamente “doutrinal”, no léxico de Eros Grau, o que a eleva em envergadura política, porque representa uma radicalização, um aprofundamento da autoridade do Poder Constituinte em face da sociedade que visa inaugurar (2014, p. 75).
Nesse sentido, a “ideologia constitucionalmente adotada” (SOUZA, 2002) aponta para uma construção: a edificação social coativa de uma economia de mercado cujos resultados conduzam à emancipação econômica e, por conseguinte, à participação política de toda a população.
Assim é que Eros Grau pontifica:
há, nela, nitidamente, rejeição da economia liberal e do princípio da auto-regulação da economia. Basta, para tanto, ler o art. 170; [...] a ordem econômica liberal é substituída por uma ordem econômica intervencionista. [...] A ordem econômica (mundo do dever-ser) produzida pela Constituição de 1988 consubstancia um meio para a construção do Estado Democrático de Direito que, segundo ao art. 1º do texto, o Brasil constitui. Não o afirma como Estado de Direito Social – é certo -, mas a consagração dos princípios da participação e da soberania popular, associada ao quanto se depreende da interpretação, no contexto funcional, da totalidade dos princípios que a conformam (a ordem econômica), aponta no sentido dele (GRAU, 2014, p. 305-306).
Nesse sentido, o capitalismo normatizado deve conferir a todos os cidadãos brasileiros uma vida digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, caput, CF), assumam o status econômico que lhes convier.
Ademais, à compreensão desse paradigma jurídico-econômico, impõe-se a articulação de dois artifícios enunciativos que compõem o art. 170 da Constituição, preceito-síntese da Constituição Econômica – os fundamentos e os princípios. Para Eros Grau, o fundamento (valorização do trabalho humano e a livre iniciativa) exprime o objetivo da ordem econômica, “enquanto que os princípios serão os elementos pelos quais aquela ‘ordem’ se efetivará, ou seja, o ponto de partida para esta efetivação, e que não pode ser relegado” (GRAU, 2014, p. 116).
Na temática dos princípios de Direito Econômico, em se tratando de um estudo crítico ao atavismo colonial das atuais políticas neoliberais, o princípio da função social da propriedade (art. 170, inciso III, CF) sobreleva em importância.
Não há mais espaço para apelos à liberdade absoluta na gestão da propriedade. Em Eros Grau se colhe que:
[...] a introdução do conceito de função social no sistema que reconhece e garante a propriedade implica a superação da contraposição entre público e privado – isto é, a evolução da propriedade em sentido social implica uma verdadeira metamorfose qualitativa do direto na sua realização concreta, destinada à satisfação de exigência de caráter social. A propriedade passa, então, a ser vista desde uma prospectiva comunitária, e não mais sob uma visão individualista (...). Surgem verdadeiras propriedades-função social, e não simplesmente propriedades. A propriedade continua a ser um direito subjetivo, porém com uma função social (GRAU, 2014, p. 44-45).
Mas Eros Grau ensina que é em seu dinamismo que a propriedade interessa ao Direito Econômico; portanto, enquanto empresa. Deste modo, apoiado na doutrina italiana[13], o publicista brasileiro realça a fundamentalidade do princípio da função social da empresa, em acepção positiva, para o entendimento da própria funcionalidade do atual paradigma normativo. In verbis:
[...] a propriedade dos bens de produção, compreendida como função social, representa um poder-dever de organizar, explorar e dispor. [...] É nesse nível que o princípio da função social da propriedade fluentemente realiza a imposição de comportamentos positivos ao titular da propriedade. [...] Neste ponto da exposição aparecem perfeitamente jungidas as ideias de propriedade, empresa e iniciativa econômica. Isso é fundamental, pois justamente na superposição destas ideias é que se vai encontrar campo fértil à colocação da noção de função social ativa. Note-se que Perlingieri [...], ao enunciar a tese do proprietário-empreendedor, está a refletir, precisamente, sobre a empresa, significativamente afiançando [...] que a teoria da propriedade não pode ser construída independentemente da teoria da iniciativa econômica. [...] É que se impõe deixarmos bem vincado a circunstância de que cuidamos de uma função, ou seja, de um poder-dever (dever-poder), que, como explicita Carlos Ari Sundfeld, traz “ao Direito Privado algo até então tido por exclusivo do Direito Público: o condicionamento do poder a uma finalidade”. (GRAU, 2014, p. 239-240).
Se assim é, salta aos olhos uma similaridade deontológica entre a tônica positiva do princípio da função social da empresa e o princípio da busca do pleno emprego (art. 170, inciso VIII, Constituição), ao menos na dimensão objetiva deste - a que não toca o trabalhador, senão os capitais, ou seja, os demais fatores produtivos. Para Eros Grau:
A “Expansão das oportunidades de emprego produtivo” e, corretamente, o “pleno emprego” são expressões que conotam o ideal keynesiano de emprego pleno de todos os recursos e fatores da produção. O princípio informa o conteúdo ativo do princípio da função social da propriedade. A propriedade dotada de função social obriga o proprietário ou o titular do poder de controle sobre ela ao exercício desse direito-função (poder-dever), até para que se esteja a realizar o pleno emprego. [...] Do caráter conformador do princípio decorrem consequências marcantes, qual entre eles, o de tornar inconstitucional a implementação de políticas públicas recessivas (GRAU, 2014, p. 272, grifos nossos).
Ao perscrutar os contornos do princípio da busca do pleno emprego, percebeu-se uma afinidade temática com o “princípio da economicidade”, colhido da teoria de Washington P. Albino de Souza. Segundo ele (SOUZA, 2002, p. 380), “elaborado sobre a lição maxweberiana da ‘linha de maior vantagem’”.
Trata-se da “racionalidade que define os limites do lícito, pela satisfação da ideologia” (SOUZA, 2011, p. 22). Ao induzir a uma “adequação desta ‘maior vantagem’ aos objetivos definidos constitucionalmente, permite a opção mais justa ou recomendável, em política econômica, diante da circunstancialidade apresentada ao ‘poder de decidir’” (SOUZA, 2002, p. 380).
Nesse sentido, talvez o constituinte visasse detalhar, nos termos expressos da busca do pleno emprego, que a propriedade de bens de produção é condição jurídica determinativa de iniciativa econômica maximizadora, para acoimar de inconstitucional, por desprezo a linhas de maior vantagem, a manutenção de políticas que priorizem a exportação de capitais, a exemplo da recorrente privatização discricionária de ativos estatais – e, para piorar, a preço infame.
Por fim, tendo em vista os objetivos e princípios do paradigma jurídico-econômico, passa-se a sumariar as técnicas estatais de ação econômica.
Com efeito, este tema suscita uma celeuma doutrinária já na compreensão classificatória. Para cumprir sua finalidade relatória de síntese, este trabalho apresenta as noções didáticas de Antônio Venâncio Filho e Eros Grau.
Antônio Venâncio Filho desenha uma dualidade tão fundamental que chega a cindir ali a dogmática do Direito Econômico: de um lado, o Direito Regulamentar, atinente às formas regulamentares da intervenção do Estado; de outro, o Direito Institucional, “em que o Estado se transforma em atos da vida econômica” (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 69).
Em termos analíticos, o autor distribui as várias formas de ação econômica estatal da seguinte forma – cumprindo observar que se via diante da Constituição de 1946:
a) através do poder normativo, em todas as suas modalidades e toda a hierarquia legislativa; b) através de medidas de polícia, disciplinadoras das atividades privadas e executando medidas exigidas pelo interesse público; c) assumindo o Estado serviços entregues anteriormente à atividade privada, ou tomando a inciativa de serviços industriais ou comerciais (ar. 146); d) cooperação com os particulares, sob todas as formas, para a realização de serviços e obras de interesse público (VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 53)
Por sua vez, Eros Grau e sua linguagem criativa oferecem interessante alternativa conceitual. Haveria três modalidades de intervenção: 1) intervenção por absorção ou participação; 2) intervenção por direção; e 3) intervenção por indução. Em suas palavras:
No primeiro caso, o Estado intervém no domínio econômico, isto é, no campo da atividade econômica em sentido estrito. Desenvolve ação, então, como agente (sujeito) econômico. Intervirá, então, por absorção ou participação. Quando o faz por absorção, o Estado assume integralmente o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito; atua em regime de monopólio. Quando o faz por participação, o Estado assume o controle de parcela dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito; atua em regime de competição com empresas privadas que permanecem a exercitar suas atividades nesse mesmo setor. No segundo e no terceiro casos, o Estado intervirá sobre o domínio econômico, isto, sobre o campo da atividade econômica em sentido estrito. Desenvolve ação, então, como regulador dessa atividade. Intervirá, no caso, por direção ou por indução. Quando o faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em sentido estrito. Quando o faz por indução, o Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados (GRAU, 2014, p. 90-143-144).
Portanto, fica claro que o “Direito Regulamentar” referido por Venâncio Filho assimila a função do Estado enquanto “agente normativo e regulador da atividade econômica”, nos termos do art. 174 da Constituição de 1988, na órbita material correntemente chamada de “intervenção indireta do Estado na economia”. E tal coincide com aquilo que Eros Grau, apoiado em Bobbio, ora pronuncia como intervenção por direção, quando a norma aflige o comportamento que lhe contrarie (sanção negativa), ora como intervenção por indução, quando a norma premia a conduta alinhada (sanção positiva) (GRAU, 2014, p. 120).
Por outro lado, o Direito Institucional venanciano resta dissimulado na expressão “intervenção direta do Estado na economia”, bifurcada, no léxico de Eros, em intervenção por absorção (os monopólios constitucionais, art. 177) e intervenção por participação (em regime concorrencial, art. 173).
Em seguida, será perceptível que a modalidade que melhor aproveita a potência econômica dos capitais públicos foi eleita pelo neoliberalismo brasileiro para ser descartada.
5 O NEOLIBERALISMO E A RESISTÊNCIA CONSTITUCIONAL
Para continuar imperando no Brasil, as hegemonias internacionais tiveram de atacar a Constituição: era preciso julgá-la anacrônica, sovina e ineficiente, no seu declarado nacionalismo, expresso em diversos dos seus dispositivos originais[14].
Eros Grau disseca o pensamento hegemônico que viria a promover gravíssimas rupturas com a ordem constitucional recém inaugurada:
[...] Os anos sessenta, com a consolidação das corporações multinacionais no mercado internacional, definiram, nitidamente, o nosso papel de consumidores de tecnologia externa. Ao par disso, uma certa conotação ideológica conferida à concepção de “modernização” tende a perpetuar esse papel. [...] No quadro ideológico da “modernização”, a racionalidade da divisão do trabalho leva naturalmente à condenação, como “irracional”, de toda e qualquer tendência à utilização de tecnologia local, pelas sociedades subdesenvolvidas, ou esforço para concebê-la. Nesse mesmo quadro, por outro lado, os conceitos de Estado e de Nação são apontados como obstáculos ao desenvolvimento, de modo que, sempre, a afirmação da busca de desenvolvimento tecnológico local é contestada sob o argumento de que “o nacionalismo é retrógrado” (GRAU, 2014, p. 225-226, grifo nosso).
A tanto, generalizou-se o discurso da “globalização”, em momento histórico assaz propício. É o que observa Celso Antônio Bandeira de Melo:
Com a queda do ‘muro de Berlim’ (novembro de 1989), e com a implosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (dezembro de 1991), a dualidade política, militar, econômica e ideológica que opunham dois blocos, o socialista e o capitalista, se desvaneceu. A partir de então uma única voz, um único poder, uma única ideologia, uma única propaganda, se impôs globalmente ao mundo: a da força remanescente, o capitalismo, sobreposse centrado nos países desenvolvidos que dirigiam e controlavam os interesses desta ordem, notadamente os Estados Unidos da América do Norte e os porta-vozes de seu pensamento e conveniências político-econômicas, isto é, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A expressão concreta assumida por este pensamento unilateral é a que se conteve no bojo de um movimento propagandístico de grande porte e universalmente disseminado, chamado “globalização”. (MELO, 2015, p. 1110, grifo nosso).
Vendido como sinal do tempo, o discurso, porém, não esclarecia o seu interesse mordaz: abrir o imenso mar ósseo à demanda energética dos países centrais, sem correspondência à altura desde a crise do petróleo dos anos 1970 (CLARK; OLIVEIRA, 2011, p. 49).
Assim se conduziu, de fora do País - ao modo colonial -, a ascensão política de um ideário rechaçado pela Soberania Popular Constituinte.
Propagandeando que as estatais são irremediavelmente “’cabides’ de emprego e ‘feudos’ de grupos políticos” (MEDAUAR, p. 103-104), deu-se curso a um grande programa público de alijamento estatal de atividades econômicas e de suas estruturas, o Plano Nacional de Desestatização – PND, dividido em duas partes, segundo Maria D’assunção Costa Menezello: a primeira, “[...] em que se privatizaram as empresas que desenvolviam atividade econômica, stricto sensu, não dependeu de qualquer alteração no figurino constitucional” (MENEZELLO, 2002, p. 45); ante a previsão de excepcionalidade da atuação direta do Estado, no art. 173 da Constituição; e a última, por seu turno, promoveu-se a flexibilização de monopólios pelas emendas constitucionais do neoliberalismo (MENEZELLO, 2002, p. 46).
Na sistematização de Eros Grau (2014, p. 230), cumpre referir:
1. EC nº 5, de 15.8.95 (altera o § 2º do art. 25), admitindo a concessão dos serviços locais de gás canalizado a empresa privada (cuja prestação só cabia a empresa estatal), e substitui a expressão “com exclusividade de distribuição” por “na forma da lei”;
2. EC nº 6, de 15.8.95 (nova redação ao inciso IX do art. 170 e ao § 1º do art. 176, bem como revoga o art. 171 – abole o tratamento privilegiado a empresa brasileira de capital nacional);
3. EC 7, de 15.8.95 (nova redação ao art. 178 e seu parágrafo único – abertura ao capital estrangeiro).
4. EC nº 8, de 15.8.95 (nova redação ao inciso XI e à alínea “a” do inciso XII do art. 21 – concessão de serviço de telecomunicação e radiodifusão a empresas privadas);
5. EC nº 9, de 9.11.95 (nova redação ao § 1º do art. 177 e acresce um § 2º ao mesmo – concessão de serviço de exploração de petróleo a empresa privada).
O diagnóstico da irracionalidade econômica dessas medidas é assinado por Celso Antônio Bandeira de Melo:
Estas investidas contra os dispositivos defensivos do interesse nacional foram feitas para facultar ao capital internacional eventual assenhoramento das riquezas minerais do país, ensejando a privatização da lucrativa Cia. Vale do Rio Doce – maior exportadora de minério de ferro do mundo – e a abertura da exploração de nossos gigantescos potenciais de energia hidráulica por estrangeiros. Assim também foi propiciada a dissolução do lucrativo sistema TELEBRÁS, para privatização das telecomunicações em favor de empresas alienígenas, beneficiadas, para tanto, com empréstimos do Governo Brasileiro, ensejando-se igualmente a abertura de negócios no setor petrolífero aos interesses das grandes multinacionais, até então proibidas de nele penetrar. Outrossim, a abertura da navegação de cabotagem e interior aos estrangeiros integrava-se na amplitude do projeto desnacionalizador cujo ponto crucial residiu na [...] supressão do conceito de empresa brasileira de capital nacional e na proteção que se lhe deveria outorgar (MELO, 2015, p. 1105).
Para Menezello, porém, “o PND desencadeou uma reengenharia jurídica-administrativa para mudar a face do Estado em benefício da participação da sociedade.” (2002, p. 42). Do mito, aprova as reformas neoliberais: “Seguindo essa filosofia econômica, dominante na comunidade internacional, parece-nos imprescindíveis as mudanças constitucionais resultantes das emendas comentadas” (2002, p. 49, grifo nosso).
Como se vê, tem razão Celso A. Bandeira de Melo: o “consenso internacional” chega nos países subdesenvolvidos como “teoria econômica”, capaz de corromper a política constitucionalizada. As palavras do grande mestre, mais uma vez, são insubstituíveis:
As teorias econômicas, sociais, políticas e, portanto, também as jurídicas, não surgem do nada, não são produto do acaso ou do momento de iluminação de uma só pessoa. Pelo contrário, elas são a face visível, o revestimento exterior, a feição “sofisticada” de interesses concretos que fermentam no seio da Sociedade. Correspondem, portanto, muitas vezes, tão só a um forma lapidada e esmerilhada de interesses de determinado ou determinados segmentos, os dominantes, apresentada sob a forma de proposições concatenadas, articuladas e ademais blindadas com o rótulo de “científicas”, para captarem os créditos de uma pretensa neutralidade. Evidentemente, então, as concepções jurídicas, as instituições jurídicas e as interpretações jurídicas irão sempre refletir o que se esteja a processar neste ambiente cultural, que, interessa ressaltar, pode ter muitos de seus ingredientes produzidos exogenamente, isto é, fora de sua própria sociedade. Nos países subdesenvolvidos, grande parte destes ingredientes culturais, maximamente no que concerne a ideias econômicas, políticas e jurídicas, é importada dos países desenvolvidos. Todos os países que surgiram como produto de empreendimentos coloniais – como é o caso do Brasil – receberam, já em seu berço, de uma assentada, o acervo de ideias que vigorava na Metrópole, e assim prosseguiram sob a tutela mental que este lhes prodigalizava. Nem mesmo a independência os liberta desta influência genética (2015, p. 1096).
É preciso indagar à Menezello: a qual “sociedade” se refere a autora? Nos lapsos das dissimulações, a dinâmica do capitalismo mundial vem se desnudando, de modo que não se pode mais ignorar o perfil hierarquizado da competição internacional e as redes que os países cêntricos lançam no seio social dos países subdesenvolvidos, para a manutenção de suas relações econômicas em regime de dependência.
Ademais, só se compreende o otimismo manifestado com o neoliberalismo se seu discurso se restringir aos donos do dinheiro. Ao se falar em “benefício da participação da sociedade”, ignora-se um dado cada vez mais evidente na história contemporânea da América Latina, bem denunciado por Eros Grau:
[...] Há marcante contradição entre o neoliberalismo – que exclui, marginaliza – e a democracia, que supõe o acesso de um número cada vez maior de cidadãos aos bens sociais. Por isso dizemos que a racionalidade econômica do neoliberalismo já elegeu seu principal inimigo: o Estado Democrático de Direito. (GRAU, 2014, p. 51).
Todavia, há uma saída. O remédio contra o atraso está na Constituição – ou no que ainda resta dela -, e na compreensão de seu caráter jurídico dirigente.
A propósito, oportuna a lição de Giovani Clark e Fabiano Gomes de Oliveira:
[...] ressalte-se a natureza dirigente da Constituição Federal de 1988. Ser dirigente significa que a Constituição não é um mero conjunto de enunciados informativos ou orientadores, a ser seguido quando e na intensidade que convier ao governo do momento, ao contrário, ela impõe, ordena, obriga, submete o governante ao que estatui, com força vinculante necessária e cumprimento imediato, [...] coordenando uma ação estatal ativa no domínio jurídico, social, político, econômico e cultural, com fundamento na implementação dos direitos fundamentais, considerados em unidade [...] (2011, p. 62).
Ademais, é preciso entender que a estrutura programática dos preceitos jurídico-econômicos (SOUZA, 2002, p. 46) de uma Constituição não conspira contra a sua normatividade; em verdade, ao contrário, a evidencia.
A norma programática é a fórmula pela qual o Povo, no instante-zero da institucionalidade, afasta o cerne de suas aspirações constituintes de futuros entendimentos reativos.
Essa é a tese de Vezio Crisafuli, citado por Washington P. Albino de Souza:
A predominância de normas programáticas, exprimindo definições, proposições gerais, recomendações, orientações e critérios de doutrina é uma das principais características dos capítulos sobre a ordem econômica e social nas constituições contemporâneas. Estudando fenômeno semelhante em face da Constituição italiana vigente, VEZIO CRISAFULI [explica] a razão do aparecimento das normas programáticas, ao afirmar que “as normas constitucionais programáticas representam a fixação, na Constituição do país, de determinadas diretrizes políticas que poderiam também, hipoteticamente, ser estabelecidas periodicamente pelos órgãos competentes, mas que pela sua importância são subtraídas a qualquer eventual oscilação e modificação de orientação dos próprios órgãos. São, assim, uma diretiva política traduzida em termos de normas constitucionais, estabelecidas institucionalmente como premissa e limites das diretrizes que serão concretamente adotadas pela maioria parlamentar e pelo governo por ela escolhido” (SOUZA, 2002, p. 46-47).
Assim, atualmente, a Constituição Econômica deve ser encarada como a principal fonte hermenêutica da jurisdição constitucional no crivo das ações de governo. Não há dúvida: o princípio da “separação de poderes” admite que o Poder Judiciário relembre aos demais Poderes as balizas constitucionais da política econômica. Vide Eros Grau, apoiado em doutrina portuguesa:
O Direito passa a ser operacionalizado tendo em vista a implementação de políticas públicas, políticas referidas a fins múltiplos e específicos. Pois a definição dos fins dessas políticas é enunciada precisamente em textos normativos que consubstanciam normas-objetivos e que, mercê disso, passam a determinar os processos de interpretação do Direito, reduzindo a amplitude da moldura do texto e dos fatos, de modo que nela não cabem soluções que não sejam adequadas, absolutamente, a tais normas-objetivo. [...] A propósito, observa Luis Cabral de Moncada [...]: “ [...] a consagração constitucional de um conjunto de objetivos de política econômica tende a transformar numa questão de interpretação e de aplicação do Direito tudo aquilo cuja concretização deveria ficar ao livre jogo das forças político-economicas. Atribuir caráter jurídico ao âmbito da pura luta política, ao mesmo tempo que coloca nas mãos dos tribunais de fiscalização da constitucionalidade das normas a tarefa espinhosa do controle de disposições de caráter eminentemente político”. Em seguida, porém, o autor prossegue: “A consagração de disposições de alcance programático ou diretivo é, contudo, uma consequência direta da constitucionalização de uma escala de valores cuja realização se entende ser natural no modelo do Estado de Direito Social dos nossos dias” (GRAU, 2014, p. 161-162).
E mais: quanto à programaticidade brasileira, se, de um lado, denota um entusiasmo político, quase delirante, de um povo que se via libertado de décadas de autoritarismo; de outro, demonstra consciência de que a supressão das estruturas contrárias ao novo projeto constitucional exigiria uma postura institucional de feição procedimental, progressiva, ou seja, um esforço continuado.
É tempo, portanto, de ortodoxia constitucional, ou de um “prudente positivismo, indispensável à manutenção da obrigatoriedade normativa do texto constitucional” (CANOTILHO apud GRAU, 2014, p. 167), na sua pujante programaticidade.
Ligado a isso, Eros Grau sustenta que, mesmo após a revogação do art. 171 da Constituição pela EC 06/95, ainda é juridicamente viável que a lei confira proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País (2014, p. 258).
Noutro giro, fulcral é entender os fundamentos da “intervenção direta” - do Estado empresário -, pela suspeita, manifestada desde o projeto desta pesquisa, de que os profundos compromissos assumidos perante a Assembleia Constituinte, e agora registrados nos artigos 3º e 170 da Constituição de 1988, continuarão sendo meras demagogias se não apostarmos na institucionalidade empresária.
É certo que a compreensão unitária da Constituição permite concluir que as privatizações operadas desde a década de 1990 contrariam as suas diretrizes fundamentais, pelo que reclamavam (e reclamam já) refreamento jurisdicional. Nas palavras de Eros Grau:
No que respeita a redefinição do papel do Estado, reclama a identificação de setores indevida e injustificadamente, do ponto de vista social, atribuídos ao setor privado – aqui as áreas da educação e da saúde – bem assim de outros nos quais vem ele atuando, como agente econômico, também do ponto de vista social, indevida e injustificadamente. É de essas verificações que se haveria de orientar a política de privatização de empresas estatais. A política neoliberal também nessa matéria implementada é incompatível com os fundamentos do Brasil, afirmados no art. 3º da Constituição de 1988, e com a norma veiculada pelo seu art. 170. A Constituição do Brasil, de 1988, define, como resultará demonstrado ao final desta minha exposição, um modelo econômico de bem-estar. Esse modelo, desenhado desde o disposto nos seus art.s 1º e 3º, até o quanto enunciado no seu art. 170, não pode ser ignorado pelo Poder Executivo, cuja vinculação pelas definições constitucionais de caráter conformador e impositivo é óbvia. Assim, os programas de governo deste e daquele Presidentes da República é que devem ser adaptados à Constituição, e não o inverso. [...] Sob nenhum pretexto, enquanto não alteradas aquelas definições constitucionais de caráter conformador e impositivo poderão vir a ser elas afrontadas por qualquer programa de governo. E assim há de ser, ainda que o discurso que agrada à unanimidade seja dedicado à crítica da Constituição. A substituição do modelo de economia de bem-estar, consagrado na Constituição de 1988, por outro, neoliberal, não poderá ser efetivada sem a prévia alteração dos preceitos contidos nos arts. 1º, 3º e 170[15]. (GRAU, 2014, p. 45-46).
A doutrina neoliberal diz apoiar a tese da excepcionalidade da intervenção direta no vigente Texto Magno (MENEZELLO, 2002, p. 45). De fato, “mais reticente do que em Cartas anteriores” (SOUZA, 2002, p. 462), ele preconiza que “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo” (CRFB, art. 173).
Todavia, os autores críticos às ondas de privatização sustentam que a empresa pública (em acepção ampla) ostenta inigualável capacidade edificante, e a Constituição não ignora isso. Washington P. Albino de Souza vai dizer que “[...] é por ela que o Estado chega aos grandes objetivos transformadores” (SOUZA, 2002, p. 50). E Eros Grau, em tom mais incisivo:
A leitura isolada do art. 173 e dos incisos XIX e XX do art. 37 induz, à primeira vista, a conclusão de que a Constituição restringe, rigorosamente, o surgimento de empresas estatais, em especial aquelas voltadas à exploração direta da atividade econômica em sentido estrito. Não deve porém essa conclusão ser afirmada em termos absolutos. [...] Nela se encontram parâmetros a informar a necessária desprivatização do Estado, bem assim elementos que podem nutrir o movimento da desregulação da economia. Não, porém, a velas pandas. A ordem econômica que deve ser, projetada pelo texto constitucional, reclama o amplo fornecimento de serviços públicos à sociedade, exigindo também, por outro lado, sejam providas a garantia do desenvolvimento nacional, a soberania nacional, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, o pleno emprego, entre outros fins (GRAU, 2014, p. 283-84)
Portanto, nenhum movimento midiático embalado pelo canto da modernidade justificaria o advento das políticas que vem eliminando as rendas sociais ligadas a atividades econômicas controladas pelo Estado. Lamentável que as reformas “constitucionais” venham sendo implementadas, sem óbice do Ministério Público nem do Judiciário, mais às voltas com editoriais jornalísticos que com a Constituição que os emprega.
Se se levar a sério o Direito Constitucional, vai-se perceber que é ínfimo o ônus argumentativo para a justificação de uma política econômica que priorize a ação direta do Estado, pois o tacanho índice de desenvolvimento humano de quase todas as regiões brasileiras escancara a pendência dos objetivos fundamentais do Estado. Ou vão dizer que o apelo constitucional ao desenvolvimento nacional (art. 3º, inciso II), à erradicação da pobreza (art. 3º, inciso III), ou à redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, inciso VII), magnos exemplos, não sintonizam com a cláusula geral do relevante interesse coletivo?
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ideário neoliberal alimenta-se de uma teoria constitucional contingencialista, segundo a qual a Constituição “[...] é, em sua essência, um documento político, pois aí estão expressas as ideologias políticas de determinado momento histórico” (MENEZELO, 2002, p. 47).
Todavia, atualmente, a manutenção de um projeto viável de democracia depende de uma teoria jurídica de autopreservação do Direito em face de “predadores externos” (STRECK, 2010), como a economia e a política. A consolidação de um novo paradigma político exige mais que uma apuração estatística da opinião ideológica “do momento”, oportunistamente encomendada por aqueles que fracassaram na proposição constituinte de alienar a soberania jurídico-econômica do Povo.
Para além de reformas e deformas hermenêuticas, “a Constituição ainda constitui”, conclama Lenio Streck. Nos limites do Direito, é possível afirmar a atualidade da vigência máxima do Estado Social e seus consectários jurídico-econômicos: busca do pleno emprego de capitais ou, em outras palavras, observância da “linha de maior vantagem” (SOUZA, 2002, passim) ao mercado interno, o reduto social, jurídico e econômico da valorização estatal do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, CRFB).
Portanto, é imperioso, entre outras medidas, fomentar reciprocidades entre empresas brasileiras, ampliar o espectro de competências produtivas e aprimorar as condições de consumo.
Atender-se-á, assim, o interesse nacional pela quebra da dependência externa e, por conseguinte, a plural e situada dignidade humana, promovendo as condições de acesso da população aos ativos da produção social. É direito positivo, exigível, pois, pelos agentes da Democracia.
Caso contrário, se querem nos fazer crer que hoje a vontade popular aponta para a eterna subordinação da economia brasileira ao interesse estrangeiro, que fomentem a formação do espaço radical e anárquico do Poder Constituinte Originário. E assumamos todos os seus riscos inerentes.
REFERÊNCIAS
BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. rev. e atual. Até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014. São Paulo: Malheiros, 2015.
CAMARGO, Ricarso Antônio Lucas. Breve Introdução ao Direito Econômico. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993.
CLARK, Giovani; OLIVEIRA, Fabiano Gomes de. Política Econômica para o desenvolvimento na Constituição de 1988. In: SOUZA, Washington Peluso Albino de; CLARK, Giovani (coord): Direito Econômico e a Ação Estatal na Pós-Modernidade. São Paulo: LTr, 2011.
COMPARATO, Fábio K. A Civilização Capitalista. Ed. 2. São Paulo: Saraiva, 2014.
FURTADO, Celso. Economia colonial no Brasil nos séculos XVI e XVII: Elementos de história econômica aplicados à análise de problemas econômicos e sociais. São Paulo: HUCITEC/ABPEH, 2001.
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Ed. 34. São Paulo: Companhia das Letra, 2007.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Ed. 16, rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2014.
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16ª ed. rev., atual. e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
MENEZELLO, Maria D’assunção Costa. Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. São Paulo: Atlas S.A., 2002.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de Direito do Trabalho. Volume I. Parte II. História do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2017.
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
SOUZA, Washington Peluso Albino de. O conceito e objeto do Direito Econômico. In: SOUZA, Washington Peluso Albino de; CLARK, Giovani (coord.): Direito Econômico e a Ação Estatal na Pós-Modernidade. São Paulo: LTr, 2011.
VENÂNCIO FILHO, Antônio. A intervenção do Estado no domínio econômico. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1968.
_____
NOTAS:
[3] É certo que a defesa de uma tal cisão metodológica entre Economia e Direito, este normativo, aquela descritiva, não é infensa a críticas. Vide Lassale, ontem, e Posner, hoje. Mas, a despeito das retóricas neutrais, é seguro concluir que, neste tema, as críticas se nutrem do ressentimento da parcela social que se viu preterida na ponderação de interesses decidida pelo sistema normativo, no decurso histórico do constitucionalismo moderno. Aí se explicam os movimentos de desmoralização da Constituição formal, uma “mera folha de papel/ irresponsável na declaração de tantos e custosos direitos” - se se puder aproximar as duas escolas numa só paráfrase; e as suas respectivas teorias realistas, que atribuem o status da normatividade, sem a mediação jurídico-constituinte, às aspirações sociais que cada qual enfatiza – ora o proletário, ora o capital.
[4] Alexandre Parodi, citado por Antônio Venâncio Filho, analisa as bases deste paradigma: “A concepção liberal do Estado nasceu de uma dupla influência: de um lado, o individualismo filosófico e político do século XVIII e da Revolução Francesa, que considerava como um dos objetivos essenciais do regime estatal a proteção de certos direitos individuais contra os abusos da autoridade; de outro, o liberalismo econômico dos fisiocratas e de ADAM SMITH, segundo o qual a intervenção da coletividade não deveria falsear o jogo das leis econômicas, benfazejas por si, pois que esta coletividade era imprópria para exercer funções de ordem econômica. [...] a atividade privada pode exercer-se livremente em matéria econômica: a liberdade do comércio e da indústria é um dos aspectos da liberdade individual” (PARODI apud VENÂNCIO FILHO, 1968, p. 07).
[5] Com Celso Furtado, depreende-se que “A história portuguesa apresenta assim essa peculiaridade da ascensão completa e definitiva da burguesia em pleno século XIII. [...]. A revolução política que leva à constituição do Estado nacional português é a mesma revolução econômico-social que implantará a supremacia definitiva da classe burguesa, isto é, dos núcleos urbanos. Em Portugal não se processou a lenta assimilação da classe burguesa na estrutura política herdada da Idade Média [...]. O Estado português – e é nisto que ele se aproxima das repúblicas mercantis italianas – foi desde o início dirigido por uma classe social sem ligações com um passado feudal. Uma classe social marcada pelo espírito de ganho, individualista no sentido burguês, cuja escala de valores se pautava nas disponibilidades materiais de cada um, e não nos privilégios de sangue” (FURTADO, 2001, p. 27-27).
[6] Como ensina Celso Furtado, “Numa economia industrial a inversão faz crescer diretamente a renda da coletividade em quantidade idêntica a ela mesma. Isto porque a inversão se transforma automaticamente em pagamento a fatores de produção. Assim, a inversão em uma construção está basicamente constituída pelo pagamento do material nela utilizado e da força de trabalho absorvida. A compra do material de construção, por seu lado, não é outra coisa senão a remuneração da mão-de-obra e do capital utilizados em sua fabricação e transporte. [...] A inversão feita numa economia exportadora-escravista é fenômeno inteiramente diverso. Parte dela transforma-se em pagamentos feitos no exterior: é a importação de mão-de-obra, de equipamentos e materiais de construção [...]. ” (FURTADO, 2007, p. 85). E mais: “Uma vez efetuada a importação dos equipamentos e da mão-de-obra escrava, a etapa subsequente da inversão – construção e instalação – se realizava praticamente sem que houvesse lugar apara a formação de um fluxo de renda monetária”. (FURTADO, 2007, p. 84).
[7] Para Souto Maior, a malandragem decorre de uma posição de resistência em face do penoso viver imposto pela tradição escravista: “O característico da malandragem surge, ou ressurge, como reação, como um enfrentamento a um mundo do trabalho hostil, e não como característica ínsita do povo, conforme se tentou impregnar pela classe dominante no período de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, iniciado em 1850”. Com Antônio Cândido, sustenta que “Em sua fase heroica – no período de formação – a música popular encontrava seu círculo à margem do trabalho que, no dizer de Caio Prado Jr., ‘ se torna ocupação pejorativa e desabonadora’. Fora da escravidão, o músico escapava às fronteiras do trabalho braçal, sobrevivendo graças às imposições do arbítrio, às migalhas do favor senhorial, aos biscates escusos. Nossa música popular nascia parceira do sereno e da preguiça” (SOUTO MAIOR, 2017, p. 190).
[8] O funcionamento da economia se apresenta como um ciclo, uma cadeia de momentos lógico-conceituais que se ordenam nos seguintes termos, segundo Ricardo Camargo: “Ao fato econômico caracterizado pelo trabalho humano destinado à criação dos bens aptos à satisfação das necessidades dá-se o nome de produção. Seus elementos, em princípio, seriam os elementos naturais, o capital e o trabalho. [...] Ocorre, porém, que nem todos têm as mesmas necessidades, com a mesma capacidade para a produção de bens. Assim, aqueles que têm o bem em mãos e dele não necessita, põem-no à disposição de outrem para adquirirem outro que atenderia às suas necessidades. A este fato econômico caracterizado pela passagem do bem das mãos de uma pessoa às de outra nomina-se circulação. As atividades econômicas de produção e circulação de bens geram resultados nos quais cada um dos agentes econômicos deve ter uma participação, participação esta que se traduz nas diferentes formas de ganho. É chamado repartição o fato econômico caracterizado pela participação a que nos referimos. Por último, o objetivo final de toda atividade econômica: o consumo. Este fato econômico se verifica gerando o bem [que] satisfaz a necessidade que determinou sua aquisição. Estes fatos econômicos essenciais são os componentes do chamado ciclo econômico” (CAMARGO, 1993, p. 22-23, grifo nosso).
[9] Referindo-se à visão chicaguiana da Análise Econômica do Direito, Washington Peluso Albino de Souza aduz: “Para Posner, trata-se da ‘aplicação dos temas e métodos empíricos da teoria econômica ao sistema jurídico’. Com isto, pretende ampliar as relações da Economia com o Direito, na aplicação de algumas disciplinas jurídicas, dizendo que a ‘Teoria Econômica tem papel positivo e normativo em todos os ramos do Direito’. Recorre às teorias da “ofelimidade” e do “equilíbrio econômico”, apresentadas por Valfredo Pareto, destacando a importância dos conceitos econômicos de “valor” e “eficiência” e colocando-se acima dos critérios éticos e dos bens e valores da vida, quando feridos [...]. (SOUZA, 2002, p. 291, grifos nossos).
[10] Segundo Washington Peluso Albino de Souza, “no ‘modelo socialista puro’, não é admitida a propriedade privada dos bens de produção, razão pela qual não se caracterizam as transações em regime de livre concorrência. A atividade econômica, mesmo dos cidadãos, está na dependência do Estado, ao qual é, ao final, atribuída” (SOUZA, 2002, p. 368-369).
[11] Em sua exposição: “[...] consideraremos os “modelos” ideológicos” “puros” e os “mistos”, em suas manifestações mais simples e que nos oferecem os elementos indispensável ao raciocínio em face dos textos constitucionais. Dentre os primeiros, distinguimos o Liberalismo e o Socialismo; dentre os segundos, o Neoliberalismo ou o Neocapitalismo, talvez vindo-se falar também em Neo-socialismo, a se julgar pelas modificações anunciadas nos princípios ideológicos adotados e que, embora opostos em termos “puros”, ali se encontram reunidos. [...]. ” (SOUZA, 2002, p. 368). Mas, neste trabalho, por conveniência comunicativa, o termo “neoliberalismo” é tomado na acepção corrente.
[12] A propósito da emergência do chamado Direito Econômico, Washington P. Albino de Souza aduz: “[...] De tal modo se haviam transformado as condições socioeconômicas do mundo capitalista, que os seus teóricos, reunidos em 1938, em Paris, emitiram novas regras no documento intitulado ‘Colóquio Lipmann’. [...] Esta ‘agenda’ firmaria os novos ‘princípios’, marchando para a combinação dos elementos ideológicos ‘puros’ do Liberalismo com elementos socializantes que se traduziriam, pelo seu próprio desenvolvimento, em expediente como o do planejamento econômico e social. [...] Foi considerando esta particularidade que H.J. Humel propôs a constituição de uma nova disciplina jurídica específica, à qual denominou Direito Econômico. Esta levava do ‘contratual’ ao ‘institucional’ e aliava o economista ao jurista”. (SOUZA, 2002, p. 369-370, grifo nosso).
[13] “[...] é de Giovanni Coco a observação de que a moderna legislação econômica considera a disciplina da propriedade como elemento que se insere no processo produtivo, ao qual converge um feixe de outros interesses que concorrem com aqueles do proprietário e, de modo diverso, o condicionam e por ele são condicionados. Esse novo tratamento normativo respeita unicamente aos bens de produção, dado que o ciclo da propriedade dos bens de consumo se esgota na sua própria fruição. Apenas em relação aos bens de produção se pode colocar o problema do conflito entre propriedade e trabalho e do binômio propriedade-empresa. Esse novo Direito – nova legislação – implica prospecção de uma nova fase (um aspecto, um perfil) do direito de propriedade, diversa e distinta da tradicional: a fase dinâmica. Aí, incidindo pronunciadamente sobre a propriedade dos bens de produção, é que se realiza a função social da propriedade. Por isso se expressa, em regra, já que os bens de produção são postos em dinamismo, no capitalismo, em regime de empresas, como função social da empresa” (GRAU, 2014, p. 236-7).
[14]Citem-se, mais uma vez, os princípios da soberania nacional, da função social da propriedade e da busca do pleno emprego, todos elencados no art. 170 da Constituição; bem como o princípio da primazia do mercado interno, art. 219; e os seguintes artigos revogados: art. 171, que autorizava a lei a conferir tratamento privilegiado ao capital nacional para fins economicamente estratégicos; e o § 1º do art. 177, que garantia monopólio da União nos riscos e resultados da exploração do petróleo e do gás natural, vedando distribuição de qualquer gênero.
[15] Parece-nos evidente tratar-se de ironia, ou outra forma figurada, a condição de validade que Eros Grau opõe às reformas neoliberais. O eixo paradigmático de uma Constituição – e é essa a envergadura dos artigos 1º, 3º e 170 da Lei Maior - é intangível ao poder reformador.
Data da conclusão/última revisão: 1/11/2019
Rodrigo de Paula Garcia Caixeta
[1] Graduado em Direito pela PUC Minas (2013), especialista em Direito Processual Penal pela Universidade Anhanguera/Uniderp (2015) e em Direito Administrativo pela Estácio de Sá (2017). Advogado.
Código da publicação: 4645
Como citar o texto:
CAIXETA, Rodrigo de Paula Garcia..Enquadramento constitucional da política econômica e os atavismos coloniais do Brasil contemporâneo. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 31, nº 1673. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-economico/4645/enquadramento-constitucional-politica-economica-os-atavismos-coloniais-brasil-contemporaneo. Acesso em 9 dez. 2019.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.