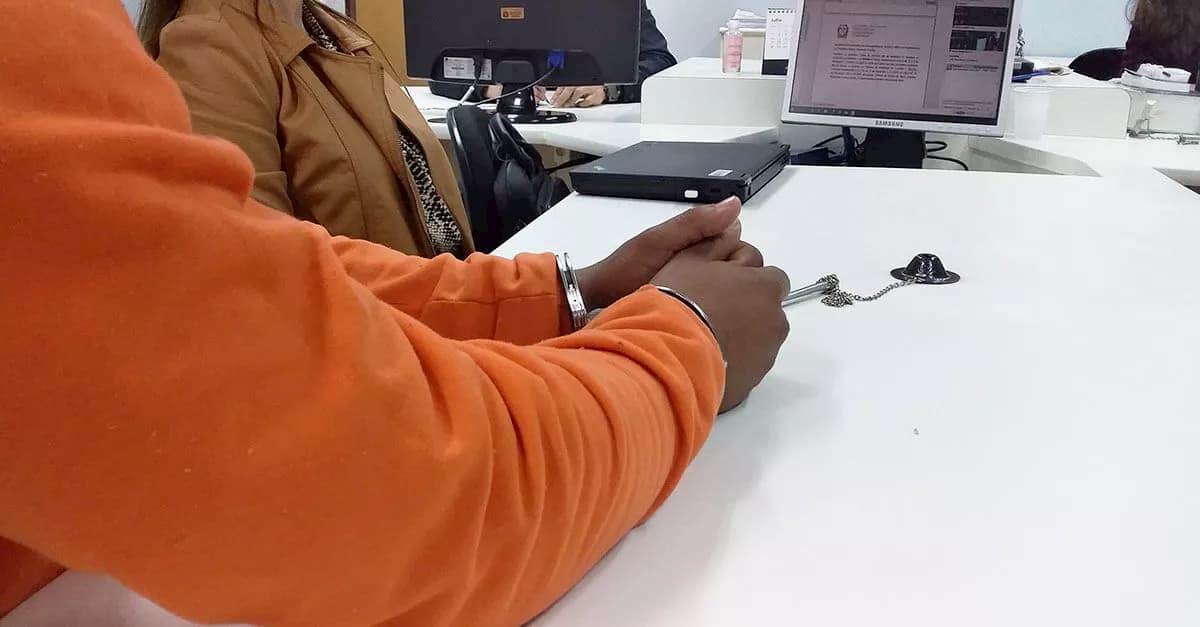Susan Blackmore (1999) começa seu livro com esta brilhante e agudíssima observação: “os humanos somos bichos raros”. Sem lugar a dúvidas, muito embora nossos corpos evolucionaram por seleção natural da mesma forma que outros animais, a evolução humana se deu (e se dá) de forma fundamentalmente distinta da dos outros organismos. Daí que existem grandes diferenças entre nossa espécie e as outras criaturas desse enredado mundo: somos, definitivamente, distintos.
Para começar, temos a capacidade de falar e nos consideramos a espécie mais inteligente, somos capazes de ganhar-nos o sustento de mil maneiras diferentes e nos encontramos distribuídos por todas as partes. Devido a nossa versatilidade, declaramos guerra, amamos e odiamos com a mesma frequência, temos crenças religiosas, invejamos os demais, acreditamos em deuses e nos envergonha a sexualidade. Consumimos televisão e cotonetes, conduzimos automóveis, usamos computadores e comemos sorvete. Causamos um impacto ambiental tão agressivo no ecosistema que, ao que parece, nossa própria capacidade de manter vivo aquilo de que mais necessitamos para existir está em perigo de extinção. E um dos maiores incovenientes do ser humano é a dificuldade que supõe contemplar-nos uns aos outros sem prejuízos; somos, de fato, seres desenhados para (pré-)compreender as pessoas e os fenômenos que nos cercam.
Por outro lado, somos animais comparáveis a qualquer outro: dispomos de pulmões, carne, sangue, coração e cérebro compostos de células vivas; comemos, respiramos e nos reproduzimos. A teoria da evolução de Darwin através da seleção natural pode explicar facilmente como chegamos, durante um largo período evolutivo e junto com os demais seres do planeta, a ser o que somos e a compartilhar tantas características. Contudo, também é certo que nos comportamos de maneira bastante distinta dos outros animais.
Cada um de nós é um ser único: nossos genes provêm de outras criaturas que existiram antes de nós e, de reproduzir-nos, seguirão transmitindo-se. Por outra parte, uma vez que dispomos de um talento inato para a linguagem que não tem rival e de um entorno cultural muito peculiar, somos o resultado de um complicado processo que combina os programas ontogenéticos cognitivos do organismo com uma enorme quantidade de estímulos[3] procedentes de nossa igualmente embaraçada existência (essencialmente) social, ou seja, do ambiente sócio-cultural em que movemos nossa existência no tempo e no espaço.
De fato, custa trabalho imaginar por que existe o homem, e não somente entendendo tal pergunta em um sentido metafísico de causas últimas, senão em um aspecto muito mais próximo do processo filogenético que tem lugar nos últimos quatro milhões de anos. Vejamos, então, em breves linhas, como provavelmente se deu a filogenia do Homo sapiens para entender a que nos estamos referindo. Um detalhe, contudo, não se deve deixar passar: existe um princípio importante (e inegociável) na evolução biológica segundo o qual a evolução sempre se incrementa a partir de algo preexistente; não existe um ser onipotente capaz de contemplar, por exemplo, o desenho do olho e dizer: “seria melhor se tirássemos um troço e começassemos de novo”. Começar de novo nunca é possível.
Assim, há fundados motivos para supor que a espécie Homo sapiens foi submetida a intensas pressões evolucionárias promotoras de uma crescente agudeza perceptiva (dominando absolutamente a modalidade visual, seguida da auditiva e a táctil, e em progressivo detrimento da olfativa) e, sobretudo, de uma insólita capacidade para a associação, o raciocínio e a inferência (do que é testemunho o espetaculoso crescimento das zonas neocorticais de seu cérebro). Esse crescimento espetacular das habilidades cognitivas é o resultado das pressões de um meio ambiente cambiante que dava vantagens adaptativas decisivas à versatilidade, à flexibilidade das respostas e à capacidade de aprendizagem dos organismos.
Para o que aqui interessa, nossa história filogenética parece ser como segue: por motivos que não vêm especialmente ao caso, o antepassado comum que compartilhamos com os grandes monos homínidos, os símios (gorilas e chipanzés), acabou resultando menos competitivo que outros monos no nicho ecológico arbóreo originário de todos os primatas, de maneira que acabou sendo apartado à periferia desse nicho.
As pressões evolucionárias se deram aqui, na periferia arbórea, em um duplo sentido: por um lado, a importante disposição genética à coesão social, própria dos primatas, foi desincentivada (a periferia do nicho arbóreo favoreceu mais bem a busca “individualista” de oportunidades de exploração de recursos minguados), o que levou a selecionar traços que favoreceram a autonomia e a capacidade para se fiar cada vez mais de si mesmos. Por outro lado, e em conseqüência disso, as pressões seletivas a favor do incremento das capacidades cognitivas aumentaram de forma espetacular: a agudeza visual – dominante já em todos os primatas – melhorou (aperfeiçoou-se a visão estereoscópica, já adquirida no espaço adaptativo tridimensional que era o nicho arbóreo), as conexões corticais (não regidas automaticamente pelo sistema límbico) intramodulares (visual-visual) e intermodulares (visual-táctil) cresceram, e com ele as capacidades associativas e de manipulação simbólica.
Mais tarde, nossa linha filogenética se separa dos símios quando nossos antepassados, os Australopithecus[4] , abandonam finalmente a periferia do nicho arbóreo selvagem e se instalam na savana aberta. As pressões evolucionárias que aqui nos interessam parecem haver sido as seguintes.
Desde logo, o sistema auditivo-vocal que se havia desenvolvido nos primatas como um sistema de alerta sob o controle “automático” do sistema límbico (o sistema motivacional-emocional) foi submetido a pressões seletivas remodeladoras intensas.
Com efeito, na savana, aberta e com pouca proteção, era muito desvantajoso não poder controlar, à vontade, a emissão de sons de alerta, sons que poderiam dar sinais localizadores para os predadores ou, ao contrário, constituir até mesmo sinais de alerta para as possíveis presas. Saber manter o silêncio, poder avaliar o perigo, arrancar a expressão gutural do reino emocional regido pelo sistema límbico, converteu-se em uma prioridade evolucionária – assim que o princípio não foi o verbo, mas o silêncio .
Isso acabou favorecendo o aparecimento de um sistema auditivo-vocal que deixou de ser tutelado exclusivamente pelo sistema límbico para passar a ser controlado, de forma crescente, por zonas neocorticais do cérebro: o que acarretou, em igual medida, um importante aumento absoluto e relativo dessas zonas nos cérebros da primeira espécie de Homo, a aparição de novas conexões intramodulares (auditivo-auditivo) e intermodulares (visual-auditivo) e de novas capacidades associativas.
O surgimento do trato vocal no genus Homo não somente teve que ver com as evidentes possibilidades de transformação morfológica abertas pelo bipedalismo dos Australopithecus (e o bipedalismo precedeu em muito ao crescimento do cérebro do hominídeo), senão também com a incipiente liberação que neles se deu do sistema auditivo-vocal relativamente à tutela do sistema límbico e à consequente necessidade de expressões vocais mais e mais controladas e matizadas.
Por outra parte, e referente às necessidades adaptativas de sociabilidade, como nos símios, sua socialidade havia sido fortemente desincentivada seletivamente durante o período em que seus antecessores (o ancestral comum) ocuparam a periferia do nicho arbóreo. Mas agora, na savana aberta, voltavam a necessitá-la: as pressões seletivas na savana aberta induziram nosso ancestral a voltar a ter fortes tendências sociais, provocadas tanto por necessidades de proteção contra predadores (muito mais rápidos e fortes), para a caça em comum, como para o abastecimento coletivo em um meio ambiente particularmente hostil.
Parece que há bons motivos, que têm que ver com a lógica da teoria evolucionária (recorde-se o princípio acima indicado), para considerar que era inviável que fosse possível um “regresso” à forte sociabilidade anterior dos monos não hominídeos. Não obstante, as forças evolucionárias optaram por elaborar a necessidade adaptativa de sociabilidade por outro caminho, insólito, mas promissor: favorecendo o ulterior avanço das capacidades cognitivas, promovendo as capacidades auditiva) e sentando as bases neurofisiológicas definitivas para a linguagem, o pensamento de comunicação e associação simbólica (visual-visual, visual-auditiva e auditiva-auditiva) e a intercomunicação proposicional[5].
De qualquer modo que seja, como foram capazes de sobreviver em condições de precário habitat é, desde logo, um mistério. Seguramente tiveram de resolver problemas de interpretação do entorno em que viviam e de antecipação de condutas de seus congêneres, para o que era necessário, em geral, a produção de conhecimento muito complexo. O que parece fora de toda dúvida é que não só a fabricação e o uso de utensílios como, e muito especialmente, os problemas da convivência coletiva e cooperativa implicaram uma pressão seletiva intensa sobre o aumento da complexidade cerebral.
À medida que tal complexidade ia crescendo, a organização dos grupos devia ir incluindo, necessariamente, o controle da competição e da cooperação entre os hominídeos de uma determinada comunidade por meio das tradições (da evolução acumulativa e renovada da cultura pelo efeito “ratchet”, de que nos fala Tomasello, 1993 e 1999) que, posteriormente, com o largo transcurso do tempo, significariam o passo para uma conduta normativa no sentido que toma na atualidade. E existem, de fato, vários campos em que essa competição poderia operar: primeiro, existem as relações entre os sexos (nas quais machos e fêmeas negociam a criação de oportunidades de acasalamento); segundo, existe a competição intra-sexual dos machos pelo acesso às fêmeas; terceiro, a competição pelos recursos ( como o alimento e o território) ; e, por fim, se a cooperação – que teria alterado as condições de competição – tornou-se parte importante da caça e da busca de alimentos, entre outras áreas de atividade dos hominídeos, a “trapaça” passou a ser, igualmente, uma estratégia possível (Rose, 2000).
De fato, o que é verdadeiramente único na evolução humana, por contraposição, ponhamos o caso, à evolução do chipanzé ou do lobo, é que uma parte considerável do ambiente que a modelou foi cultural: a mente e o cérebro humanos não são somente um produto combinado de uma mescla complicadíssima de genes e de neurônios, senão também de experiências, valores, aprendizagens e influências procedentes de nossa igualmente complicada e complexa vida sócio-cultural. Enquanto os animais estão rigidamente controlados por sua biologia, a conduta humana está amplamente condicionada pela cultura, um amplo sistema autônomo de símbolos e valores que, além de crescer e variar segundo o “substrato” genético que tomam como referente para atuar (por exemplo, do comportamento e dos códigos morais), encontra constrições significativas no que diz respeito à sua percepção, transmissão e armazenamento discriminatório por parte do ser humano.
É que, embora capazes de sobrepassar as limitações biológicas em muitos aspectos e de servir como eficaz instrumento de ampliação, restrição ou manipulação de nossas intuições e emoções morais[6], as representações culturais não podem, contudo, variar arbitrariamente e sem limites: não são indefinidas, senão diversas até certo ponto. Daí que nossa conduta, as eleições que efetuamos e tudo mais que dizemos ou fazemos são um produto ou um resultado com bastante articulação funcional: um conjunto de estímulos sócio-culturais que circulam por um sofisticado sistema de elaboração biológica.
Dito de outro modo, deveria ser óbvio que a cultura e a moralidade humana não pode ser infinitamente flexível. O que nós não desenhamos são as ferramentas da cultura e da moralidade nem as necessidades básicas e os desejos que criam a substância com a que atua. As tendências naturais não podem ser equiparáveis às características culturais e aos imperativos morais, mas sim que desempenham uma função quando tomamos decisões e nos comportamos moralmente. Por conseguinte, ainda que a cultura e algumas regras morais reforçem as predisposições típicas de uma espécie e outras as reprimam, nenhuma as passa por alto (de Waal, 1996).
Por outro lado, a vida em grupos cada vez maiores contribuiu para o desenvolvimento de mais inteligência social, evoluindo os homínidos como verdadeiros leitores de mente. No processo de hominização aumentou o volume cerebral (e com ele os neurônios disponíveis e os padrões possíveis) em relação com o volume corporal e se desenvolveram especificamente o cerebelo e o córtex frontal. O córtex frontal alberga funções como a planificação e a toma de decisões que parecem derivadas mais da necessidade de interagir com os membros de um grupo social complexo que da resolução de outros problemas relacionados com o meio ambiente.
Se pode dizer, que uma das principais pressões que conduziram aos humanos a evolucionar na forma em que o fizeram foram os próprios humanos em sua dimensão social. É deveras mais difícil, desde logo, poder predizer o comportamento do próximo que o calendário anual que, por si mesmo, se repete sistematicamente com o passo dos séculos. E de ser assim, é muito provável que a melhor razão existente do grande desenvolvimento neocortical do Homo sapiens deva referir-se a um fenômeno cognitivo ligado ao reconhecimento do outro e à valoração de sua conduta: o tratamento da reciprocidade entendido como “função própria” dos humanos, isto é, a inteligência social.
Não obstante, embora a maneira como foi possível fixar-se na evolução dos hominídeos a faculdade mental de identificação do “outro” como ser intencional somente possa ser esboçada de forma especulativa, já se há assinalado que a necessidade de adaptar-se aos novos hábitats abertos da savana africana mediante o uso de instrumentos de pedra em tarefas de caça poderia haver suposto uma pressão seletiva suficiente para estabelecer fortes tendências sociais e favorecer o ulterior avanço das capacidades cognitivas relacionadas com a comunicação e associação simbólica. Isso é tanto como dizer que as bases neurofisiológicas para a linguagem, o pensamento, a intercomunicação proposicional e a leitura da mente poderia haver-se iniciado não na etapa final da hominização, com Homo sapiens, senão nos momentos iniciais dentro da espécie Homo habilis (Tobias, 1987a; Tobias, 1987b).
Pois bem, à margem do acertado que possa ser o modelo da aquisição recente no gênero Homo de capacidades cognitivas próprias e distintivas, o certo é que dentro desse gênero e a partir, sobretudo, do Homo erectus, se produzem incrementos extra-alométricos do cérebro (superiores ao do próprio aumento do tamanho do corpo). Terrence Deacon (1996 e 1997) precisou ainda mais a hipótese apontando a certos câmbios no córtex frontal – já dentro do Homo sapiens – como responsáveis da aparição das complexas capacidades cognitivas humanas.
Seja como for, o fenômeno do enorme crescimento do conhecimento e da complexidade dos vínculos e estruturas sociais – nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de informação e de comunicação entre os membros de nossa espécie –, acabou por permitir uma interação muito mais intensa e rápida entre os homens e os grupos sociais e, em igual medida, implicou em um aumento substancial das normas integradoras da ação comum. A presença no homem das faculdades de antecipar as consequências das ações, de valorar, de poder escolher entre linhas de ações alternativas e o progressivo aumento da complexidade do intercâmbio recíproco exigiu (e exige constantemente) uma estratégia sócio-adaptativa baseada numa previsibilidade comportamental cada vez mais sofisticada, ou seja, numa consistente padronização das ações e das conseqüências do complicado atuar humano.
E aqui chegamos às normas humanas, qualquer que seja a sua natureza ou grau de imperatividade. Em todas as sociedades humanas existem normas para disciplinar a titularidade e o exercício de direitos (ainda que escassos) pelos homens – e, desde logo, para regular o exercício do poder, a distribuição e o uso da propriedade, a estrutura da família ou de alguma outra entidade comunitária, a distribuição do trabalho e a regulamentação das trocas em geral –, para assegurar o cumprimento de deveres, para viabilizar a coesão social e ampliar o conhecimento social sobre os membros de nossa espécie, assim como para desenvolver nossa inata capacidade de resolver conflitos sociais sem necessidade de recorrer à agressividade.
Assim que a inerente sociabilidade do ser humano parece haver conduzido inevitavelmente e de forma direta a ter que lidar constantemente com os problemas decorrentes da interação social e da reciprocidade interpessoal. De fato, não parece exagerado dizer que criamos um sistema complexo de justiça e de normas de conduta para canalisar nossa tendência à “agressão” decorrente da falta de reciprocidade e dos defeitos que emergem dos vínculos sociais relacionais que estabelecemos ao longo de nossa secular existência.
Tais normas, por resolverem determinados problemas sócio-adaptativos práticos, modelam e separam os campos em que os interesses individuais, sempre a partir das reações do outro, podem ser válidos, social e legitimamente exercidos, isto é, plasmam publicamente não somente nossa (também) inata capacidade (e necessidade) de predizer e controlar o comportamento dos demais senão também o de justificar e coordenar recíproca e mutuamente, em um determinado entorno sócio-cultural, nossas ações e interações sociais.
Daí a razão pela qual as normas jurídicas não são simplesmente um conjunto de regras faladas, escritas ou formalizadas destinadas a constituir uma razão (determinante e/ou moral) para o atuar dos indivíduos. Em vez disso, as normas representam a formalização de regras de condutas sociais, sobre as quais uma alta percentagem de pessoas concorda, que refletem as inclinações comportamentais e oferecem benefícios potenciais e eficientes àqueles que as seguem: quando as pessoas não reconhecem ou não acreditam nesses benefícios potenciais, as normas são, com frequência, não somente ignoradas ou desobedecidas – pois carecem de legitimidade e de contornos culturalmente aceitáveis em termos de uma comum, consensual e intuitiva concepção de justiça –, senão que seu cumprimento fica condicionado a um critério de autoridade que lhes impõem por meio da “força brura”. (Gruter, 1991)
Com efeito, dispomos de normas de conduta bem afinadas porque nos permitem predizer, controlar e modelar o comportamento social respeito à reação dos membros de uma determinada comunidade. Estes artefatos, se plasmam grande parte de nossas intuições e emoções morais, não são construções arbitrárias, senão que servem ao importante propósito de, por meio de juízos de valor, tornar a ação coletiva possível – e parece razoável admitir que os seres humanos encontram satisfação no fato de que as normas sejam compartidas pelos membros da comunidade[7].
Também neste particular, e tal como parece haver ocorrido com a evolução biológica, o processo não decorre linearmente, antes por meio de ensaios e erros. Os homens tentam várias soluções normativas e adotam as que lhes parecem mais eficazes em determinado momento, até que possam substituí-las por outras que se revelem mais adaptadas aos seus propósitos evolutivos. E dado que a flexibilidade da conduta humana e a diversidade das representações culturais é muito mais limitada do que se imagina e, por outro lado, as alterações se podem transmitir com muito maior rapidez, o processo da evolução normativa (tanto no âmbito da moral como do direito) encontra-se sujeito a profundos sobressaltos e equívocos e, por vezes, a retrocessos significativos (essa, talvez, seja a explicação evolucionista das chamadas “leis injustas”).
É bastante provável que sem a emergência das capacidades cognitivas e, particularmente, da linguagem – que teve lugar nos últimos momentos da filogênese humana –, tais normas somente pudesse haver sido mantidas e transmitidas por meio de códigos muito simples, mas, pelo que se sabe acerca das origens da linguagem e da complexidade de nossa arquitetura mental, a função preditiva desta e o modo imperativo daquela seguramente exerceram especial importância no desenho de nossos códigos normativos.
O peso das adaptações filogenéticas no desenvolvimento da conduta moral do ser humano parece estar fora de qualquer discussão. A evolução da conduta moral não é apenas o resultado da adaptação ao meio ambiente material, tal como pressupôs Engels em ensaio publicado em 1876. Também implicou a seleção de atributos que determinaram o sucesso nas interações entre os membros da mesma espécie. Em termos mais gerais, nossa capacidade ética e nosso comportamento moral devem ser contemplados como um atributo do cérebro humano e, portanto, como um produto mais da evolução biológica e que está determinado pela presença (no ser humano) de três faculdades que são necessárias e, em conjunto, suficientes para que dita capacidade ou comportamento se produza: a de antecipar as consequências das ações; a de fazer juízos de valor e; a de eleger entre linhas de ações alternativas. O desenvolvimento neurocognitivo do ser humano favoreceu o aparecimento de tais faculdades e, a partir delas, surgiu inevitavelmente a moralidade. Na advertência de Changeux (1996), cérebro é evidentemente a “base” da linguagem e da moral.
Assim que nosso comportamento, nossas sociedades, nossa cultura e nossas normas de conduta (éticas ou jurídicas) parecem ser a resposta que elaboramos, com os mecanismos psicológicos evolucionados de que dispomos, para solucionar os problemas relativos às exigências e contingências de uma existência essencialmente grupal. E isto se dá graças a uma arquitetura cerebral que confirma a longínqua idéia de Konrad Lorenz, a saber, a existência de um imperativo biológico capaz de combinar respostas instintivas e códigos morais.
Como afirma Antonio Damásio (2001), os valores éticos constituem estratégias adquiridas para a sobrevivência dos indivíduos de nossa espécie, mas tais habilidades adquiridas encontram um apoio neurofisiológico nos sistemas neurais de base que executam as condutas instintivas. Os processos cerebrais que têm uma relação com as emoções articulam-se profundamente com os que provocam cálculos de avaliação. E se é certo que o juízo ético-jurídico está baseado em raciocínios que provocam cálculos de avaliação, mas também em emoções e sentimentos morais produzidos pelo cérebro, não pode ser considerado como totalmente independente da constituição e do funcionamento deste órgão cuja gênese deverá então ser reintegrada na história evolutiva própria de nossa espécie.
Por conseguinte, as transformações evolutivas do último período do gênero Homo modelaram a conduta moral primitiva e se serviram dela para a aparição de grupos cuja sobrevivência dependia sobremaneira da relação mútua entre o grau muito elevado de altruísmo/cooperação e a emergência de uma inigualável capacidade preditiva da conduta humana. E os subprodutos de tais estratégias (sócio-)adaptativas (nelas incluídas, por certo, o direito), baseadas na complexidade cognitiva e lingüística do ser humano, são o resultado da enorme riqueza de nossa insólita e complicada “inteligência” social.
Estas considerações parecem ajudar a compreender o fenômeno presente da moralidade e juridicidade humana sem desligá-lo de suas origens e, sobretudo, sem hipostasiá-lo como o elemento essencial de nossa descontinuidade com o mundo animal. A sociedade – tanto como o direito – não é invenção de pensadores. Eles evoluiram como parte de nossa natureza. São, tanto quanto nosso corpo, também produtos de um longo e tortuoso processo co-evolutivo. Para compreendê-los devemos olhar dentro do cérebro, para os instintos de e predisposições para criar e explorar os vínculos sociais relacionais que lá estão e cuja gênese deverá então ser reintegrada na história evolutiva própria de nossa espécie.
Neste particular, se era inevitável que Hobbes e Rousseau carecessem de uma perspectiva evolucionista, é menos perdoável que alguns dos seus descendentes intelectuais também careçam. O filósofo John Rawls – ainda que para o problema da estabilidade dos princípios de justiça, parta do suposto de que certos princípios psicológicos e evolucionistas são verdadeiros, ou que o são de forma aproximada – nos pede que imaginemos seres racionais se juntando para criar uma sociedade a partir do nada, exatamente como Rousseau imaginou um proto-humano solitário e auto-suficiente. Decerto que são apenas experiências intelectuais, mas servem para nos lembrar de que nunca houve uma sociedade “anterior”. A sociedade humana nasceu da sociedade do Homo erectrus, que nasceu na sociedade do Australopithecus, que nasceu da sociedade de um extinto elo perdido entre humanos e chimpanzés, que por sua vez nasceu da sociedade do elo perdido entre símios e macacos, e assim por diante, até chegar ao ponto em que começamos, como uma espécie de animal essencialmente social, prioritariamente moral, particularmente cultural e decididamente diferente.
E embora não haja uma resposta simples à pergunta de se a moralidade é um fenômeno cultural ou um fenômeno biológico, o certo é que a importância da mútua relação entre evolução biológica e a emergência de uma conduta moral e jurídica mais complexa, nos momentos em que a espécie humana estava desenvolvendo suas capacidades cognitivas e a linguagem articulada, parece estar fora de dúvidas.
Assim que não somente as influências do meio – incluindo a cultura humana – variam segundo o “substrato” genético sobre o qual atuam como, e muito particularmente, o comportamento adaptativo ao estilo de vida das sociedades de caçadores-recoletores parece haver modelado muito provavelmente a conduta social e moral primitiva, e se serviu dela para a aparição de grupos cuja sobrevivência passou a depender sobremaneira de determinadas estratégias sócio-adaptativas (baseadas na constituição, funcionamento e complexidade cognitiva do ser humano) que, com o passo do tempo, deram lugar a nossa atual e astronomicamente grande riqueza moral e jurídico-normativa[8].
REFERÊNCIAS
Aiello, L. C., & Wheeler, P. (1995). The expensive tissue hypothesis: The brain and the digestive system in human and primate evolution. Current Anthropology, 36, 199-221.
Atienza, M. (2003). El sentido del Derecho,Barcelona: Editorial Ariel.
Boyd, R. & Richerson, P.J. (1985). Culture and the Evolutionary Process, Chicago, The University of Chicago Press.
Brodie, R. (1996). Virus of the Mind:The New Science of the Meme, Seattle, WA, Integral Press.
Cela Conde, C. J., & Marty, G. (1998). El cerebro y el órgano del lenguaje. En Noam
Chomsky, Una aproximación naturalista a la mente y al lenguaje (pp. 11-65). Barcelona: Prensa Ibérica.
Damasio, A. R. (1994). Descartes" Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, NY: G.P. Putnam s Sons.
___, (2001).Compreender os fundamentos naturais das convençoes sociais e da ética,dados neuronais. In Jean-Pierre Changeux (Ed.), Fundamentos Naturais da Ética (pp. 113-129). Lisboa: Instituto Piaget.
Dawkins, R. (2000), El gen egoísta, Barcelona, Salvat.
Domènech, A. (1988). Ocho desiderata metodológicos de las teorías sociales normativas. Isegoría, 18, 115-141.
de Waal, F. (1996). Good natured. The Origins of right and wrong in humnans and other animals. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Deacon, T. (1997). The Symbolic Species. New York, NY: W.W. Norton & Company.
Deacon, T. W. (1996). Prefrontal cortex and symbol learning: Why a brain capable of language evolved only once. In B. M. Velichkovsky & D. M. Rumbaugh (Eds.), Communicating Meaning: The Evolution and Development of Language (pp. 103-138). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Dennett, D. (1995). Darwin´s Dangerous Idea: Evolution and the Menaning of Life , New York, Simon and Schuster.
Fernandez, A. (2002). Direito, evolução, racionalidade e discurso jurídico, Porto Alegre :Ed. Fabris.
Fiske, A. P.(1991). Structures of Social Life. The Four Elementary Forms of Human Relations, New York: The Free Press.
Gruter, M. (1991). Law and the Mind, London : Sage.
Humphrey, N. K. (1976). The social function of intellect. In P. P. G. Bateson & R. A. Hinde (Eds.), Growing Points in Ethology (En R. Byrne & A. Whiten (eds.) (1988), Machiavellian Intelligence, pp. 13-26 ed., pp. 303-317). Cambridge: Cambridge University Press.
Kaufmann, A. (1997). Rechtspholosophie, München: C.H. Beck Verlagsbuch-handlung.
Leakey, L. S. B., Tobias, P. V., & Napier, J. R. (1964). A New Species of the Genus Homo from Olduvai. Nature, 202, 7-9.
Lumsden, C. J., & Wilson, E. O. (1981). Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lumsden, C. J., & Wilson, E. O. (1983). Promethean Fire. Reflections on the Origin of Mind. (Ed. castellana, El fuego de Prometeo, México, F.C.E., 1985 ed.). Harvard, MA: Harvard University Press.
Mariansky, A. & Turner, J. (1992), The Social Cage: Human Nature and the Evolution of Society, Stanford, Stanford University Press.
Maturana, H.(2002). Emoçoes e linguagem na educaçao e na política, Belo Horizonte: Ed. UFMG.
Nowak, M. A., & Sigmund, K. (1998). Evolution of indirect reciprocity by image scoring. Nature, 393, 573-577.
Pinker, S.(1998). How the Mind Works, New York, NY, W.W. Norton
Rayner, R. J., Moon, B. P., & Masters, J. C. (1993). The Makapansgat australopithecine environment. Journal of Human Evolution, 24, 219-231.
Ricoeur, P.(1995). Le Juste, Paris, Esprit.
Ridley, Matt (1996). The Origins of Virtue, London, Viking.
Rose, M. ( 2000). Darwins Spectre: Evolutionary Biology in the Modern World. Priceton University Press.
Simon, H. (1990), “A mechanism for social selection of successful altruism”, Science, 250:1665-8.
Sober, E. & Wilson, D. S.(1998). Unto Others. The evolution and psichology of unselfish behavior. Harvard University Press.
Sanfey, A. G., Rilling, J. K., Aronson, J. A., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2003). The Neural Basis of Economic Decision-Making in the Ultimatum Game. Science, 300, 1755-1758.
Stone, V. E., Cosmides, L., Tooby, J., Kroll, N., & Knight, R. T. (2002). Selective impairment of reasoning about social exchange in a patient with bilateral limbic system damage. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 99, 11531-11536.
Sugiyama, L. S., Tooby, J., & Cosmides, L. (2002). Cross-cultural evidence of cognitive adaptations for social exchange among the Shiwiar of Ecuadorian Amazonia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99, 11537-11542.
Tobias, P. V. (1987a). The Brain of Homo habilis: A New Level of Organization in Cerebral Evolution. Journal of Human Evolution, 6, 741-761.
Tobias, P. V. (1987b). The Emergence of Spoken Language in Hominid Evolution. In J. D. Clark (Ed.), Cultural Begginings. Approach to Understanding Early Hominid Life-Ways in the African Savanna (pp. 67-78). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH.
Tugendhat, E. (1979). La pretensión absoluta de la moral y la experiencia histórica. In U. N. d. E. a. Distancia (Ed.), Actas de las 1as. jornadas de Etica e Historia de la Ciencia . Madrid: UNED.
Wedekind, C. (1998). Give and Ye Shall Be Recognized. Science, 280, 2070-2071.
Wilson, M & Daly, M. (1992), “The Man Who Mistook His Wife for a Chattel”, in Barkow, Cosmides e Tooby (comps.), (1992).
WoldeGabriel, G., White, T. D., Suwa, G., Renne, P., Heinzelin, J., Hart, W. K., & Heiken, G. (1994). Ecological and temporal placement of early Pliocene hominids at Aramis, Ethiopia. Nature, 371, 330-333.
Notas:
[3] A que Richard Dawkins (2000) denominou memes: termo que, por analogia com gene (´gen´ , em inglês), define a um módulo de informação contagioso que infecta e contamina a mente humana, donde se replica e altera sua conduta , provocando sua propagação . Assim, da mesma forma que os genes, supõe-se que os memes são replicadores em um meio diferente, mas sujeitos aos mesmos princípios da evolução dos genes. Trata-se de elemento de uma cultura qualquer digno de ser transmitido por procedimentos não genéticos, especialmente por imitação. Poder-se-ia dizer, inclusive, que um meme é qualquer coisa que se transmite de uma pessoa a outra por imitação (as histórias que conhecemos, as canções, as frases feitas, os slogans, as leis que acatamos, etc.). A imitação é uma modalidade de replicação ou de cópia e isto é o que institui o meme como replicante e lhe outorga, ademais, sua capacidade de replicação. Por conseguinte, o termo “imitação” inclui desde o fato de passar informação por meio da linguagem, da leitura e da inculcação, até o desenvolvimento de outras habilidades e condutas mais complexas. O ato de imitar compreende qualquer tipo de cópia de idéias e de conduta de uma pessoa a outra: quando ouvimos uma história e a transmitimos, ainda que seja apenas em essência, a outra pessoa, efetuamos uma cópia, transferimos “algo”: esse “algo” é um meme. E ao contrário de qualquer outro animal, imitamos espontaneamente a quase qualquer coisa e a qualquer um e, o que é mais intrigante, parece que gostamos de fazê-lo (Blackmore, 1999). Em resumo, porque herdamos a predisposição para imitar o vizinho (Ridley, 1996), parece ser mais fácil e quase sempre melhor fazer o que os outros dizem do que descobrir, por conta própria, a melhor maneira de fazer qualquer coisa (Simon, 1990).
[4] Embora todos estes antepassados sejam conhecidos apenas por seus restos fósseis e pelos restos materiais de suas atividades e de sua conduta, o certo é que, em matéria de câmbios anatômicos, os mais cruciais, no que se refere à aparição dos traços humanos, são os que afetam o cérebro. E na medida em que se aceite uma versão reducionista da relação mente/cérebro, entendendo que os processos mentais são estados funcionais dos processos cerebrais, os traços como a linguagem, os juízos morais e os juízos estéticos devem contar com certos correlatos em termos de processos cerebrais cuja identificação pode dar alguma pista acerca de que tipo de câmbios evolutivos se deram no cérebro de nossos ancestros no caminho da hominização. O reducionista é o modelo mais comum dentro da paleontologia humana e a antropologia física, assim que é muito corrente encontrar na literatura especializada a idéia de que, já sejam as estratégias de caça ou as relações sociais o fundamento da pressão seletiva no sentido de cérebros maiores, a característica essencial nessa evolução é a aparição de pautas organizativas que desenvolvem certas áreas cerebrais. Sem embargo, não sabemos exatamente porquê razão os humanos somos os únicos hominoideos com cérebro claramente lateralizado, característica que supõe (a lateralização) uma quebra da assimetria básica dos hemisférios cerebrais (seu exemplo mais conhecido se refere aos centros de controle da linguagem que, no ser humano moderno, estão lateralizados no hemisfério central esquerdo em geral). De fato, com a lateralização, que implica em dizer que o cérebro conta com regiões especializadas em tarefas cognitivas distintas (os “órgãos mentais” de que fala Chomsky), começa a história de uma capacidade cognitiva peculiar de nossa espécie: a linguagem articulada.
[5] Deve ter havido pressões seletivas extremas em favor da organização em grupo, mas essas pressões operaram sobre monos que, senão “penosos individualistas” ou “isolados sociais”, tampouco estavam inerentemente dispostos para criar matrilinhagens e grupos coesos (como não o estão hoje os chipanzés, os orangotangos e os gorilas). De maneira que as pressões ecológicas não puderam operar sobre tendências genéticas já existentes no sentido da formação de grupos e impulsar agrupamentos ainda mais compactos e coesos (como, em cantrapartida, ocorreu com os babuínos da savana). A seleção teve de operar sobre a estrutura genética de uma criatura de tendência mais individualista e com uma integração dos sentidos visual, tátil e auditivo maior que a de qualquer outro mono (...) Em uma palavra: uma vez que os vínculos sociais não podiam ser facilmente construídos geneticamente – como nos monos hominídeos –, tiveram de ser construídos mediante a comunicação simbólica (Maryanski e Turner, 1992). O que a disposição genética à socialidade, fortemente minguada na linha dos monos hominídeos, não pudesse ser “reconstituída” geneticamente (e tivesse de ensaiar a via cognitiva) tem que ver com o princípio evolucionário de conservação da organização.
[6]Aquí se pode colocar, por exemplo, o problema de que as intuições e as emoções morais da gente podem estar irreparavelmente marcadas por seus interesses. Também é possível, e inclusive não infrequente que uma diferença de intuições morais de origem biológica seja amplificada pela elaboração cultural dessas intuições: sabemos que os ciúmes sexuais masculinos (desenvolvidos evolucionariamente como uma estratégia psicológica para proteger a certeza masculina da paternidade), uma vez manipulados pela elaboração cultura, podem causar sofrimentos, inclusive até a morte, a muitas mulheres do mundo, amplificada que pode ser até o execrável uma diferença de intuições morais de origem biológica. Assim, por exemplo, determinadas hipóteses biológico-evolucionárias sobre a filogênesis humana e o estudo etológico do comportamento de nossa espécie coincidem em insistir no chamado “lado escuro da sexualidade masculina” ( Wilson e Daly, 1992). De acordo com esta tese , o comportamento sexual masculino estaria em boa medida guiado pelo temor do “cuco”: pelo temor à prosmicuidade de sua companheira feminina e a consequente inversão de recursos próprios na criação de filhos alheios. Daí derivariam umas tendências “proprietaristas” sobre as mulheres, isto é, umas intuições morais tendentes a considerar a mulher como uma propriedade. Dessas intuições digamos “naturais” – para seguir com a hipótese – se podem fazer elaborações culturais muito distintas : desde a “mulher dona de casa” de nossa cultura, até a ablação de clitóris, habitual em certas culturas norte e centro-africanas, passando pelo chador islâmico e a vendagem e a molduração dos ossos dos pés da tradição chinesa. Neste tipo de culturas, que amplificam até o abominável disposições de raiz presumivelmente biológica, parece difícil achar soluções menos radicais que a posta em marcha pelo governo revolucionário da China em 1949: varrer sem contemplações toda a tradição cultural .
[7] E uma vez que a sociedade usa leis para encorajar as pessoas a se comportar diferentemente do que elas se comportariam na falta de normas, esse propósito fundamental não somente torna o Direito altamente dependente da compreensão das múltiplas causas do comportamento humano, como, e na mesma medida, faz com que quanto melhor for esse entendimento da natureza humana, melhor o Direito poderá atingir seus propósitos.
[8] Por exemplo: os direitos humanos e dos menores poderiam estar baseados em nossas inclinações naturais pelas idéias de libertade individual e de igualdade, de justiça social e de proteção no que se refere a infância. E parece razoável supor que isto poderia ser devido ao fato de que: a) somos animais que não gostamos de viver enjaulados ou constrangidos; b) reacionamos (para o bem ou para o mal) a qualquer comportamento que implique desigualdade com relação a nossa pessoa; c) nos comove o sofrimento de nossos semelhantes; e d) gostamos de ver que nossas crianças crescem em um entorno seguro,etc.
Atahualpa Fernandez, Manuella Fernandez e Athus Fernandez
Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista em Direito Público /UFPa.; Professor Titular da Unama/PA e Cesupa/PA;Professor Colaborador (Livre Docente) da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia, Cognición y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado) ; Advogado; Manuella Fernandez: Acadêmica de Direito/Unaerp e Bolsista do Laboratório de Sistemática Humana/ UIB; Athus Fernandez: Acadêmico de Direito/Unaerp e Bolsista do Laboratório de Sistemática Humana/UIB.Código da publicação: 889
Como citar o texto:
FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Manuella; FERNANDEZ, Athus..História adaptativa do homem e a conduta moral. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 2, nº 152. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/etica-e-filosofia/889/historia-adaptativa-homem-conduta-moral. Acesso em 13 nov. 2005.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.