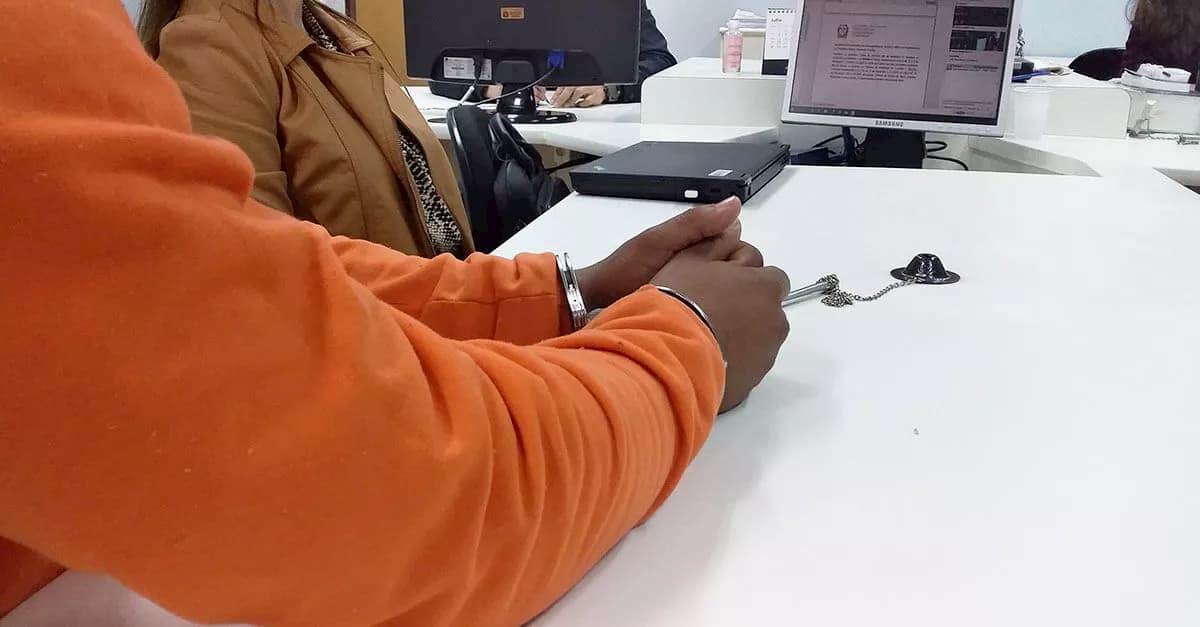Entendo necessário fazer três observações introdutórias acerca do que me proponho a escrever: todos devem estar de acordo o quanto é delicada a convivência humana; uma grande parcela deve concordar que a situação se torna ainda mais delicada quando essa convivência passa a formar parte de nossa cotidiana existência ; e muitos (naturalmente para os que vivenciam este tipo de experiência ) não devem discordar do fato de que a relação “pais/filhos” assume características muito peculiares, e por vezes traumáticas, com o “episódio” da adolescência.
Para os efeitos que aqui nos interessa, tomarei em consideração esta última observação, isto é, a relativa ao problema da adolescência na relação social primeira: a da filiação. Deixando de lado as idéias e sinais precursores do que vou discorrer a seguir, me parece razoável começar por recordar que a meados do século XVIII se assistiu a uma verdadeira “revolução” quando Rosseau formulou, por vez primeira , uma nova concepção do homem como um ser que necessita dos outros.
E em que pese o fato de que algumas das características de seu discurso haverem desviado um pouco esta mensagem e impedido captar adequadamente seu alcance, o certo é que, segundo esta sua concepção, os homens sentem a necessidade de atrair o olhar e o reconhecimento dos outros. De fato, é o reconhecimento do outro que implica o reconhecimento do “eu”. A capacidade para autointerpretar-nos está direta e indissociavelmente vinculada à aquisição da capacidade para interpretar os outros, para “ler” suas mentes, para entendê-los, e para entender-nos a nós mesmos, como seres intencionais: é conata a nossa necessidade de atrair o olhar e o reconhecimento do outro que, nessa condição, já não ocupa uma posição comparável à nossa, senão contígua e complementária.
Dito de outro modo, os seres humanos não podem sobreviver, em nenhum lugar da terra, à margem do “olhar” do outro: não podem sobreviver, quero dizer, em nenhum lugar da terra, de forma autônoma e separada, se carecem de uma profunda sensibilidade e capacidade de compreensão do “outro”. Não somos somente animais gregários, aos que nos gosta estar perto de nossos companheiros, senão que também temos uma inclinação inata a ser observados, e observados com reconhecida aprovação pelos demais seres de nossa espécie. Assim como ensinam mesmo as mais laicas entre as ciências, é o outro, é seu olhar, que nos define e nos conforma. Nós (assim como não conseguimos viver sem comer ou sem dormir) não conseguimos compreender quem somos sem o olhar e a resposta do outro.
Na falta desse reconhecimento, o recém-nascido abandonado na floresta não se humaniza. E poderíamos morrer ou enlouquecer se vivêssemos em uma comunidade na qual, sistematicamente, todos houvessem decidido não nos olhar jamais ou comportar-se como se não existíssemos: seríamos, por certo, como uma espécie de Adão bestial , solitário e sem consciência, que não viveria em sua “existência” o significado da relação sexual, o prazer do diálogo e do consenso, o amor pelos filhos e a dor da perda de uma pessoa amada ( Eco, 2000).
Como seres reflexivos, chegamos ao conhecimento próprio ou ao autoconhecimento em parte através dos olhos dos outros. Quando nos observamos em relação com os demais, parte de nossa experiência é nossa visão imaginada de como nos vêem os outros. Esta capacidade é uma das bases da vida social humana e a essência do que significa autodenominarmos “seres sociais”. Assim que a função própria do fabuloso desenvolvimento neocortical do Homo sapiens é precisamente a de facilitar a interpretação própria e alheia, a inteligência social. A origem biológica de nossas mais extraordinárias capacidades cognitivas – como em todos os grandes hominídos – é de todo ponto social.
Em termos mais simples, estamos desenhados pela seleção natural para ter uma necessidade imperiosa dos outros, necessários para nossa própria completude ontológica. Não, por certo, para satisfazer nossa vaidade, senão porque, marcados por uma incompletude constitutiva da espécie, devemos ao outro nossa própria individualidade e nossa existência mesma.
Pois bem, partindo do nascimento (e, na mesma medida, evitando a questão de se interpretar o “primeiro movimento” do filho com relação à mãe como uma “afirmação de liberdade” – à maneira de Kant – ou – seguindo a Freud – como um “ato de agressão”), o certo é que a descrição da origem, do nascimento, da antropogênese como uma luta pela vida não parece aplicável à relação de filiação [1] . Com efeito, o homem não nasce ( ou se desenvolve) à causa de uma luta senão de um afeto. E o resultado desse nascimento não é (salvo eventuais, e não raras, aberrações) uma relação senhor-escravo, amigo-inimigo, senão , mais prosaicamente, uma “simples” relação progenitor-filho.
Decerto que se poderá objetar, a este propósito, que o nascimento de um filho não tem, em si mesmo, nada de especificamente humano; que se assemelha ao de outros mamíferos, ainda quando os traços que deixa na memória da mãe, e talvez na do próprio filho, não encontrarem equivalente no mundo animal. Da mesma forma, os primeiros movimentos do progenitor e do filho, um com relação ao outro, não são tão pouco especificamente humanos: o fato da criança solicitar alimento e calor (em uma palavra, proteção), e a mãe solicitar proteger, tem igualmente seus equivalentes no mundo animal.
Sem embargo, ao cabo de algumas semanas de vida se produz um acontecimento especificamente humano neste vínculo social relacional, sem equivalentes nos outros mamíferos: o filho intenta captar o olhar de sua mãe, não somente para que esta se disponha a alimentar-lhe ou para reconfortar-lhe, senão porque este olhar, em si mesmo, lhe aporta um complemento indispensável: confirma-lhe em sua existência. A criança, agora, solicita o reconhecimento da mãe (e igualmente do pai) e esta, por sua parte, busca conceder o reconhecimento a seu filho, isto é, assegurar-lhe em sua existência. Ao mesmo tempo, e quase sempre sem se dar conta, se encontra ela mesma (a mãe e o pai) reconhecida em seu papel de agente do reconhecimento pelo olhar solicitante do filho.
Assim que a existência do indivíduo como ser especificamente humano não começa em um “campo de batalha”, senão quando a criança capta o olhar de seus progenitores. Por conseguinte, o filho, desde sua origem, não está desenhado para o “combate” com seus pais; o que realmente deseja (e aqui me excuso pelo esforço desmedido de minha imaginação ao chamar de “desejo”) é simplesmente o seu “olhar”, sua presença, em uma palavra, o seu reconhecimento: o reconhecimento de sua existência, sem mais.
O que ocorre é que a relação dos pais com os filhos, com o passo do tempo, vem acompanhada pela necessidade destes de escapar do “olhar” e reconhecimento exclusivo daqueles de que são inteiramente dependentes. Ao crescer, o filho aprenderá a dar-se, ele mesmo, a confirmação de seu ser. Mas isso não significa que, ao chegar à adolescência (ou até mesmo à fase adulta), e ainda quando saiba viver largos momentos sem que os demais se ocupem dele, possa prescindir do olhar dos outros e de seus genitores. É que esta nossa incompletude inata não pode ser nunca totalmente colmada.
A partir do momento em que os filhos começam a vivenciar o longo, confuso e sofrido “caminho para a maturidade” suas posições, como as de seus pais, se vão transformando. As relações assimétricas (como as de proteção e de reconhecimento) se encontram agora particularmente afetadas, pois os papéis dos pais e dos filhos são agora radicalmente diferentes: a circunstância de que um protege e reconhece e o outro é protegido e reconhecido, já não é mais admitida passivamente pelo filho que se “torna adulto”.
A necessidade de ser protegido, de sentir-se seguro e constantemente controlado passa a ser vivida como especialmente “infantil”. Um indivíduo pode aspirar esporadicamente às distintas formas de proteção, mas se as sente como uma necessidade constante será considerado por seu entorno como emocionalmente mal adaptado. E o filho que cresce, para poder sentir-se “adulto”, necessita rechaçar o controle e a proteção que seus pais lhe oferecem.
Já o mesmo não ocorre, por exemplo, com o reconhecimento: sempre o necessitamos, sendo crianças, adolescentes ou adultos. Mas em lugar de um reconhecimento um tanto quanto “mecânico” que geralmente outorgam os pais, o filho que cresce necessita agora de uma pluralidade de reconhecimentos: o de seus amigos, da pessoa que ama, de seus professores, etc. O filho que se está transformando já não mais se conforma com ser o beneficiário da proteção e do reconhecimento provenientes de seus pais; para além disso, quer e deseja assumir , ele mesmo, o papel ativo nestas relações e, por sua vez, ser ele mesmo fonte de proteção e de reconhecimento. Agora começa a compreender que se há uma vantagem em ser protegido e reconhecido, há outra mais gratificante em prodigar proteção e reconhecimento.
Ocorre que estes novos papéis não podem ser exercidos com relação a seus pais, pois estes já são demasiado adultos e se encontram em uma fase da vida na qual, por serem “fornecedores” exclusivos, tendem a prescindir deste tipo de cuidados por parte de seus filhos. Portanto, aos filhos resta o necessário e natural “afastamento” de seus pais em busca de novas situações nas quais estes novos papéis serão mais acessíveis para ele.
Já para os pais, esta experiência é vivenciada e sentida de forma radicalmente diferente. Para começar, o afeto do pai e da mãe por seu filho tem algo de paradoxo em seu princípio: se amam a seu filho, querem e desejam que este seja uma pessoa independente que, em consequência, já não os necessite; este amor “exitoso” dos pais tem, contudo, como efeito doloroso, o natural e assombroso distanciamento e perda de controle sobre seu filho.
E a memória individual que os humanos possuem, a um grau e intensidade desconhecidos pelos demais animais, torna penosa essa experiência, perfeitamente comum, da “separação” com relação aos filhos. E este paradoxo do amor parental humano atinge seu ápice no preciso momento em que os filhos se tornam maiores e passam a prescindir da proteção e do reconhecimento anteriores. Os pais se encontram, de golpe, privados do gratificante papel de protetor e detentor exclusivo de reconhecimento, papel que por vezes se encontra na base de seus respectivos equilíbrio psíquico e emocional: a denominada síndrome do “ninho vazio”.
Em realidade, o grande drama da paternidade e da maternidade não é o de necessitar da presença dos filhos, senão o de que estes já não necessitam exclusivamente da presença dos pais. No melhor dos casos, uma relação de reciprocidade toma o lugar da relação assimétrica precedente, sem que, todavia, uma compense a outra: a “perda” dos filhos, posto que já não são mais nossas “pequenas criaturas” que se pode controlar com a mais absoluta idiossincrasia, é, em certo sentido, irreparável. A comunhão com o filho nunca mais será possível da mesma maneira.
Depois, como a evolução do filho não lhe conduz de uma dependência total a uma independência também absoluta (mas de uma dependência sofrida a uma dependência adulta), o maior problema reside no fato de que nenhum dos participantes deste “jogo” reconhece verdadeiramente uma autonomia completa do outro: sugere que para a mãe, em particular, o filho segue sendo sempre, até certo ponto, uma parte inseparável de seu universo pessoal e existencial; reciprocamente, o filho espera que seu pai e/ou sua mãe estejam sempre disponíveis, que não tenham nada na vida que conte mais que ele mesmo e que o aceite qualquer que seja seu caráter e comportamento, ou seja, que desfrute da certeza de ser amado, com esse amor incondicional que os filhos reclamam dos pais.
Assim que uma relação simétrica de recíproca convivência, fundada na efetiva empatia dos pais com relação a seus filhos, passa a ser a melhor alternativa de que podem dispor os pais para o bem estar emocional (presente e futuro) de seus filhos e, fundamentalmente, a mais segura e adequada via por meio da qual se preparará um filho, quando adulto, a querer-se a si mesmo, isto é, a desenvolver a autoestima como condição básica de uma vida virtuosa e digna. Para além das “boas intenções”, os pais devem dedicar uma compreensão tal aos filhos que, em seu conjunto, cheguem ambos a desfrutar do estado a que Aristóteles denominava de amizade (o compartir a vida) em seu esplendor: a felicidade de um é a do outro ou, a simples presença de um, a quem não se pede nada e não se espera nada em troca, é fonte para o outro de um sentimento intenso que irradia a sua própria existência.
Ora, o apetite de reconhecimento por parte do filho é desesperante e, ainda que para isso a experiência por vezes exija uma “humildade de Cristo, paciência de Jó e sangue de barata”, não se deve (o que supõe o pode) esquecer que a sua incompletude constitutiva é, depois de tudo, incurável. E, se como afirmou graciosamente Freud (por ocasião de seu octagéssimo aniversário), se pode “tolerar quantidades infinitas de elogios”, estou firmemente convencido de que tolerar e valorizar, com exemplar e sincera frequência, o comportamento de um filho, será sempre uma atitude mais adequada e construtiva do que a de criticar, de tentar torná-lo mais conformes nossos desejos ou mesmo de condicionar nossas “pequenas parcelas de felicidade” diária a uma “ordem” ou a um “horário” não cumprido.
Serão felizes os pais porque estimam e respeitam seus filhos, sem os quais serão igualmente incompletos. Mas se a felicidade dos filhos depende em grande medida dos pais, estes também detêm os instrumentos potenciais de sua destruição. E aqui não se situam as necessidades materiais, pois estas são, depois de tudo, fáceis de satisfazer. De nossas intolerâncias, mais que de nossos afetos, nasce o problema da relação com nossos filhos. Aumentar a dose de apego, tolerância e compreensão reforçam o sentimento de amor compartido na relação pais/filhos e, muito particularmente, na adolescência.
O tornar-se dependentes de um intolerante “controle” sobre os filhos nao somente aumenta a possibilidade de distanciamento mútuo e da adoção de comportamentos patogênicos como, e muito particularmente, configura a mais desesperante e inútil atitude de tentar entrar , com nossos cérebros reduzidos e diminutos, na alma de alguém que nao somos sequer capazes de compreender e de amar. Afinal, todo filho, cedo ou tarde, se nos escapará, ainda que contemos com ele como se devesse durar eternamente. E a “saudade” é dor que marca.
Tal é a contradição específica da condição de ser pai ou mãe: nossa consciência e nossos desejos habitam em um presente perpétuo e se movem no infinito; nossa condição de pais e mães , ao contrário, se desenvolve no tempo e só tem uma extensão finita. Não há felicidade à margem do afeto e da compreensão, e o amor é volátil: o dos amantes se mitiga e se dilui, o dos pais e dos filhos se transforma à medida que os filhos se tornam adultos.
Estes (os pais) não podem pretender controlar para sempre os desejos e as crenças de seus filhos e, ademais, os desejos e as crenças mudam com o passo do tempo. Daí que, nessa irrepetível e incomunicável experiência de educar um filho, talvez não seja prudente esperar que os iniludíveis “conflitos” não ocorram ou que desapareçam sem mais , senão simplesmente que se resolvam sem agressões e mágoas permanentes.
E porque sobre esta sempre delicada questão jamais será possível ter a antecipada certeza de se haver adotado o melhor caminho , aos pais resta, apenas, em um permanente processo de autoeducação, a irrenunciável responsabilidade de procurar dar o melhor de si mesmos, como uma mensagem silenciosa destinada ao reencontro com suas pequenas criaturas.
Notas:
[1] Freud, B. F. Skinner e Jean Piaget acreditavam,por exemplo, que a criança aprende suas primeiras distinçoes morais através do medo a ser castigado e pelo desejo a que se lhe recompense. Da mesma forma que os biólogos seguidores de Huxley que vêm a moralidade como algo imposto a uma natureza humana perversa, estes homens concebiam a moralidade como algo que vem dado desde fora, algo imposto pelos adultos às crianças passivas e egoístas por natureza. Pensava-se que as crianças aceitavam os valores dos pais para construir seu superego, a parcela moral do ser. E se por acaso se lhes deixava ao seu livre arbitrio , como as crianças do livro de William Holding, O senhor das moscas, nunca alcançariam nada parecido à moralidade. Já em idades muito curtas, sem embargo, as crianças aprendem a diferenciar princípios morais (“não há que roubar”) e convençoes culturais (“não há que utilizar o pijama para ir ao colégio”). Aparentemente, se dão conta de que ao romper certas regras incomodam e causam dano a outros, enquanto que o não cumprimento de outras simplesmente viola as normas sobre o que é ou não apropriado. Suas atitudes não parecem estar baseadas unicamente na recompensa e no castigo. Enquanto que os manuais sobre pediatria ainda descrevem as crianças pequenas como monstros egocêntricos, agora sabemos que à idade de um ano já consolam de forma espontânea à gente que se encontra em algum problema e que pouco depois começam a desenvolver uma perspectiva moral através das interaçoes com outros membros de sua espécie (Killen and De Waal, 2000).Assim, a criança não está indo contra sua natureza por exigir e desenvolver uma atitude cuidadosa, empática e moral, e a familia tão pouco é um jardim descontrolado ou conflitivo subjugado a uns jardineiros autoritários , intransigentemente controladores e intolerantemente impositivos.
Atahualpa Fernandez
Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista >em Direito Público /UFPa.; Professor Titular da Unama/PA;Professor Colaborador (Livre Docente) da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia, Cognición y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado) ; Advogado.Código da publicação: 1056
Como citar o texto:
FERNANDEZ, Atahualpa. .A incompletude humana e o "episódio" da adolescência. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 3, nº 166. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/etica-e-filosofia/1056/a-incompletude-humana-episodio-adolescencia. Acesso em 19 fev. 2006.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.