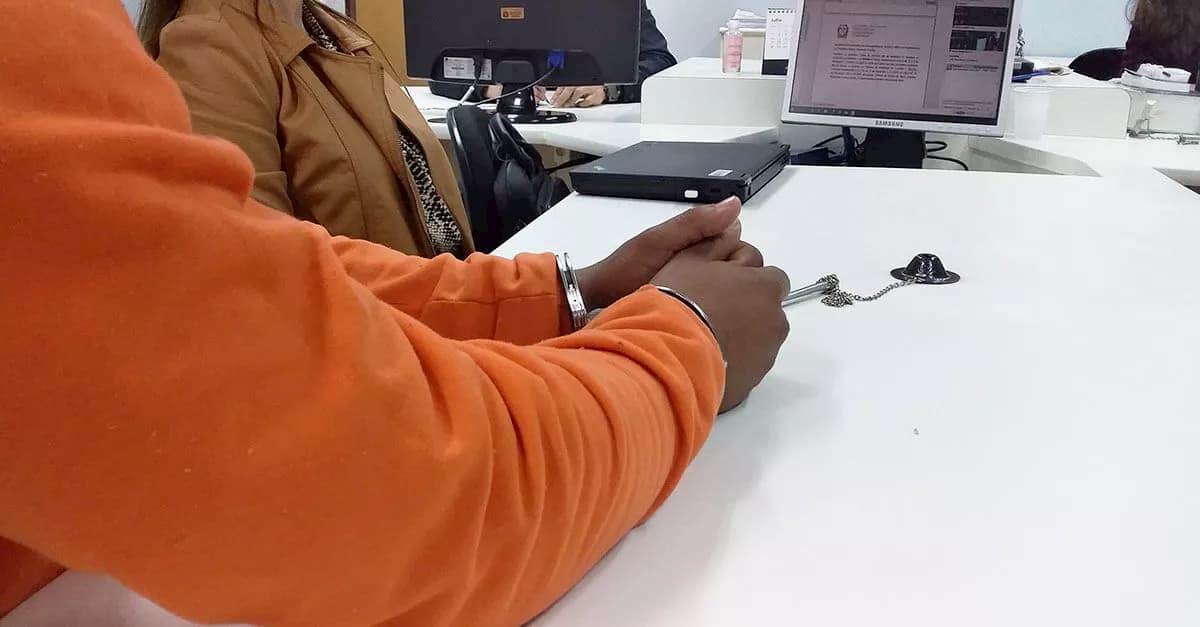INTRODUÇÃO
Atualmente o instituto da responsabilidade civil, após uma longa caminhada, depara-se com uma sutil classificação. De um lado, tem-se a responsabilidade civil objetiva e do outro, a responsabilidade civil subjetiva. Em síntese, a distinção entre ambas reside em um de seus elementos caracterizadores, a culpa.
A reparação civil está atrelada à ocorrência de quatro requisitos, quais sejam, a conduta (ação ou omissão), o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a culpa (lato sensu).
A responsabilidade civil subjetiva é aquela que tem como relevante a existência dos quatro requisitos acima mencionados para que seja configurada. Por outro lado, a responsabilidade objetiva é aquela onde “a culpa” desaparece como elemento caracterizador, pautando-se no instituto da presunção.
O presente trabalho tem por finalidade abordar acerca do instituto da responsabilidade civil do Estado, tendo como objeto de estudo a reparação civil do dano decorrente de suas condutas omissivas, e como problema de pesquisa a preponderância ou não do elemento culpa para sua configuração.
Cotejando algumas doutrinas que tratam da responsabilidade civil do Estado, jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de alguns Tribunais Estaduais, nota-se uma visível incongruência no que pertine à comprovação do elemento culpa na reparabilidade civil do Estado nos casos de omissão.
A doutrina ao tratar da responsabilidade civil do Estado, faz referência a três teorias, quais sejam: teoria do risco integral, teoria do risco administrativo e a teoria da faute du service.
O ordenamento jurídico pátrio, através dos art. 927, do Código Civil e do art. 37, §6º, da Constituição da República, adotou a teoria do risco administrativo. Com isso, na ocorrência de dano decorrente de atividades que naturalmente importam risco e nas hipóteses em que o Estado figura como agente causador do dano, a culpa é presumida.
Diante dessas considerações, passou-se a discutir acerca da aplicação ou não da teoria do risco administrativo nas ocasiões em que o Estado age omissivamente, uma vez que, nesse caso, sua conduta omissiva não é causa, mas sim condição do dano.
Com o objetivo de sanar essa controvérsia, adotando como procedimento metodológico a pesquisa teórico-dogmático, abordar-se-á acerca do instituto da responsabilidade civil do Estado por omissão, demonstrando as contradições que permeiam a doutrina e a jurisprudência pátria, notadamente no que tange à culpa como seu elemento.
Para tanto, em atendimento a esse propósito, far-se-á necessário abordar acerca do conceito de “responsabilidade civil do Estado” e “condutas omissivas”, no tópico destinado às considerações conceituais.
A fim de esclarecer as indagações sobre a questão levantada, no primeiro capítulo será realizado um estudo acerca do Estado, trazendo-se à lume seu conceito, origem e evolução histórica, a partir da abordagem das teorias contratualistas e não contratualistas da formação do Estado. Ainda no mesmo capítulo, frisar-se-á os atributos da personalidade jurídica do Estado, para, a partir daí, justificar sua aptidão como sujeito de direito e obrigações.
Por fim, serão também discriminados os órgãos da Administração Pública direta e indireta, com supedâneo no art. 37, §6º, da Constituição da República, haja vista serem órgãos prestadores de serviços públicos e, por isso, o Estado está obrigado a reparar danos por eles provocados.
Prosseguindo, no segundo capítulo, será feita uma abordagem do instituto da responsabilidade civil, traçando sua origem, conceito e definição dos elementos necessários para sua configuração (conduta, nexo de causalidade, dano e culpa), bem como sua classificação em objetiva e subjetiva.
Com o fim de sanar as dúvidas que pairam sobre o tema, no terceiro capítulo, dissertar-se-á acerca da responsabilidade civil do Estado, de forma geral, notadamente da evolução histórica em torno das teorias civilistas e publicistas que tratam da natureza da responsabilidade civil do Estado, abordando as teorias da faute du service, a teoria do risco administrativo, e a teoria do risco integral; traçando os fundamentos doutrinários de cada uma delas.
Após discorrer em linhas gerais sobre o Estado, o instituto da responsabilidade civil, mormente da responsabilidade da Administração Pública, será levantado no quarto capítulo as discussões que versam sobre a responsabilidade civil do Estado nas condutas omissivas, frisando a teoria da faute du service como fundamento da subjetividade desta espécie de responsabilidade.
Ainda, apontar-se-á o atual posicionamento da doutrina, do Supremo Tribunal Federal e de alguns Tribunais Estaduais, acerca de qual espécie de responsabilidade civil aplicável ao Estado, na hipótese de dano decorrente de conduta omissiva.
Diante de tais objetivos, far-se-á necessário reciclarmos conceitos e considerações de grandes estudiosos acerca da Responsabilidade civil do Estado, de forma a demonstrar as inovações pertinentes ao assunto.
CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS
Inicialmente, para melhor compreensão do tema, cumpre destacar a definição de “responsabilidade civil do Estado” e “condutas comissivas”.
Em termos gerais a palavra responsabilidade deriva do latim respondere, que significa responder por algo, responsabilizar-se. Partindo desse preceito, a doutrinadora Maria Helena Diniz defini responsabilidade civil como a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ele mesmo praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.
Com isso, segundo Kelsen , é responsável aquele que suporta a sanção proveniente do dever desrespeitado. Assim, pode-se dizer que responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o mesmo possui em reparar danos eventualmente causados decorrente da violação de um dever pré-existente.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo, entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos .
Por outro lado, passamos à definição de “conduta omissiva”, levando-se em consideração os vocábulos separadamente.
Conduta é todo comportamento humano voluntário. O caráter voluntário da conduta, nas palavras de Rui Stoco, não se confunde com a projeção da vontade sobre o resultado, isto é, o querer intencional de produzir o resultado; de assumir o risco, de produzi-lo: de não querê-lo mas, ainda, assim, atuar com afoiteza, com indolência ou com incapacidade manifesta .
Esse comportamento denominado conduta exterioriza-se através de uma ação ou de uma omissão. A ação é uma conduta positiva; já, a omissão, é um non facere, ou seja, uma conduta negativa. Detalhadamente, pode-se dizer que omissão é uma abstração, um conceito de linhagem puramente normativa, sem base naturalística. Ela aparece assim, no fluxo causal que liga a conduta ao evento, porque o imperativo jurídico determina um facere para evitar a ocorrência do resultado e interromper a cadeia de causalidade natural, e aquele que deveria praticar o ato exigido, pelos mandamentos da ordem jurídica, permanece inerte ou pratica ação diversa da que lhe é imposta.
Assim, a conduta omissiva surge porque alguém não realizou determinada ação, previamente estabelecida. “Sua essência está propriamente em não ter agido de determinada forma”.
Vale lembrar que em se tratando de responsabilidade civil do Estado alguns doutrinadores, dentre eles Sérgio Cavalieri Filho, sustentam que a omissão comporta uma subdivisão, podendo ser genérica ou específica.
Segundo Cavalieri Filho a “omissão é específica quando é motivo direto do dano; [...] e genérica quando é motivo indireto do dano” . Assim, na omissão especifica, “a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não impedimento do evento.” Nesse caso, “o Estado se omite diante de um dever específico e expressamente consagrado no ordenamento jurídico. Já, na omissão genérica, o Poder Público infringe um dever geral de fiscalização” .
Cavalieri exemplifica sua definição da seguinte forma: se um motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado.
Nesse contexto, com o objetivo de que seja extirpada qualquer dúvida acerca do conceito de “responsabilidade civil do estado” e “conduta omissiva”, deverão as definições acima abordadas ser seguidas no decorrer do estudo.
CAPÍTULO I – O ESTADO
CONCEITO, ORIGEM E FORMAÇÃO DO ESTADO
Como já foi afirmado no texto introdutório, o presente estudo tem como objetivo dissertar acerca da responsabilidade civil do Estado nas condutas omissivas.
Para tanto, indispensável abordar inicialmente acerca do conceito de Estado, para que a seguir possamos justificar a responsabilidade civil do mesmo, haja vista ser dotado de personalidade jurídica própria, portanto, pessoa de direito e obrigações.
Segundo os ensinamentos de Dalmo de Abreu Dallari, a denominação estado (do latim status = estar firme), significando situação permanente de convivência e ligada à sociedade política, aparece pela primeira vez em “o príncipe” Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser usada pelos italianos sempre ligada ao nome de uma cidade independente, como, por exemplo, estato di Firenze.” (...) de qualquer forma, é certo que o nome estado, indicando uma sociedade política, só aparece no século XVI .
A partir de uma análise cronológica da formação do Estado, verifica-se que as concepções acerca de sua origem se revelaram através de duas grandes correntes.
De um lado, encontram-se os adeptos da teoria da formação não contratualista do Estado, e, do outro, a teoria dos contratualistas. A seguir, tecer-se-á considerações acerca dessas duas categorias distintas que tratam do processo de origem e formação do Estado.
1.1.1 Teoria contratualista
As teorias contratualistas preconizadas por Thomas Hobbes (O leviatã), John Locke (Segundo Tratado do Governo Civil) e Jean-Jacques Rousseau (O contrato social), surgiram em meados do século XVI e XVII.
A criação do Estado, segundo os contratualistas, está intimamente ligada à razão, despida das teorias teológicas que até então imperavam em todas as áreas.
De acordo com a teoria contratual o homem, em um estágio anterior ao Estado Social, vivia no chamado Estado Natural, onde era portador de Direitos Naturais cuja existência independia de sua relação com os demais seres.
Todavia, com o passar do tempo, o homem viu-se na necessidade de se relacionar, haja vista que ninguém é capaz de prover por si só sua sobrevivência.
Dessa relação dos homens com os demais seres, surgiu a necessidade de se ter uma figura soberana que atendesse aos anseios da sociedade que se instaurava, para que tudo não se tornasse um caos. Assim pode-se dizer que o “Estado surge como fruto da ação voluntária e racional dos homens em acordo.
Dessa forma, caso o Estado não cumprisse com os deveres para os quais foi criado ele podia ser modificado, transformado.”
Thomas Hobbes, um dos principais precursores da teoria contratualista da formação do Estado, em sua obra o Leviatã, afirma que o Estado surge da necessidade de se interromper a permanente guerra de “todos contra todos”. Segundo ele, a necessidade de se ter segurança nas relações intersubjetivas, condecorou o surgimento do Estado.
Diante disso, na visão de Hobbes, o fundamento do Estado é a necessidade de segurança nas relações, sendo que caso o mesmo desvinculasse desse objetivo poderia ser modificado ou extinto.
Lado outro, de acordo com o pensamento de John Locke, o Estado surge também da ação voluntária dos indivíduos; todavia, seu fato legitimador é a garantia de três direitos naturais: “o direito à vida, à liberdade (qualquer que seja: de reunião, de expressão, de associação, de reunião etc.) e o direito à propriedade” , sendo o Estado indispensável para assegurar a concretização de tais direitos.
Por fim, têm-se os pensamentos de Jean-Jacques Rousseu asseverando que o “contrato social” aparece como “garantia que as liberdades individuais não entrassem em choque entre si. [...] O Estado seria a representação da vontade de todos, da vontade coletiva, da soberania popular” .
Vê-se que as teorias contratualistas, de forma geral, legitimam a criação do Estado a partir de um consenso coletivo, em busca da segurança nas relações, da preservação dos direitos naturais, bem como do bem comum.
1.1.2 Teorias não contratualistas
De outro norte, têm-se as teorias não contratualistas sobre a formação do Estado. Essas teorias se subdividem em: origem familiar; origem por atos de força e origem econômica/patrimonial.
A teoria da origem familiar do Estado é considerada uma das mais antigas teorias sobre a formação do Estado. De acordo com os seguidores dessa corrente o Estado representaria uma ampliação da família, o que foi pouco aceito pela doutrina.
De outro lado, segundo os pregadores da teoria dos atos de força, o Estado surgiria como uma espécie de imposição dos mais fortes aos mais fracos.
Essa corrente foi difundida com o pensamento político contemporâneo e pautava-se na força de determinados povos sobre os outros, encontrando amparo nas idéias de Karl Marx.
Segundo o doutrinador Darcy Azambuja essa teoria foi pregada por Miguel Elias Roclus (2005, p. 90) e Darwin (2005, p. 75) que viam na “sociedade política o produto da luta pela vida, nos governantes a sobrevivência dos mais aptos, na estrutura jurídica dos Estados a organização da concorrência” .
Todavia, tais argumentos foram refutados pela doutrina, haja vista que a dominação de determinado povo pode ser causa de surgimento de novos Estados, mas não origem do Estado.
Nesse sentido, prossegue Darcy Azambuja: a guerra, a dominação de povos vencidos, é um dos modos de formação de novos Estado. Não é, porém, a origem do Estado, assim como fato de que os imóveis só se adquirirem por escritura pública, não autoriza a concluir que a escritura pública é origem do direito de propriedade.
Por fim, tem-se a origem econômica/patrimonial do Estado sustentando que o mesmo tem como fonte de existência as relações patrimoniais. A propriedade era vista como um direito natural e o Estado como um mecanismo de defesa desse Direito.
Segundo os adeptos a essa teoria, “o Estado feudal, da Idade Média, ajustava-se perfeitamente a esta concepção: era uma organização essencialmente de ordem patrimonial” . Esse posicionamento foi abraçado pelos seguidores do socialismo, que intitula o fator econômico como determinante dos fatos sociais.
Segundo os sociólogos Karl Marx e Friedrich Engels, todos os fenômenos históricos são produto das relações econômicas entre os homens [...]. O Estado vem a ser a terrível máquina de coerção destinada à exploração econômica e, conseqüentemente, política de uma classe sobre outra.
Atualmente, em que pese às divergências teóricas quanto à origem e formação do Estado, vê-se que o mesmo é tido como mecanismo garantidor da ordem social e fruto de um acordo coletivo, teoria esta pregada pelos contratualistas.
Com isso, o Estado é hoje conceituado como: O agrupamento de indivíduos, estabelecidos ou fixados em um território determinado e submetidos à autoridade de um poder público soberano, que lhes dá autoridade orgânica. É a expressão jurídica mais perfeita da sociedade, mostrando-se também a organização política de uma nação, ou de um povo.
Essa definição de Estado somente foi alcançada no século XIX onde se reconheceu o estado como pessoa dotada de “personalidade jurídica” própria e de origem no consenso voluntário dos indivíduos.
A personalidade jurídica do Estado
Personalidade jurídica é a “aptidão genérica a ter direito e deveres. Definindo: personalidade, para o direito, é a qualidade que tem a pessoa de ser sujeito de direito e de obrigações [...].”
No conceito de personalidade jurídica engloba-se dos aspectos: a capacidade jurídica e a capacidade de fato. “A primeira é a medida da própria personalidade jurídica, e, a última como sendo capacidade de exercício de determinada obrigação ”, ligada à posição pessoal ou laboral da pessoa.
No que pertine à atribuição de personalidade jurídica ao Estado, a doutrina se subdivide em duas correntes: de um lado as teorias ficcionistas e de outro as teorias realistas.
De acordo a primeira teoria, defendida por Savigny e Kelsen, a “atribuição de personalidade jurídica ao Estado seria uma ficção em razão de os sujeitos de direito serem apenas aqueles dotados de consciência e vontade.”
Por outro lado, os realistas têm uma concepção científica acerca da personalidade jurídica do Estado. Consideram eles que o Estado representa um conjunto de sujeitos, denominado povo, que se organiza em um território, não havendo como não lhe atribuir personalidade jurídica própria.
Defensor nato dessa teoria, o doutrinador Georg Jellinek, justifica a personalidade jurídica do Estado no fato do mesmo ser uma unidade coletiva, uma associação, e esta unidade não é uma ficção [...] como todos os fatos desta forma a base de nossas instituições, então tais unidades coletivas não são menos capazes de adquirir subjetividade jurídica que os indivíduos humanos .
No mesmo sentido, é a lição de Dalmo de Abreu Dallari ao afirmar que: O estado é um sujeito de direito, uma pessoa jurídica, com capacidade para participar de relações jurídicas. O Estado é visto como uma unidade organizada, uma pessoa que tem vontade própria. E mesmo quando a vontade do Estado é formada pela participação dos que o compõem, ou seja, do povo, não se confunde com as vontades dos que participam da formação da vontade estatal. Assim também os direitos e deveres do estado são distintos dos direitos e deveres de seus cidadãos.
Assim sendo, “só pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, podem ser titulares de direitos e de deveres jurídicos, e assim, para que o Estado tenha direitos e obrigações, deve ser reconhecido como pessoa jurídica”.
Diante de tais considerações, é inegável o reconhecimento da personalidade jurídica do Estado, haja vista que o mesmo compõe-se de uma unidade, dotado de direitos e obrigações.
Dessa forma, com o reconhecimento da personalidade jurídica do Estado, tem que: as pessoas físicas, quando agem como órgãos do Estado, externam uma vontade que só pode ser imputada ao Estado e não se confunde com a vontade individual; deve-se considerar a personalidade jurídica do Estado para o tratamento dos interesses coletivos, evitando-se a ação arbitrária em nome do Estado ou dos interesses coletivos; só as pessoas físicas ou jurídicas podem ser titulares de direitos e deveres jurídicos, por isso o Estado é reconhecido como pessoa jurídica; por meio do reconhecimento do Estado como pessoa jurídica se estabelecem limites jurídicos eficazes à ação do Estado no seu relacionamento.
Concluindo, o Estado é "a pessoa jurídica soberana, constituída de um povo, de um território e de órgãos destinados a representá-lo" , possuindo, portanto, personalidade jurídica própria, o que traduz sua aptidão como pessoa jurídica portadora de direitos e obrigações.
1.3 As pessoas jurídicas do art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988
Partindo do conteúdo exposto, pode-se dizer que o Estado teve sua origem atrelada à busca pelo bem comum, conceituado pelo Papa João XXIII como: o “conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana.
Para alcançar tal desiderato, o Estado, utilizando-se da política da descentralização de suas funções, delegou sua competência a alguns órgãos, denominados órgãos da administração indireta.
Assim, enquanto a “Administração Direta é o núcleo de cada Administração Pública (federal, estadual, distrital ou municipal), que corresponde à própria pessoa jurídica política (União, Estado, Distrito Federal, Municípios) e seus órgãos despersonalizados” ; a administração indireta, de acordo com a lição de Hely Lopes Meirelles, “é o conjunto dos entes (entidades com personalidade jurídica) que vinculados a um dos órgão da Administração Direta, prestam serviço público ou de interesse público” .
Cumpre esclarecer que a expressão “Administração pública” é utilizada neste trabalho em seu sentido subjetivo; formal ou orgânico, definição essa dada pela doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ou seja, quando nos referimos aos “entes que exercem atividade administrativa, compreendendo pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, incumbidos de exercer uma das funções triparte da atividade estatal”.
Destaca-se dentre estes órgãos, os seguintes: as autarquias, as empresas púbicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas.
O art. 4º, III, do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 intitulou essas entidades como órgãos da administração indireta da seguinte forma:
Art. 4° A Administração Federal compreende: I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a) Autarquias; b) Empresas Públicas; c) Sociedades de Economia Mista; d) fundações públicas.
Frise-se que tais órgãos são:
primeiro; pessoas jurídicas; e, segundo, que essas pessoas jurídicas não estão soltas no universo administrativo, muito pelo contrário, estão vinculadas à Administração Pública Direta, ou seja, às pessoas políticas da federação, seja a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município .
Ao tecer considerações acerca dos órgãos da Administração Indireta, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho preleciona que: quando não se pretende executar alguma atividade através de seus próprios órgãos, o Poder Público transfere a sua titularidade ou a mera execução a outras entidades, surgindo, então o fenômeno da delegação. [...] Resulta daí que a administração indireta é o próprio Estado executando algumas de suas funções descentralizadas. Seja porque o tipo de atividade tenha mais pertinência para ser executada por outras entidades, seja para obter maior celeridade, eficiência e flexibilização em seu desempenho, o certo é que tais atividades são exercidas indiretamente ou, o que é o mesmo, descentralizadamente .
Assim, pode-se dizer que tais órgãos são prestadores de serviços públicos e representam a extensão das atividades estatais.
Serviço público, por sua vez, na lição de Hely Lopes Meirelles vem a ser todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o problema de pesquisa é a responsabilidade civil do Estado, nos interessa delinear quais seriam os órgãos prestadores de serviço público.
A seguir, tecer-se-á algumas considerações acerca dos órgãos da Administração Indireta, traçando suas principais características, natureza jurídica e algumas peculiaridades, haja vista que ao desempenhar suas funções representa a atuação do Estado.
1.3.1 As autarquias
Etimologicamente a palavra autarquia origina da junção de dois vocábulos, quais sejam: “autos”, que significa próprio; e “arquia”, que significa comando, governo. Assim, autarquia, significa “comando próprio, direção própria, auto-governo”.
O Decreto-lei 6.016/43 delineou a definição legal de autarquia, que, a partir de então, passou a ser utilizada para designar “o serviço estatal descentralizado, com personalidade de direito público, explícita ou implicitamente reconhecida em lei”.
A natureza pública da autarquia já havia sido reconhecida anteriormente pelo Código Civil de 1916, que, apesar de não conceitua-la, incluiu em seu art. 14 a autarquia como pessoa jurídica de direito público interno.
Recentemente autarquia alcançou uma nova conceituação, através do art. 5º, I, do Decreto-lei nº 200/67, passando a ser designada como; serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada .
A doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, aborda as seguintes características da autarquia: “1- criação por lei; 2 – personalidade jurídica pública; 3- capacidade de auto-administração; 4 – especialização dos fins ou atividades; 5- sujeição a controle e tutela”.
No que tange à sua forma de criação, confirmando a redação contida no Decreto-lei nº 200 e Decreto-Lei nº 6.016/43, o art. 37, XIX, da Constituição da República, introduzido pela Emenda nº 19, de 1998 dispõe que: "somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. ”
Quanto à sua natureza, significa dizer que sendo pessoa jurídica de direito público a autarquia, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, citado por Maria Sylvia Zapella Di Pietro, possui as seguintes características:
1- origem na vontade do Estado; 2 – fins não lucrativos; 3 – finalidade de interesse coletivo; 4 – ausência de liberdade na fixação ou modificação dos próprios fins e obrigação de cumprir os escopos; 5 – impossibilidade de se extinguirem pela própria vontade; 6 – sujeição a controle positivo do Estado; 7 – prerrogativas autoritárias de que geralmente dispõem.
Ainda, não se pode perder de vista que sendo pessoa jurídica é dotada de direitos e deveres. Frise-se, também, que as autarquias, no que tange ao seu desempenho funcional, possui autonomia, dentro dos limites em que lhe foi delegado o exercício de determinada função, sofrendo, portanto, controle administrativo, para que não desvincule dos fins para que foi criada.
Por fim, tem-se que as autarquias possuem especialização dos fins. Significa dizer que não é criada com fins genéricos, a autarquia desenvolve “capacidade específica [...]. O reconhecimento da capacidade específica das autarquias deu origem ao princípio da especialização, o que a impede de exercer atividade diversas daquelas para as quais foram criadas.”
1.3.2 As Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista
O doutrinador Juliano Santiago, em seu artigo Direito Administrativo – distinções e semelhanças entre as empresas públicas e as sociedades de economia Mista -, defini essas duas instituições da seguinte forma:
Sociedade de Economia Mista é a pessoa jurídica, constituída por algum ente estatal (União, Estados ou Municípios), sob o regime de Sociedade Anônima, no qual o governo é o principal acionista, e os particulares são sempre minoritários. Desta maneira podemos dizer que existe uma parceria entre o poder público e as empresas privadas.
Já as empresas públicas é a pessoa jurídica de capital público, instituído por um Ente Estatal (União, Estado ou Município), com a finalidade prevista em lei, ou seja, são entidades da administração pública indireta. A finalidade é sempre de natureza econômica, eis que, em se tratando de empresa, ela deve visar ao lucro, ainda que este seja utilizado em pról da comunidade .
Assim como disciplinado nas autarquias, a Constituição da Republica, em seu art. 37, XIX, exigiu que as empresas públicas e as sociedades de economia mista fossem instituídas por Lei, o que já havia sido determinado através do art. 5º, II a III, do Decreto-Lei 200/67, com redação dada pelo Decreto-Lei 900, de 1969, da seguinte forma:
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: [...]
II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.
Sob esse prisma, conforme preleciona a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, tais instituições possuem os seguintes traços em comum:
1 – criação e extinção autorizadas por lei; 2 – personalidade jurídica de direito privado; 3 – sujeição ao controle estatal; 4- derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito publico; 5 – vinculação aos fins definidos na lei instituidora; desempenho de atividade econômica .
Distintamente das autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem natureza jurídica de direito privado. Isso significa que “possuem maior versatilidade em sua atuação, quando voltadas para atividade econômicas. O Estado através delas se afasta de seu pedestal como poder/bem-estar social assemelhar-se, de certa maneira a um empresário [...]”.
Todavia, ressalva José dos Santos Carvalho Filho que essas instituições “nem estão sujeitas inteiramente ao regime de direito privado nem inteiramente ao de direito público”. [...] já que sofrem o influxo de normas de direito privado em alguns setores e de sua atuação e de normas de direito publico em outros setores.”
Assim, imprescindível traçar em quais setores incidirão as regras do direito privado e em quais setores serão aplicadas as regras de direito público.
Assim dispõe o art. 173, §2º, II, da Constituição da República:
Art. 173. [...] § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: [...] II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Com efeito, isso significa que “não devem ter privilégios que a beneficiem, sem serem estendidos às empresas privadas, pois que isso provocaria desequilíbrio no setor econômico em que ambas categorias atuam” .
Lado outro rege-se pelas normas de direito público no que tange ao aspecto ligado ao controle administrativo. Na Constituição, verificam-se algumas dessas regras. Exemplo: ”o princípio da autorização legal para sua instituição (art. 38, XIX); o controle pelo Tribunal de Contas (art. 71); o controle e fiscalização do Congresso Nacional (art. 49, X); a exigência de concurso público, [...], e outras do gênero.”
Feitas as considerações quanto aos pontos convergentes das empresas públicas e as sociedades de economia mista, cumpri-nos ressaltar agora as diferenças entre ambas.
Preleciona a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro que são duas as principais distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista, quais sejam: “1 – a forma de organização; e 2 - a composição do capital.”
No que tange à composição do capital, vê-se que as empresas públicas compõem de capital único e exclusivamente público; enquanto as sociedades de economia mista possuem capital tanto privado quanto público.
Saliente-se que, no que tange ao capital das sociedades de economia mista, as parcelas são “distribuídas entre a entidade governamental e particulares. Logicamente, para que se mantenham ajustadas às diretrizes da entidade criadora, é a esta que pertence o domínio da maior parte do capital votante .
Por fim, no que pertine à forma, dispõe o art. 5º do Decreto-lei 200/67 que a sociedade de economia mista será estruturada na forma de uma sociedade anônima, como é o Banco do Brasil, a Petrobrás, a Eletrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras.
Já, no que se refere às empresas publicas, o texto legal não foi taxativo podendo, pois, serem instituídas através de sociedade civil ou comercial. À guisa de exemplos, tem-se as seguintes empresas públicas atuantes: o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
1.3.4 As fundações públicas
As fundações têm origem no direito privado. No ordenamento pátrio está prevista do art. 62 a 69, do Código Civil, bem como no art. 37, da Constituição da República.
É uma pessoa jurídica que “caracteriza-se pela circunstância de ser atribuída personalidade jurídica a um patrimônio preordenado a certo fim social.”
O doutrinador José dos Santos Carvalho Filho traça as seguintes características das fundações: “1 – a figura do instituidor; 2 – o fim social da entidade; e 3 – a ausência de fins lucrativos” .
As fundações podem ser privadas ou públicas. In casu, nos interessa a segunda classificação.
Entende-se por fundação a atribuição de:
personalidade jurídica a um patrimônio, que a vontade humana destina a uma finalidade social. É um pecúlio, ou um acervo de bens que recebe da ordem legal a faculdade de agir no mundo jurídico e de realizar as finalidades a que visou o seu instituidor .
Sob essa prisma, designa-se fundação pública como: a entidade, dotada de personalidade jurídica de direito público, organizada sem fins lucrativos, criada por força de autorização legislativa para desenvolver atividades qeu não exijam execução por entidades de direito público. Munida, embora de autonomia administrativa e patrimônio próprio, a função pública necessita, para funcionar a contento, recursos públicos.
O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, citado por Diógenes Gasparini, carateriza a fundação pública da seguinte forma:
a) origem na vontade do poder público; b) fins não lucrativos; c) finalidade de interesse coletivo; d) ausência de liberdade na fixação ou modificação dos próprios fins e obrigação de cumprir aos escopos; e) impossibilidade de se extinguir; f) sujeito e controle positivo do Estado (tutela e vigilância); g) geralmente disposição de prerrogativas autoritarias .
Posto isso, vê-se que a fundação pública é formada através de uma transferência de bem, podendo ser móvel ou imóvel do Poder Público, destinado ao exercício de uma atividade ligada ao interesse coletivo.
CAPÍTULO II – RESPONSABILIDADE CIVIL
2.1 Responsabilidade civil: conceito, origem e evolução histórica.
Antes de tecer considerações acerca da responsabilidade civil do Estado nas condutas omissivas, há que se tratar a priori acercada definição, origem e evolução do instituto da responsabilidade civil de forma geral.
A palavra responsabilidade, segundo preleciona o doutrinador Rui Stoco, vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém por seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos traduz a própria noção de justiça existente o grupo social estratificado. Revela-se como algo inarredável da natureza humana. Do que se infere que a responsabilização é meio e modo de exteriorização da própria justiça e a responsabilidade é a tradução para o sistema jurídico do dever de não prejudicar o outro [...]
Ainda, prossegue sua definição afirmando que responsável, responsabilidade, assim como, enfim todos os vocábulos cognatos, expremime idéia de equivalência de contraprestação, de correspondência. É possível, diante disso, fixar uma noção, sem dúvida ainda imperfeita, de responsabilidade, no sentido de repercussão obrigacional (não interessa investigar a repercussão inócua) da atividade do homem. Como esta vai até o infinito, é lógica concluir que são também inúmeras as espécies de responsabilidade, conforme o campo em que se apresenta o problema: na moral, nas relações jurídicas, de direito público e direito privado.
Em síntese, nos dizeres de Silvio Rodrigues “o princípio informador de toda a teoria da responsabilidade é a aquele que impõe a quem causa o dano o dever de repará-lo” .
Todavia, essa idéia de reparação civil do dano nem sempre imperou. No lugar do ressarcimento civil, ainda em tempos remotos, a Lei que se aplicava àqueles que ocasionavam danos a terceiros era a chamada “justiça com as próprias mãos”; a Lei do “olho por olho” e “dente por dente”, pregada pela Lei de Talião, gravadas em 1792-1750 ou 1730-1685 a. C. no “Código de Hamurabi, rei da Babilônia.
Segundo a lei de talião, “do latim lex talionis: lex: lei; talis: igual, semelhante [...]” , aquele que provocava o dano era punido da maneira e na mesma proporção do dano que causava. Não se falava em reparação civil como causa de compensação pelo dano sofrido.
A superação desse período, conhecido como período da “vingança”, se deu por volta do século V a.C. com a promulgação da Lei das XII Tábuas; onde a compensação pecuniária aparece pela primeira vez como forma de reparação do dano causado.
Na Lei das XII Tábuas surge a possibilidade de “composição voluntária [...] realizada entre as partes, que abdicavam de qualquer tentativa de vingança, ou por intermédio da composição legal [...] subvencionada pelo Estado [...]” . Com isso, “a vítima opta entre a satisfação pela vingança e a obtenção de soma em dinheiro. Esta soma era fixada, não havendo uma indenização propriamente dita”.
Após a queda da Lei das XII Tábuas, surgiu na Roma antiga a conhecida Lex Aquilia, no ano de 287 a.C. Com o surgimento da Lei Aquiliana, fruto de um plebiscito, passou-se a impor ao “patrimônio do ofensor o ônus da reparação, [...] estabelecendo a noção de culpa como fundamento da responsabilidade, de tal forma que o agente se isentaria de qualquer responsabilidade caso agisse sem culpa. ”
Atentando-se a esse fato histórico, em face do teor da Lei Aquiliana, Silvio Salvo Venosa afirma que a lex aquilia pode ser considerada
o divisor de águas da responsabilidade civil [...], o sistema romano de responsabilidade extrai da interpretação da Lex Aquilia, o principio pelo qual se pune a culpa por danos injustamente provocados, independentemente da relação obrigacional preexistente .
A partir do século XVII o direito francês aperfeiçoou as idéias romanas, estabelecendo princípios gerais de responsabilidade civil. Logo em seguida as Revoluções Francesa e a Industrial propulsionaram o surgimento de novas teorias acerca da responsabilidade civil, fazendo com que a mesma conquistasse espaço na doutrina.
A concretização dessas conquistas foi retratada no Código Napoleônico em 1.804. A partir dai a responsabilidade civil foi disseminada, e começou-se a estudar mais afinco esse instituto, surgindo distinções em torno da culpa e suas espécies.
Vê-se ainda, nesse período, que a responsabilidade civil encontra-se totalmente vinculada à idéia de culpa, sendo certo que era cabível reparação civil somente quando o agente agia culposamente.
É a conhecida teoria clássica da responsabilidade civil, onde a culpa é seu elemento fundamental, consagrada no direito brasileiro com a promulgação do art. 159, do Código Civil de 1916, in verbis: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano” e novamente transcrita na redação do art. 186, do Código Civil de 2002.
Vê-se um grande salto do instituto da responsabilidade civil que deixou o campo na irreparabilidade e da vingança privada para a responsabilidade civil com culpa, intitulada de responsabilidade civil subjetiva, o que ver-se-á logo adiante.
O sistema jurídico brasileiro admitiu a reparação por dano pela primeira vez no ano de 1966. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a reparabilidade do dano moral, o que foi consagrado pelo texto da Constituição da República de 1988, tornando esse direito incontestável. Assim dispõe o art. 5º, V e X, da Constituição da República (CR):
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Com as constantes construções teóricas em torno do instituto da responsabilidade civil, passou-se a discutir acerca da possibilidade de reparação civil independentemente da conduta do agente ser culposa.
As transformações sociais do século XX ocasionaram o processo conhecido como socialização dos riscos, tendo como pilar de sustentação as teorias do risco econômico.
Cogita-se assim a possibilidade de indenizar aquele que sofre dano, independentemente de culpa. Em 1936, Louis Josserand, doutrinador francês, defende a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco, buscando uma maior adequação do direito com a nova realidade industrial e tecnológica que se instaurava.
O doutrinador Alvino Lima afirma, com muita propriedade, que
o instituto da responsabilidade civil subjetiva não era capaz de resolver inúmeros casos que a civilização moderna criara e agravara, sendo necessário afastar-se o elemento moral para concentrar-se exclusivamente na necessidade de reparação do dano .
Prossegue seus ensinamentos afirmando que o ideário do “Direito Social” pressupõe uma responsabilidade civil, com função diversa da do modelo liberal, privilegiando a repartição social do risco gerado pela atividade econômica e a certeza de sua efetiva reparação, em detrimento da punição do agente em conduta faltosa. Sobressalta, assim, o caráter objetivo da reparação civil, em casos cada vez mais freqüentes, dispensando-se a culpa como pressuposto indispensável ao surgimento da obrigação de indenizar.
Essa mudança no quadro do instituto da responsabilidade civil objetiva equaliza melhor os fatores proveito e risco, impondo aos agentes que se beneficiam da atividade causadora de risco o ônus decorrente. Na prática, tais atividades acabam por também distribuir tais ônus, através de sua inclusão no custo ou preço dos serviços que prestam, embora tal distribuição encontre limites nos preços admitidos pelo mercado, em um cenário de concorrência.
Com esses fundamentos, surge a responsabilidade civil objetiva, que dispensa o elemento culpa para fins de reparação do dano.
A partir daí, o conceito de responsabilidade desvincula-se do elemento culpa, surgindo a distinção entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa no primeiro caso.
No direito civil brasileiro, a responsabilidade civil objetiva alcançou seu glamour com a promulgação da Constituição da República, que atribuiu ao Estado o dever de indenizar, objetivamente, aquele que sofre dano em decorrência de ato de seu agente, através do art. 37, §6º, da Constituição da República, in verbis:
Art. 37, § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa .
Ainda, tem-se também o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002, que adotou a teoria do risco como fundamento da responsabilidade civil objetiva, com a seguinte ressalva, in verbis:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem .
Assim, a lei estabelece como requisitos ensejadores da responsabilidade civil o dano, a culpa e o nexo de causalidade.
A respeito, confira-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira: deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência do dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento do nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direto não teria havido o atentado a bem jurídico.
A seguir, a título de esclarecimentos doutrinários, tecer-se-á considerações acerca de cada um dos requisitos da responsabilidade civil, objetiva e subjetiva, esclarecendo as controvérsias acerca das espécies de dano e das teorias do nexo de causalidade.
As ponderações a seguir são indispensáveis para a confecção do terceiro e quarto capítulos e foram baseadas na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, José de Aguiar Dias, Rui Stoco, Caio Mário da Silva Pereira, Maria Helena Diniz e Silvio Salvo Venosa.
2.2 Conduta: ação e omissão
O conceito de conduta omissiva foi delineado nos estudos precedentes, anotado sob o título “considerações conceituais”. No entanto, conforme se extrai da leitura do referido tópico (p. 08-10) a definição de conduta teve como enfoque os atos da Administração Pública.
Neste título, o termo conduta será abordado sob uma ótica geral, aplicável ao instituto da responsabilidade civil de forma genérica.
Nos ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri filho, conduta é conceituada como “o comportamento humano, voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo conseqüências jurídicas. A ação ou omissão é o aspecto físico, objetivo, da conduta, sendo a vontade o seu aspecto psicológico” .
Prosseguimento com sua lição, Cavalieri Filho assevera que a ação “consiste em um movimento corpóreo comissivo, um comportamento positivo. Já, a omissão, [...] caracteriza-se pela inatividade, abstenção de alguma conduta devida. Vieira dizia, com absoluta propriedade que, é aquilo que se faz não fazendo” .
No que tange à omissão, abro breve parêntese para ressaltar que, em se tratando de responsabilidade civil, não é qualquer “deixar de fazer” que representa requisito da responsabilidade por conduta omissiva.
Com muita propriedade, Sérgio Cavalieri aponta que a omissão relevante à responsabilidade civil a dar ensejo ao dever de indenizar é aquela oriunda de um dever jurídico originário de agir, “de praticar um ato para impedir o resultado, dever, esse, que pode advir de lei, do negócio jurídico ou de uma conduta anterior ao próprio omitente, criando o risco da ocorrência do resultado, devendo, pois, agir para impedi-lo”.
A conduta, na forma acima delineada, representa um dos requisitos para incidência da responsabilidade civil, sendo preponderante em qualquer de suas espécies.
2.3 Dano: moral, material e estético
O dano destaca-se como um dos pressupostos da responsabilidade civil, independentemente de sua espécie. “Pode haver responsabilidade civil sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano” .
Sérgio Cavalieri Filho, doutrina o dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, que ser tratar de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade, etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral.
Constata-se da definição acima que o dano comporta uma subdivisão. De um lado o dano patrimonial e do outro o dano moral. Sergio Cavalieri define que o dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano moral.
Já, o dano patrimonial, conhecido também como dano material, é aquele que “atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro,” com isso o dano material equivale ao prejuízo patrimonial sofrido.
Pode-se se dizer que a distinção entre dano moral e dano material é que a reparação devida em razão do segundo consiste na idéia de sub-rogar a coisa no seu equivalente, ao passo que, no primeiro a finalidade é compensatória, já que a extensão do dano moral é indecifrável.
Diferentemente do dano material, o dano moral não almeja colocar o dinheiro ao lado da angústia, da dor ou da humilhação que a vítima sofreu, mas proporcionar ao lesado uma situação de prazer, capaz de amenizar ou atenuar, ou até mesmo extinguir, a sensação ruim advinda do dano sofrido.
Por isso, diz-se que o dano moral tem caráter compensatório. Essa compensação, segundo a melhor jurisprudência “é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa”
No dano material existe um prejuízo que pode surgir da diminuição ou do não incremento do patrimônio da vítima. Já no dano moral, o que conta é a mágoa sofrida pelo ofendido, que não tem preço, valendo a indenização como compensação pela dor.
Ao distinguir essas duas espécies de dano, José de Aguiar Dias ensina:
quando ao dano não correspondem as características do dano patrimonial, dizemos que estamos em presença do dano moral. A distinção, ao contrário do que parece, não decorre da natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito da lesão, do caráter de sua repercussão sobre o lesado. De forma que tanto é possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a um bem não patrimonial como dano moral em resultado da ofensa a bem material. Releva observar, ainda, que a inestimabilidade do bem lesado, se bem que, em regra, constitua a essência do dano moral, não é critério definitivo para a distinção, convindo, pois, para caracterizá-lo, compreender o dano moral em relação ao seu conteúdo, que “... não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado” .
Segundo a melhor doutrina e os atuais posicionamentos jurisprudenciais, a reparação por dano moral tem caráter compensatório, bem como caráter punitivo, de forma a inibir novas condutas que causem dano.
Essa é a lição do mestre Caio Mário da Silva Pereira ao tratar da natureza jurídica e do arbitramento do dano moral:
apagando do ressarcimento do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, como técnica de afastar ou abolir o prejuízo, o que há de preponderar é um jogo duplo de noções: a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; não se trata de imiscuir na reparação uma expressão meramente simbólica, e, por esta razão, a sua condenação não pode deixar de considerar as condições econômicas e sociais dele, bem como a gravidade da falta cometida, segundo um critério de aferição subjetivo; mas não vai aqui uma confusão entre responsabilidade penal e civil, que bem se diversificam; a punição do ofensor envolve uma sanção de natureza econômica, em benefício da vítima, à qual se sujeita o que causou dano moral a outrem por erro de conduta, b) De outro lado, proporciona à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é um pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta; mas reparar pode traduzir, num sentido mais amplo, a substituição por um equivalente, e este, que a quantia em dinheiro proporciona, representa-se pela possibilidade de obtenção de satisfações de toda a espécie, como dizem Mazeuad et Mazeaud, tanto materiais quanto intelectuais, e mesmo morais.
Em face desta peculiaridade do dano moral, seu arbitramento não é tarefa fácil. Além desse caráter dúplice da reparação pelo dano moral, seu arbitramento não deve representar enriquecimento.
Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial nº 205.268, assim se manifestou:
a indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.
Destarte, partindo dessas considerações, o arbitramento do dano moral nunca deve representar uma indenização exorbitante, o que representaria enriquecimento ilícito, que os Tribunais conceituam hoje como “promoção da indústria do dano moral”.
A respeito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSOBILIDADE. PRECEDENTES. É entendimento desta corte que “o valor do dano moral [...] deve ser fixado com moderação, considerando a realizada de cada caso, cabível a intervenção da Corte quando exagerado, absurdo, causador de enriquecimento ilícito” (Resp nº 255.056/RJ, 3ª Cam. Civ., de minha relatoria, DJ de 30/10/2000). 2 - Na presente hipótese, revelado, flagrantemente, excessivo o valor fixado nas instâncias ordinárias a título de danos morais, a redução se faz necessária. 3- Recurso especial conhecido e provido .
Ademais, no que pertine ao dano material, verifica-se que o mesmo comporta uma subdivisão, podendo ser manifestar como lucro cessante ou como dano emergente. A seguir, ver-se-á cada uma dessas modalidades de danos materiais.
2.3.1 Dano material: lucro cessante e dano emergente
No que tange ao dano material, restou disciplinado no Código Civil de 2002, que: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
O dano material pode tanto representar um dano presente, chamado de dano emergente, quanto um dano futuro, conhecido com lucro cessante.
Na lição de Ségio Cavalieri Filho, “dano emergente [...] importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. [...] Via de regra, importará no desfalque sofrido pelo patrimônio da vítima”.
Por outro lado, o lucro cessante se amolda como “um reflexo futuro do ato ilícito sobre o patrimônio da vítima. [...] Consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima.”
A doutrina ao tratar do lucro cessante como espécie de dano material, faz referência à teoria francesa da perda de uma chance, conhecida como “perte d’une chance”, estritamente ligada ao lucro cessante, haja vista que representa o desaparecimento de uma probabilidade “de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, e assim por diante”
No direito brasileiro, segundo a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, essa teoria vem sendo aos poucos aceita na jurisprudência, estando condicionada a prova inconteste “que se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada.” [...] A chance perdida reparável deverá caracterizar um prejuízo material ou imaterial, resultante de fato consumado, não hipotético.”
Oportuno colacionar alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que acolheram a teoria da perda de uma chance como causa de reparação civil:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PROBABILIDADE SÉRIA E REAL. SITUAÇÃO DE VANTAGEM. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXTINÇÃO DA OPORTUNIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. PROBABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO VANTAJOSA. Independentemente da certeza em relação à concretização da chance, sua perda, quando configurar em si mesma uma probabilidade séria de ser obtida uma situação de vantagem, implica numa propriedade integrante da esfera jurídica de seu titular, passível, portanto, quando presentes os demais requisitos da responsabilidade civil, de ser indenizada. Havendo nexo de causalidade entre conduta afrontosa ao princípio da boa-fé objetiva e a dissipação da oportunidade de ser obtida uma situação vantajosa pela outra parte contratante resta constituída a responsabilidade civil pela perda de uma chance.[...]
Ação de Indenização - Danos Morais -Erro médico - Atendimento em hospital estadual, depois de vítima de bala perdida, quando passageiro de coletivo - Liberação do paciente cerca de duas horas após o atendimento médico - Agravamento do quadro, ensejando cirurgia para debelar infecção, causada por bactéria formadora de gás, com posterior amputação de membro inferior direito.A teoria denominada perda de uma chance se encaixa, com perfeição, ao caso dos autos.Dispõe o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva e, no caso, em virtude da precipitada liberação do paciente, houve a demora na visualização da infecção, ensejando, também, início tardio no procedimento para tentar debelar a infecção, ocorrendo a perda da chance de reverter o quadro e evitar a amputação. [...] Modificação da Sentença em duplo grau obrigatório de jurisdição e provimento parcial da Apelação .
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA EM SERVIÇOS DE ADVOGADOS QUE NÃO INTERPUSERAM O RECURSO CABÍVEL EM OUTRA DEMANDA. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. REVELIA QUE TRAZ A REBOQUE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE NÃO SÃO NEGADOS PELOS APELANTES E SIMULTANEAMENTE APELADOS. DANOS MATERIAIS QUE NÃO SÃO INDENIZÁVEIS POR FALTA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS QUE SE RECONHECE DEVIDOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE, QUE NÃO SE CONFUNDE COM INDENIZAÇÃO POR DANO EVENTUAL OU HIPOTÉTICO. INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE CALCULA SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ESPERADO, MAS COM BASE NA CHANCE EM SI QUE FORA DESPERDIÇADA. VERBA ARBITRADA ATENDENDO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Observa-se com as pesquisas jurisprudenciais realizadas, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vem aplicando a teoria da perda de uma chance como causa de reparação civil.
2.3.2 Dano estético
Contemporaneamente, surgiu na doutrina e na jurisprudência a discussão em torno do surgimento de uma nova espécie de dano, o dano estético.
Há uma corrente doutrinária que afirma ser o dano estético espécie de dano moral, e não uma terceira espécie de dano, sendo inviável a cumulação entre o dano moral e o dano estético.
O dano estético, nas palavras da Maria Helena Diniz, é conceituado como
toda alteração morfológica do indivíduo que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.12
Maria Helena Diniz filia-se à corrente que sustenta ser o dano estético espécie de dano moral. A doutrinadora afirma que as lesões acima mencionadas, independentemente de seu grau, constituem sempre um dano moral.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais
Se em ação de indenização houve pedido de reparação pecuniária por danos morais e estéticos decorrentes de defeitos da cirurgia e outro para pagamento de despesas com futura cirurgia corretiva, atendido este, inadmissível será o deferimento do primeiro.
Lado outro, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves sustenta a tese de que o dano estético “em virtude dos progressos das cirurgias reparadoras e da clínica de recuperação, vai-se convertendo, cada vez mais, em dano patrimonial. Mas se a estética for irreversível, converte-se em dano moral.
Preleciona Caio Mário da Silva Pereira que “se é verdade que nem todo dano moral resulta do dano estético a recíproca não é verdadeira, ou seja, todo dano estético redunda em dano moral. ”
Uma terceira corrente advogada o dano estético como uma terceira espécie de dano. Esse entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que
o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agredi à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental – dor da alma, aflição e angustia - a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível; porque concretizado na deformidade. O dano estético dá causa a uma indenização especial, na forma do §1º, do art. 1.538, do Código Civil de 1916.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE. Permite-se a cumulação de valores autônomos, um fixado a título de dano moral e outro a título de dano estético, derivados do mesmo fato, quando forem passíveis de apuração em separado, com causas inconfundíveis. Hipótese em que do acidente decorreram seqüelas psíquicas por si bastantes para reconhecer-se existente o dano moral; e a deformação sofrida em razão da mão do recorrido ter sido traumaticamente amputada, por ação corto-contundente, quando do acidente, ainda que posteriormente reimplantada, é causa bastante para reconhecimento do dano estético. Recurso não conhecido.
Nos termos em que veio a orientar-se a jurisprudência das Turmas que integram a Seção de Direito Privado deste Tribunal, as indenizações pelos danos moral e estético podem ser cumuladas, mesmo quando derivadas do mesmo fato, se inconfundíveis suas causas e passíveis de apuração em separado.
Não obstante tais divergências quando à classificação do dano estético, imperioso reafirmar que a existência do dano, seja qual for sua espécie, é condição sine qua non para configuração do dever de indenizar.
2.4 Culpa: espécies de culpa
Mencionou-se anteriormente que a responsabilidade civil subjetiva necessita de uma conduta culposa do agente, além dos demais requisitos, para que seja configurada.
Preleciona Sérgio Cavalieri que, em se tratando de responsabilidade civil, tem-se a noção de culpa em sentido amplo “(lato sensu), abrangente de toda a espécie de comportamento contrário ao direito, seja intencional, como no caso de dolo, ou não, como na culpa”.
O dolo pode ser definido “como sendo a vontade conscientemente dirigida à produção de um resultado ilícito. É a infração consciente de um dever preexistente, ou o propósito de causar dano a outrem.”
A culpa, por outro lado, tem como “essência o descumprimento de um dever legal de cuidado, que o agente podia conhecer e observar.”
A doutrinadora Maria Helena Diniz define muito bem o elemento culpa, da seguinte forma:
a culpa em sentido amplo, como violação de um dever jurídico, imputável a alguém, em decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou cautela, compreende: o dolo, que á a violação intencional do dever jurídico, e a culpa em sentido estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência, sem qualquer deliberação de violar o dever. A imperícia é a falta de habilidade ou inaptidão para praticar certo ato; a negligência é a inobservância de normas que nos ordenam agir com atenção, capacidade, solicitude e discernimento; e a imprudência é precipitação ou o ato de proceder sem cautela.
Destaca-se que a culpa, quanto ao grau de gravidade, possui uma tríplice classificação: grave, leve e levíssima.
A conduta culposa grave é aquela onde o agente causador do dano atua “com grosseira falta de cautela, como descuido injustificável ao homem normal [...]. é onde tem-se, portanto, a previsão do resultado. [...] acreditando, porém que o mesmo não será alcançado. ”
Por outro lado, haverá culpa leve quando o resultado puder ser evitado por meio de uma atenção ordinária; e levíssima quando verifica-se uma falta de cuidado “extraordinária, pela ausência de habilidade especial ou conhecimento singular”.
A doutrina civilista faz também distinção entre culpa in eligendo, culpa in vigilando e in custodiando.
Em síntese, no primeiro caso tem-se a culpa do patrão pela má escolha do preposto, no segundo a culpa decorrente da falta de atenção e cuidado para com aquele que encontra-se sob sua guarda ou vigilância; e, por última, a culpa in custodiando que “caracteriza-se pela falta de atenção em relação ao animal ou coisa que estavam sob os cuidados do agente. ”
Impende relembrar que a comprovação do elemento culpa somente é preponderante para configuração da responsabilidade civil na modalidade subjetiva, sendo presumida na responsabilidade objetiva.
2.5 Nexo de causalidade
Após abordar acerca da conduta, do dano e da culpa, resta-nos esclarecer acerca do quarto elemento da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, assim como o dano, é indispensável, para a incidência de qualquer espécie de responsabilidade.
Silvio Salvo Venosa conceitua o nexo de causalidade como “o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano. Como preleciona Cavalieri Filho é a “ligação ou relação de causa e feito entre a conduta e o resultado”
Em razão de sua importância, dificuldade de identificação e, em alguns casos, multiplicidade de condutas, a doutrina depara com duas teorias que disciplina o nexo de causalidade, quais sejam, a Teoria da equivalência dos antecedentes e a Teoria da causalidade adequada.
A primeira teoria, da equivalência dos antecedentes, disseminada por Von Buri (2007, p. 47), a partir das idéias de Stuart Mill (2007, p. 47) traduz que havendo “várias condições que concorrem para o mesmo resultado, todas têm o mesmo valor, a mesma relevância, todas se equivalem. Não se indaga se uma delas foi mais ou menos eficaz, mais ou menos adequada”.
Com a adoção desta teoria, a identificação do nexo causal percorreria um vasto caminho, por ela “teria que indenizar a vítima do atropelamento não só quem dirigia o veículo com imprudência, mas também quem lhe vendeu o automóvel, que o fabricou, quem forneceu a matéria-prima, etc.”
A segunda teoria, da causa mais adequada, atualmente a mais aceitável na seara civil, e acolhida pelo nosso ordenamento civil, distintamente da primeira teoria, faz a diferenciação entre causa e condição.
Causa para ela é o antecedente não só necessário, mas, também, adequado à produção do resultado, Logo, se várias condições concorrem para determinado resultado, nem todas serão causas, mas somente aquela que for a mais adequada para à produção do evento .
No que se refere à adoção da teoria da causa mais adequada, colaciona-se o seguinte julgado:
EMENTA: INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. Segundo a Teoria do Risco Administrativo, a concessionária se eximirá da responsabilidade pelo acidente de trânsito se comprovar a culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de força maior. Consoante a doutrina da causalidade adequada, a causa é o antecedente não só necessário, mas, também, adequado à produção do resultado, demonstrando que nem todas as condições serão causa, mas apenas aquela que for a mais apropriada a produzir o evento. Não se justifica atribuir responsabilidade, com base nesta teoria, àquele que não concorreu para o resultado gravoso, uma vez que restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima.
Enfim, independentemente da teoria da causalidade a ser adotada, como bem afirmou o Ministro Celso de Mello, no julgamento do Recurso Extraordinário 481.110-3 – Pernambuco,
a comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições ou teoria da causalidade adequada), é essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido .
Assim, nos casos de responsabilidade civil subjetiva, a prova diz respeito a todos os elementos anteriormente relatados, ou seja, conduta, dano, culpa e nexo de causalidade. Já, quando se tratar de responsabilidade civil objetiva, não se faz necessário averiguar a presença do elemento culpa, sendo a mesma presumida.
CAPÍTULO III - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
3.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Em decorrência da evolução do instituto da responsabilidade civil, no direito público passou-se a discutir acerca de uma de suas categorias, a responsabilidade civil do Estado.
Todavia, a responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade civil da Administração Pública, como é designada por alguns doutrinadores, nem sempre imperou no universo jurídico.
Mesmo com o abandono da idéia de “vingança”, notadamente no ano 287 a.C. com a promulgação da Lex Aquilia, conforme foi exposto no capítulo antecedente, ainda não falava-se na possibilidade do Estado responder civilmente pelos danos causados a terceiros.
Durante décadas os prejuízos decorrentes dos atos do Estado, exercidos nos regimes de governos autoritários e despóticos, regeram-se pela teoria da irresponsabilidade civil, conhecida também como teoria regaliana, regalista ou feudal.
No século XIX, deixando o campo da irresponsabilidade, o Estado sofreu grandes modificações no que se refere ao dever de reparar o dano. Essas mudanças estão atreladas ao surgimento de três teorias: teoria francesa da faute du service, teoria do risco administrativo e teoria do risco integral, sendo essas duas últimas decorrentes da teoria do risco.
A seguir, dissertar-se-á acerca da origem e evolução da responsabilidade civil do Estado, abordando inicialmente acerca da teoria da irresponsabilidade, para depois tecermos considerações acerca das demais teorias.
3.1.1 Teoria da Irresponsabilidade civil do Estado
No Brasil, nunca se falou em irresponsabilidade civil do Estado. Desde a promulgação da Lei do Império, no ano de 1.824, foi estabelecida a responsabilidade civil dos empregados públicos nos casos de “abusos ou omissões praticadas no exercício de suas funções.”
Todavia, nos demais ordenamentos, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado negava a possibilidade de ressarcimento de qualquer espécie de dano pela Administração Pública.
Pautando-se na máxima de que “o rei não erra”; “o Estado sou eu”, “o que agrada ao príncipe tem força de lei” ; sustentavam os pregadores dessa teoria que o Estado jamais poderia responder por qualquer dano advindo de seu exercício. Na Grécia, “os regimes, tanto monárquicos, como aristocráticos ou democráticos, viam sempre no soberano do momento alguém que respondia perante a divindade, da qual era uma emanação, sem nenhum compromisso com as realidades terrenas.”
Segundo o doutrinador José Cretella Junior, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado
funda-se no princípio de que o Estado tem, por finalidade precípua, a tutela do direito. Assim, quando o funcionário viola o direito, quebrando a norma pela qual deveria zelar, não opera nesse momento em nome do Estado, que é o próprio criador e guarda do direito. Prejudicando terceiros, o agente apartou-se do Estado, agindo, agora, tão-só, como simples particular com excesso de representação .
Essa corrente distinguia Estado de funcionário do Estado; devendo este último ser responsabilizado civilmente por eventual dano causado a terceiro; sendo que os “administrados promoviam a ação em face do funcionário e nunca contra o Estado. Diante da insolvência do funcionário, a ação de indenização quase sempre resultava frustrada.”
Afirma o doutrinador Celso Ribeiro Bastos que
a teoria da irresponsabilidade vigorou durante muito tempo na Europa, onde eram conhecidas as expressões “the king can do wrong” (o rei não pode fazer mal); “le rou ne peri mal faire” (o rei não pode errar), que só vieram a ser realmente superadas por inteiro logo após a Segunda Guerra Mundial” .
Todavia, essa teoria foi aos poucos posta em discussão e rebatida pela doutrina. Diante do reconhecimento do Estado como uma unidade dotada de personalidade jurídica própria, apta a adquirir direitos e contrair obrigações; sua irresponsabilidade foi repensada.
No entanto, a irresponsabilidade civil do Estado ainda prevaleceu até metade do século XIX. Nesse sentido, é a lição de Jean Rivero, citado por José dos Santos Carvalho Filho:
na metade do século XIX, a idéia que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A solução era muito rigorosa para com os particulares em geral, mas obedecia às reais condições políticas da época. O denominado Estado Liberal tinha limitada atuação, raramente intervindo nas relações entre particulares, de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época.20
No que pertine ao momento histórico da queda da teoria da irresponsabilidade e o surgimento da responsabilidade civil do Estado, preleciona Celso Antônio Bandeira de Melo que:
o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, à margem de qualquer texto legislativo, teve por marco relevante o famoso aresto blanco, do Tribunal de Conflitos, proferido em 1º de Fevereiro de 1873, ainda, que nele se fixasse que a responsabilidade civil do Estado não é geral, nem absoluta, e que se regula por regras especiais.
No aresto blanco,o Conselho de Conflitos do Estado Francês, no caso da menor Agnes Blanco, que foi atingida por um vagonete da Companhia Nacional de Manufaturamento de Fumo da França sofrendo lesão grave, decidiu que o Tribunal Administrativo era competente para julgar o caso, haja vista tratar-se de responsabilidade civil do Estado.
Assim decidiu o Tribunal de Conflitos:
[...] a controvérsia deveria ser solucionada pelo tribunal administrativo, porque se tratava de apreciar a responsabilidade decorrente de funcionamento do serviço público. Entendeu-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil, porque se sujeita às regras especiais que variam conforme as necessidades do serviço e a imposição de conciliar os direitos do Estado como direitos privados.23
Com isso, pela primeira vez na história foi reconhecida a responsabilidade civil do Estado.
Partindo do pressuposto de que o Estado, por ser uma pessoa jurídica não dotada de individualidade física, possui a necessidade de externar suas vontades através de órgãos, sendo que “a vontade e as ações desses órgãos, todavia, não são dos agentes humanos, que neles atuam, mas sim do próprio Estado” , surgiu a obrigação do Estado na reparação civil.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello
a relação entre a vontade e a ação do Estado e de seus agentes é uma relação de imputação direta dos atos dos agentes ao Estado. [...] O que o agente queira, na qualidade funcional – pouco importa sem ou mal empenhada – entende-se que o Estado quis, ainda que haja querido mal. O que o agente nestas condições faça é o que o Estado fez [...]
A partir daí a responsabilidade civil do Estado passou a ser discutida, surgindo duas grandes teorias, tendo com objeto os elementos necessários para sua configuração; a teoria da falta do serviço e a teoria do risco, tendo como corolários duas correntes, teoria do risco administrativo e teoria do risco integral.
3.1.2 Teoria da faute du service (culpa anônima)
Em face das novas teorias introduzidas no campo da responsabilidade civil, o Estado passou a responder legalmente pelos danos causados a terceiros.
Com fundamento no fato de que “a culpa anônima ou falta do serviço publico, geradora de responsabilidade do Estado, não está, necessariamente, ligada a idéia de falta de algum agente determinado,” a responsabilidade pessoal do agente público transferiu-se para o Estado.
Assim, “basta que fique constatado um mau agenciador geral, anônimo, impessoal, na defeituosa condução do serviço, à qual o dano possa ser imputado”, para que o Estado responda por tais danos.”
Reafirmando tal posicionamento, o grande precursor desta teoria, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, asseverou que
não se trata da culpa individual do agente público causador do dano. Ao contrário, diz respeito a culpa do serviço diluída na sua organização, assumindo feição anônima, em certas circunstâncias, quando “não é possível individua-la e, então, considera-se como causador do dano a pessoa coletiva e jurídica .
Ensina o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo que a remota tese de que o agente público e não o Estado que deve responder pelos danos causados a terceiros foi ultrapassada “pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar funciona mal ou funciona atrasado” .
A teoria da faute du service ou da culpa anônima corresponde a essa transferência da culpa individual do agente do Estado para o próprio Estado.No caso de responsabilidade civil do Estado, segundo José de Aguiar Dias, a culpa, configura-se quando:
na falta de diligência na observação da norma de conduta, isto é, o desprezo por parte do agente, do esforço necessário para observá-la com resultado não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse nas considerações das conseqüências eventuais de sua atitude .
A ausência do serviço, o serviço defeituoso ou o serviço tardio, oriundos deste desprezo configura a culpa.
Completando esse precedente, Rui Stoco transcreve que
a ausência do serviço causada pelo funcionamento defeituoso, até mesmo pelo retardamento, é quantum satis para configurar a responsabilidade civil do Estado pelos danos daí decorrentes em desfavor dos administrados. Em verdade, cumpre reiterar, a responsabilidade por falta do serviço, falha do serviço ou culpa do serviço é subjetiva, por que baseada na culpa (ou dolo) .
Com propriedade, Oswaldo Aranha leciona sobre o tema:
prefigura-se a culpa no não funcionamento do serviço, se obrigatório ou na sua má prestação, ou, então da sua prestação retardada. Destarte, a responsabilidade deflui do descumprimento da lei, que deixou de ser obedecida na conformidade de seu comando. Em desviando-se a prestação do serviço do regime legal a ele imposto deixando de presta-lo, ou prestando-o com atraso ou de modo deficiente, por falha de sua organização, verifica-se a responsabilidade civil da pessoa jurídica e, portanto, do Estado, que, então, deve compor o dano conseqüente dessa falta administrativa, desse acidente quanto à realização do serviço .
O doutrinador Paul Duez colaciona os quatro pontos essenciais da teoria da falta do serviço, quais sejam:
1) a responsabilidade do servidor público é uma responsabilidade primária, não indireta (não decorre da relação preposto/preponente); 2) a falta do serviço público não depende da falta de determinado agente, mas do funcionamento defeituoso do serviço, do qual decorre o dano; 3) o fato gerador da responsabilidade é a falta ou culpa do serviço, não o fato do serviço, daí não se confundir com a teoria do risco administrativo (objetiva); 4) não basta a ocorrência de qualquer defeito, mas certo grau de imperfeição, e o defeito do serviço deve ser examinado tendo em vista o serviço, o lugar e as circunstâncias .
O Estado passa agora responder pelos danos causados a terceiros, sendo preponderante a culpa da Administração Pública para configuração do dano; e não mais a culpa de determinado funcionário. Descarta-se assim a identificação da culpa individual do funcionário do Estado.
Finalizando, é mister acentuar que:
a responsabilidade por "falta de serviço", falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello .
Com a edificação da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, surgiu na doutrina duas teorias, baseadas na teoria do risco; abordando acerca da responsabilidade civil do Estado. Quais sejam: teoria do risco integral e teoria do risco administrativo.
Afirma o doutrinador Themistocles Cavalcante (2007, p. 24), com muita propriedade, que a culpa anônima já não era suficiente para explicar a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes da falha da máquina administrativa. Essa lacuna passou a ser preenchida pela concepção de culpa pregada pelas teorias publicistas.
Tais teorias passaram a discutir a necessidade ou não do elemento culpa para configuração da responsabilidade civil do Estado, se contrapondo às idéias preconizadas pela teoria da faute du service, que pontificava a responsabilidade civil subjetiva do Estado, atrelada à falta da prestação do serviço, má prestação do serviço ou prestação tardia do serviço.
3.1.3 Teoria do Risco Administrativo
Recapitulando, no capítulo antecedente, foi relatado acerca de duas espécies de responsabilidade civil: a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva.
Na primeira hipótese, sua configuração está atrelada à comprovação dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), dano (estético, moral ou material), culpa (dolo; imprudência, imperícia ou negligência) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Já, no que tange à segunda hipótese, dentre os requisitos acima mencionados, dispensa-se a culpa para sua configuração.
A teoria do risco administrativo trata precisamente de quais elementos seriam indispensáveis para que reste configurada a responsabilidade civil do Estado, em razão de sua classificação em algumas dessas modalidades.
A teoria do risco administrativo baseia-se na própria natureza jurídica do Estado. Essa teoria foi refletida pela primeira vez pelo pensador Louis Josserand que descartou a culpa como requisito da responsabilidade civil do Estado.
Essa teoria, na lição de Sérgio Cavalieri Filho:
importa em atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. [...] Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa dos agentes .
Diferente não é o entendimento de Washington Monteiro de Barros, ao afirmar que:
a teoria publicista da responsabilidade civil do estado se baseia no princípio da igualdade de ônus e dos encargos sociais, de tal modo que, se o serviço público produzir dano a um particular, aquele deve ser suportado por todos indistintamente. Também reconhece: “para que o estado responda civilmente, basta a existência do dano e do nexo de causal do ato do funcionário, ainda que lícito. A idéia da causalidade do ato veio substituir a da culpabilidade do agente .
De acordo com os seguidores da teoria do risco administrativo, o papel do Estado é gerir, reger, governar; dirigir, de modo a manter sob controle o bem administrativo ou a situação, a fim de obter o melhor resultado. Descumprida essa finalidade, seja em razão do próprio bem administrado, como em razão das pessoas a quem se dirige a administração, ou seja, à comunidade, o dano causado deve ser indenizado.
Diante disso, o Estado tem como obrigação prestar o serviço público de forma eficiente, em face da sua própria posição jurídica frente aos governados, e dado à complexidade de suas atividades, é capaz de gerar danos mais intensos que os suscetíveis de serem ocasionados por particular.
Pautando-se nestas considerações, é que a teoria do risco administrativo sustenta a dispensabilidade da comprovação do elemento culpa para configuração da responsabilidade civil do Estado. Com isso, a mesma deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva.
A teoria do risco administrativo representa um avanço das teorias publicistas que explicam a responsabilidade civil do Estado, onde prescinde o fator humano, eis que não tem a culpa como elemento de composição, se preocupando mais com o funcionamento do serviço público.
Assim, com fundamento no nexo de causalidade existente entre a execução de um serviço e o prejuízo causado a um terceiro, a teoria do risco administrativo dispensa a culpa para a condenação do Estado no dever de indenizar.
O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade civil do Estado.
Assim dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal, in verbis:
Art. 37, §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa .
Como afirma o doutrinador Hely Lopes de Meirelles é incontroverso que
não se pode equiparar o Estado, com seu poder e seus privilégios administrativos, ao particular, despido de autoridade e de prerrogativas públicas. Tornaram-se, por isso, inaplicáveis em sua pureza, os princípios subjetivos da culpa civil para a responsabilização da Administração pelos danos causados aos administrados. Princípios públicos é que devem nortear a fixação dessa responsabilidade .
Pode-se dizer que a teoria do risco administrativo encontra fundamento na teoria do risco criado, que traduz-se na obrigação que possui a pessoa em reparar o dano, causado em razão de atividade ou profissão que configure risco, “salvo prova de haver adotado todas as medidas idôneas para evita-lo.”
Saliente-se que esse risco, segundo a boa doutrina pátria, é um risco “moderado ou mitigado”; admitindo-se a exclusão da responsabilidade do Estado em algumas ocasiões específicas, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Como bem acentua Hely Lopes de Meireles.
A teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. [...] Isto porque o risco administrativo não significa que a Administração deve indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente que a vítima fica dispensada da prova da culpa do Estado .
Assim, ao atribuir à responsabilidade civil do Estado o caráter de objetiva, basta que o ato por ele praticado seja a causa determinante do dano.
Assevera Celso Antônio Bandeira de Mello que em face da teoria do risco administrativo
o Estado só se exime de responder se faltar nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora daí, responderá sempre .
Vê-se assim que a causalidade é o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado.
Em síntese, a teoria do risco administrativo, nos dizeres de Caio Mário, é aquela que “encara o dano sofrido em conseqüência do funcionamento, puro e simples, do serviço público. Não se cogita se era bom, se era mau. O que importa é a relação de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e o ato do preposto ou agente estatal” .
A seguir, tecer-se-á considerações acerca da teoria do risco integral, segunda teoria publicista que trata da responsabilidade civil do Estado, bem como das causas que importam em exclusão da obrigação estatal em reparar o dano.
3.1.3 Teoria do Risco Integral
Com o advento da teoria do risco administrativo a responsabilidade civil do Estado deixou sua concepção civilista, baseada na culpa, e passou a ser objetiva.
Sob as diretrizes da teoria do risco administrativo, a Administração Pública é obrigada a reparar o dano provocado a terceiro em decorrência de sua atividade, independentemente da culpa.
Todavia, de acordo com essa teoria, o risco suportado pelo Estado não é ilimitado, podendo, ser afastado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano sofrido. É o que conceituamos no tópico antecedente como causas excludentes de responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.
Assim, afastando-se o nexo de causalidade por um destes três fundamentos, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.
Distintamente é a teoria do risco integral, que, apesar de basear-se na teoria do risco, segundo Hely Lopes Meirelles
é a modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. [...] Essa teoria jamais foi acolhida entre nós .
Na lição de Yussef Said Cahali, a diferença entre o risco administrativo e o risco integral está nas conseqüências da adoção de um ou outro: “o risco administrativo é qualificado pelo seu efeito de permitir a contraprova de excludente de responsabilidade, efeito que se pretende seria inadmissível se qualificado como risco integral”
Adotando-se a teoria do risco integral, o Estado estaria obrigado a suportar todo e qualquer dano eventualmente ocasionado a terceiro, independentemente da existência de nexo de causalidade entre sua conduta do Estado e o dano ocorrido.
Essa teoria não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois admite-se a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior, como causas excludentes de responsabilidade.
A seguir, veremos detalhadamente as causas excludentes da responsabilidade civil do Estado.
3.2 Causas excludentes de responsabilidade civil do Estado
Considerando que a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade civil do Estado, admite-se que a mesma seja afastada caso fique evidenciado algumas causas de exclusão.
Adotando-se a lição de Rui Stoco, as causas excludentes de responsabilidade civil do Estado, são as seguintes: “a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas com força de romper o liame causal [...] ” Veremos cada uma delas separadamente.
3.2.1 Caso fortuito e força maior
Força maior, nas palavras de Maria Sylvia Z. Di Petro é
o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável a Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.
Já, o caso fortuito, reflete-se, segundo José Cretella Junior, “no funcionamento da própria empresa ou do serviço, como a explosão de caldeira, o desabamento de prédio, o incêndio provocado pelo rompimento de fio elétrico” .
Na lição de Sérgio Cavalieri Filho a distinção entre caso fortuito e força maior pode ser delineada da seguinte forma:
estaremos em face do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável; se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da natureza, como as tempestades, estaremos em face da força maior, como o próprio nome diz .
Corroborando com tal assertiva, os doutrinadores Humberto Piragibe Magalhães e Christovão Piragibe Tostes Malta dissertam que:
o caso fortuito é acontecimento imprevisto e inevitável. Força maior é o acontecimento inevitável, aquilo a que não se pode resistir, como por exemplo, uma inundação, um incêndio, uma guerra, um naufrágio são circunstâncias de força maior. Nessa inevitabilidade reside a característica da força maior e nisso ela se distingue do fato casual, o acaso ou caso fortuito, que é o sucesso imprevisível.
Em síntese, nos dizeres de Sérgio Cavalieri “a imprevisibilidade é o elemento indispensável para a caracterização do caso fortuito, enquanto a inevitabilidade o é da força maior”.
Assim sendo, ocorrendo qualquer evento dessa natureza, está-se diante de uma causa excludente de responsabilidade civil do Estado.
3.2.3 Culpa exclusiva da vítima
Com dito alhures, nosso ordenamento, no que tange à responsabilidade civil do Estado recepcionou a teoria do risco administrativo. Importa dizer que o Estado somente se exime de responder pelos danos causados quando inexistir conduta, dano ou nexo de causalidade.
Uma das formas de exclusão da responsabilidade civil do Estado, é a culpa exclusiva da vítima, que representa o afastamento do nexo de causalidade.
Nas palavras do doutrinador Silvio Rodrigues, a culpa exclusiva da vítima “é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente” .
À exemplo, cite-se a lição de Diógenes Gasparini
É o que ocorre quando a vítima se atira sob as rodas de um caminhão de lixo pertencente ao Estado. Por evidente, nada fez o agente estatal para a ocorrência desse evento gravoso para a vítima. Nesse caso e em outros semelhantes, não cabe qualquer responsabilidade ao Estado, pois não está presente o nexo indispensável entre a ação do Estado e o dano sofrido pela vítima .
Ao abordar acerca da culpa exclusiva da vítima, José de Aguiar Dias, afirma: “admite-se como causa de isenção de responsabilidade o que se chama de culpa exclusiva da vítima. Com isso, se alude ao ato ou fato exclusivo da vítima, pelo qual fica eliminada a causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato danoso. ”
No que se refere à culpa exclusiva da vítima como forma de exclusão da responsabilidade civil do Estado, colaciona-se o seguinte julgado:
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público com base na teoria do risco administrativo, ocorre mediante os seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. II – esta responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de Direito público ou da pessoa de direito privado, prestadora de serviço público.
Portanto, ao se verificar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, ocorre o afastamento do liame causal entre a conduta e o dano, requisito este indispensável para fins de responsabilização civil do Estado.
CAPÍTULO IV – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NAS CONDUTAS OMISSIVAS
Conforme se extrai da leitura do art. 37, §6º, da Constituição da República, o ordenamento jurídico brasileiro, no que se refere à responsabilidade civil do Estado, adotou a teoria do risco administrativo. Com isso, fica dispensada a comprovação da culpa para fins de reparação civil da Administração Pública.
Mister trazer à colação a redação do art. 37, §6º, da Constituição da República:
Art. 37 A administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes, União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte;
§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestações de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa.
Diante disso, vital apenas a identificação dos seguintes requisitos na responsabilidade civil do Estado: dano, ação administrativa e o nexo causal entre o dano e a ação administrativa; podendo o nexo causal ser afastado nos casos de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, conforme visto anteriormente.
Tais considerações são incontroversas quando o Estado age comissivamente. Todavia, quando nos referimos às condutas omissivas do Estado a doutrina e a jurisprudência apresenta um grande dissenso.
Tendo como substrato teórico a teoria do risco administrativo, há quem diga que o texto constitucional é bastante claro em atribuir à responsabilidade civil do Estado o caráter objetivo, dispensando qualquer tipo de indagação acerca de sua aplicabilidade nas condutas omissivas ou comissivas.
Todavia, como afirma o Professor Paulo Bonavides qualquer norma, mesmo sendo clara, não dispensa interpretação, pois, “que busca a interpretação é estabelecer o sentido objetivamente válido de uma regra de direito [...]” , e que importância há de ter uma norma se a ela não é atribuída interpretação válida.
Outro não é o posicionamento de Paulo Ricardo Schier ao afirmar que a ordem jurídica, sob a perspectiva formal e material, e assim os seus procedimentos e valores, devem passar sempre e necessariamente pelo filtro axiológico da Constituição Federal, impondo, a cada momento da aplicação do Direito, uma releitura e atualização de suas normas.
In casu, indaga-se acerca da necessidade ou não da comprovação do elemento culpa para sua configuração, muito embora o art. 37, §6º, da Constituição da República não tenha feito tal ressalva.
4.1 Posicionamento doutrinário
No que pertine à divergência acima levantada, de um lado posiciona-se a corrente doutrinária capitaneada por Hely Lopes Meirelles (2000, p. 597), Celso Ribeiro de Bastos (1999, p. 173), Yussef Said Cahali (2007, p. 499), dentre outros autores, advogando a tese que o Estado, em face do disposto no art. 37, §6º, da Constituição da República, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, seja na ação ou na omissão, notadamente em face da política de repartição dos ônus e encargo.
De outro norte, contrapondo-se a tais argumentos, tem-se uma corrente diversa, defendida por Celso Antônio Bandeira de Melo (2006, p. 598), José dos Santos Carvalho Filho (2006, p. 464/465), Maria Zanella Sylvia di Pietro (2007, p. 598), Oswaldo Aranha Bandeira de Melo (2004, p. 965), Rui Stoco (2004, p. 963), dentre outros autores, sustentando que a responsabilidade civil do Estado, nas condutas omissivas, é subjetiva, sendo necessário a comprovação do elemento culpa, em qualquer de suas modalidades, imprudência, imperícia ou negligência ou o dolo, para que reste configurada.
Um dos argumentos levantados pela última corrente reside no vocábulo “causarem”, inserido no art. 37, §6º, da Constituição da República. De acordo com seus seguidores, a omissão do Estado não é “causa” do dano, “mas sim sua condição, pelo que para haver a responsabilização do Estado por sua conduta omissiva, imprescindível a análise do elemento subjetivo” ; ou seja, a culpa.
Impende registrar que essa corrente doutrinária encontra fundamento na teoria da faute du service, que como visto no capítulo antecedente, assevera que: havendo não prestação do serviço público, prestação defeituosa do serviço ou a prestação tardia do serviço, o Estado será responsabilizado pelos danos causados.
Nesse sentido é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
quando o dano foi possível em decorrência de omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardiamente ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser o autor do dano. E se não foi o autor, só pode responsabiliza-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabiliza-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
Para que seja identificada uma não prestação, ou uma prestação tardia ou ineficiente do serviço, é necessário a priori que haja uma obrigação legal de agir e em um determinado padrão.
Havendo um dever jurídico primário do Estado em agir, “e não tendo agido ou o fazendo deficientemente, incidirá em uma conduta ilícita, pelo que responderá por sua culpa lato sensu” .
Neste diapasão, pertinente colacionar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello ao sustentar a responsabilidade subjetiva do Estado nas condutas omissivas:
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imperícia ou imprudência (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente modalidade de responsabilidade subjetiva .
Corroborando com a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, assim dissertou:
quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerado da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante de um dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado as reparar os prejuízos. À conseqüência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desempenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa.
Prossegue seu raciocínio, afirmando que nos casos de omissão do Estado:
a culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas .
Partindo dessas considerações, Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, sustentam, em síntese, que a omissão, distintamente da ação, não é “causa”, mas sim condição do dano.
E sendo condição do dano, para que o Estado seja obrigado a indenizar prejuízo dela decorrente, é necessário que o mesmo possua um dever primário de proceder de determinada maneira, em um determinado caso, para evitar sua ocorrência.
Assim sendo, havendo inicialmente uma imposição legal, agindo o Estado de modo diverso, não agindo, ou ainda, agindo inadequadamente, resta caracterizada a culpa do serviço, ou faute du service, que estará caracterizada em três situações, a saber: a ausência do serviço, o serviço defeituoso ou o serviço demorado.
Completando as lições acima esboçadas, tem-se o posicionamento doutrinário de Oswaldo Aranha Bandeira de Melo:
prefigura-se a culpa no não funcionamento do serviço, se obrigatório, ou na sua má prestação, ou, então, na sua prestação retardada. Destarte, a responsabilidade deflui do descumprimento da lei, que deixou de ser obedecida em conformidade de seu comando. Em desviando-se a prestação do serviço a ele imposto, deixando de presta-lo, ou prestando-o com atraso ou de modo deficiente, por falha de sua organização, verifica-se a responsabilidade da pessoa jurídica, portanto, do Estado, que, então, deve compor o dano conseqüente realização do serviço”
Nesse sentido também se apresenta a lição de Rui Stoco:
ora, a omissão do Estado é anônima, posto que se produz em algo que a própria Administração não fez, quando devida fazer. Não tomou as providências quando estas eram exigidas. Omitiu-se, danosamente, quando exigia um comportamento ativo. O serviço falhou sem que houvesse a participação direta do agente público. Se assim é, o comportamento omissivo do poder público não se encaixa nem no art. 37, §6º, da Constituição Federal (...), portanto, empenha responsabilidade subjetiva.
Assim, caso o Estado não aja conforme imposição legal, traduz-se ai sua negligência, e sendo essa sua conduta condição sine qua non para a configuração do dano, restará demonstrada sua responsabilidade.
Preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello que de fato, na hipótese cogitada o Estado não é o autor do dano. Em rigor, não se pode dizer que causou. Sua omissão ou deficiência haveria sido condição do dano, e não causa. Causa é o fator que positivamente gera um resultado. Condição é o evento que não ocorreu, ma que, se houvesse ocorrido, teria impedido o resultado.
É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los .
Sobre o tema em análise, o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, ao tratar da responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, distinguiu omissão genérica de omissão específica, para, posteriormente, lançar seu posicionamento quanto à natureza de sua responsabilidade. Segundo Cavalieri
na omissão genérica responderá subjetivamente o Estado. De outra sorte, nos casos de omissão específica, quando a inércia da administração é causa direta e imediata do não-impedimento do evento, deverá incidir a responsabilidade objetiva, pelo que, neste caso, haverá o dever individualizado de agir do Estado .
Esse posicionamento não encontrou guarida na demais doutrinas, sendo refutada pelos defensores da responsabilidade subjetiva do Estado nas condutas omissivas, haja vista que não importa a espécie de omissão, a mesma sempre será condição do dano, e, sendo condição do dano, depende da culpa anônima, ou faute du service, com diria os franceses,para que reste configurada.
A seguir, traçar-se-á o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal no que pertine à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, bem como o entendimento jurisprudencial de alguns Tribunais Estaduais.
4.2 Tratamento jurisprudencial da matéria no Supremo Tribunal Federal e em alguns Tribunais Estaduais
A teoria do risco administrativo é aplicável de forma incontroversa quando o Estado, em seus atos comissivos, provoca dano a terceiro.
Todavia, diante das considerações traçadas até o momento, patente é a divergência doutrinária acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado por atos omissivos.
Saliente-se que essa divergência não se apresenta tão-somente no campo doutrinário, mas tem alcançado também nossos Tribunais.
O Supremo Tribunal Federal, até o presente momento, não apresenta um posicionamento pacífico acerca de qual teoria aplicável quando o Estado age omissivamente, objetiva ou subjetiva.
Todavia, colhem-se alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, fundada na teoria subjetiva.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLIOCAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO [...] RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FATLA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, §6º, I – tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, essa numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia, ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dando que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço; II – A falta do serviço – faute du service dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III – Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da prisão tempos antes; neste caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio .
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. CF 37, §6º. Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, as responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, sem sentido estrito, esta numa se duas três vertentes – a negligência, a imperícia ou a imprudência – não sendo, entretanto, necessário individualiza-se, dado que poder atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II A falta do serviço – faute du service dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III – Detento ferido por outro detento, responsabilidade civil do Estado, ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física do preso .
Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma postura bastante flexível com relação à teoria do risco administrativo e à teoria da faute du service ao tratar da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, admitindo, em alguns precedentes, a responsabilidade civil do Estado por omissão, constituída em volta da culpa, em qualquer de suas modalidades, desde que presente o nexo de causalidade.
Apesar de, ainda, não ser entendimento majoritário do Supremo, observa-se, da análise dos julgados, uma grande tendência em admiti-la.
Destarte, outro não é dos demais Tribunais Estaduais, que se vê dividido entre a aplicabilidade da responsabilidade objetiva ou subjetiva, nas condutas omissivas do Estado.
Destaca-se o atual posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, muito embora ainda não seja unânime, tem uma postura majoritária em admitir a responsabilidade civil subjetiva do Estado nos atos omissivos.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA - REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL - AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. 1- Fundando-se a ação de indenização em OMISSÃO da empresa concessionária de energia elétrica, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva da Administração, sendo necessária a comprovação, no mínimo, de culpa, além do dano e do nexo causal .
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MÁS CONDIÇÕES DA CADEIA PÚBLICA - OMISSÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA REFORMADA. 1- Fundando-se a ação de indenização em omissão do Estado no tocante à garantia dos direitos fundamentais de pessoas presas, previstos na Constituição Federal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva da Administração, sendo necessária a comprovação de culpa, do dano e do nexo causal. 2- Inexistindo previsão orçamentária para a reforma do prédio, não há que se falar em omissão do estado e, por conseguinte, em indenização ao autor, por danos morais, em razão das más condições da cadeia pública.
Apelação cível. Ação de indenização. Acidente automobilístico. Buraco em via pública sem sinalização. Condições precárias de tráfego. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE subjetiva caracterizada. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido. 1. Tratando-se de RESPONSABILIDADE CIVIL do ESTADO por OMISSÃO, aplica-se a teoria subjetiva. 2. A RESPONSABILIDADE CIVIL, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 3. O agente pode defender-se alegando culpa da vítima, exclusiva ou concorrente. 4. Inexistente a comprovação de comportamento irregular do motorista que possa ter contribuído para o sinistro, resta afastada a suposta culpa da vítima. 5. Ocorrendo o sinistro em conseqüência de buraco na via de trânsito local, sem sinalização e em condições precárias de iluminação, deve o município ser responsabilizado pela reparação CIVIL dos danos materiais causados. Mas o fato, em si, não gera dano moral. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para rejeitar a pretensão relativa à reparação por dano moral.
EMENTA: DIREITO AMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DESLIZAMENTO DE TERRAS EM RAZÃO DA CHUVA – SOTERRAMENTO – TRAGÉDIA NA VILA MORRO DAS PEDRAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA CARACTERIZADA – FAUTE DU SERVICE. A responsabilidade da Administração Pública, pela faute du service, é subjetiva e está subordinada à prova dos danos, da culpa, e do nexo de causalidade entre a ausência ou má prestação do serviço público e o evento danoso. O Município tem o dever de indenizar a mãe, a título de danos morais, pelo sofrimento advindo da trágica perda dos 06 (seis) filhos, mortos por soterramento, em conseqüência do deslizamento de terras, restando caracterizada a omissão, em virtude da inexecução de obras ou da adoção de medidas preventivas com o fim de conter os danos provocados pelas chuvas torrenciais que, apesar de registradas no passado, não foram objeto de cautelas técnicas da Prefeitura.
Posto isso, verifica-se que de um lado situam-se os adeptos à teoria objetiva da responsabilidade civil do Estado, seja a conduta comissiva ou omissiva. De outro, aqueles que sustentam sua subjetividade, pautando-se na teoria da falta do serviço.
A doutrina e a jurisprudência ainda não são convergentes no sentido de admitir a primeira ou a segunda corrente. Os posicionamentos encontram-se divididos.
Todavia, não se pode perder de vista, o que há muito frisou o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, que:
Cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiros, como um assalto na via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre argüir que o serviço não funcionou. Ao admitir responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal!
Assim, ao invocar a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo cumpre, pois, demonstrar a omissão, comprovar o dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, bem como a culpa do Estado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluir-se-á, do que até aqui foi exposto, que a responsabilidade civil do Estado é um dos temas mais antigos e mais contemporâneos na seara do Direito Administrativo.
A responsabilidade civil do Estado se desenvolveu com base em três correntes doutrinárias, quais sejam: a teoria da falta do serviço, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral.
A Constituição da República, em seu art. 37, §6º, recepcionou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade civil do Estado, dispensando-se o elemento culpa para que o mesmo seja civilmente responsável pelos danos causados.
Entretanto, a análise das considerações traçadas no presente trabalho, evidencia que os fundamentos dessa teoria são insuficientes para sustentar a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos.
Os doutrinadores Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella di Pietro e Rui Stoco, dentre outros, sustentam, com muita propriedade, que a teoria do risco administrativo é inaplicável quando o Estado age omissivamente, sendo indispensável, nesse caso, a demonstração da culpa ou falta do serviço, capitaneada pela teoria francesa da faute du service, que representa modalidade subjetiva de responsabilidade.
Por óbvio, em se tratando de omissão, a conduta do Estado não é “causa” do dano, mas sim “condição”, uma vez que o Estado não agiu no sentido de provocá-la, mas não agiu no sentido de impedi-la. Portanto, poderá ser obrigado a reparar o dano, somente quando a priori existir um dever legal de agir. Caso haja esse dever, o seu não atendimento configura negligência, corolário lógico da culpa.
Por essas razões e por tudo o que mais foi explanado no decorrer deste estudo, defende-se que, em se tratando de conduta omissiva, é preponderante a comprovação do elemento culpa para que o Estado seja compelido a reparar o dano.
Cabe destacar aqui que o Supremo Tribunal Federal, apesar de conter ainda alguma divergência no que tange à aplicabilidade da responsabilidade civil subjetiva do Estado nos atos omissivos, possui grandes precedentes no sentido de admitir a faute du service quando se trata se responsabilidade por omissão.
Por fim, vale consignar que outro não é o entendimento alguns Tribunais Estaduais, como por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, de forma majoritária, têm admitido a responsabilidade civil subjetiva do Estado quando se trata de condutas omissivas.
REFERÊNCIAS
ANGHER, Anne Joyce. Vade Mecum Acadêmico de Direito. 10. ed. São Paulo: Rideel, 2007.
Autor desconhecido. Teoria da Formação do Estado. Disponível em http://www.coladaweb.com/geografia/teorias.htm. Acesso em 17 de outubro de 2008, às 08:45 horas.
AZAMBUJA, Darcy. Introdução à ciência política. 17 ed. São Paulo: Globo, 2005.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
BIONDI, Eduardo Abreu. Teoria da perda de uma chance na responsabilidade civil. Disponível em http://www.direitonet.com.br/artigos/x/39/88/3988/. Acesso em 13 de outubro de 2008, às 20:44 horas.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
BRASIL. Código civil. Lei 10.406. Disponível em www.presidencia.gov.br/cci06.htm. Acesso em 30 de outubro de 2008, às 15:00 horas.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em Disponível em http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1967/200.htm. Acesso em 25 de outubro de 2008, às 12:25 horas.
BRASIL. Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del0200.htm. Acesso em 18 de outubro de 2008, às 15:00 horas.
BRASIL. Decreto-lei 6.016/67. Disponível em www.assembleialegislativa.gov.br. Acesso em 25 de outubro de 2008, às 15:00 horas.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A comprovação da relação de causalidade. Recurso Extraordinário, Ag. Reg, 481.110-3, Rel.. Min Celso de Melo. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 16 de outubro de 2008, às 16:00 horas.
______________________________. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Ato omissivo do Poder Público. Responsabilidade subjetiva. RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, DJ 19.12.1996. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 01 de novembro de 2008, às 18:45 horas.
BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil subjetiva. Culpa publicizada. RE 382054RJ, Ministro Carlos Velloso, DJ 01.10.2004. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 01 de novembro de 2008, às 18:45 horas.
______________________________. REsp n. 205.268, de São Paulo, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28-6-99. Disponível em www.stj.gov.br. Acesso em 28 de outubro de 2008, às 07:00 horas.
_______________________________. Civil. Protesto indevido. Indenização. Dano morais. RESp 65127, 3ª Turma, Rel. Min Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/10/2005, p. DJ 05/12/2005. Disponível em www.stj.gov.br. Acesso em 25 de outubro de 2008, ás 15:00 horas.
_______________________________. REsp. 65.393-RJ, Min. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar e RESP 84.752-RJ, rel. Min Ari Pargendler, apud. CAVALIERI, Sérgio Filho. Programa de responsabilidade civil. 7 ed. Revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2007.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indenização. Acidente de trânsito. Atropelamento. Responsabilidade civil objetiva. Ap. Civ. 2.0000.00.500205-5/000, 16ª Cam civ. Brandão Teixeira. DJU. 10/11/2006. Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 16 de outubro de 2008, às 15:12 horas.
________________________________________________. Perda de uma chance. Probabilidade real. Situação de vantagem. Violação da boa fé objetiva. 5ª Cam Civ. Apelação nº 1.0024.05.700546-4/00, des. Rel. Selma marques, DJU 09/10/2008. Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2008, às 19:10 horas.
_________________________________________. 4ª Cam Civ. Apelação nº 0016.562.0562./001, des. Rel. Mercêdo Moreira, DJU 21.8.1991. Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 15 de outubro de 2008, às 15:45 horas.
_________________________________________. Ação de indenização. Responsabilidade civil do Estado. Apel. 1.0024.05.698493-3/001(1). 3ª Cam Civ. Des. Rel. Maurício Barros, DJU 17/10/2006. Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 15 de outubro de 2008, às 15:45 horas.
__________________________________________. Direito civil e administrativo. Indenização. Responsabilidade civil do Estado Apel. Civ. 1.0024.03.157796-8/001(1). 3ª Cam. Civ. Des. Rel. Maurício Barros. DJU 12/02/2008. Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 15 de outubro de 2008, às 15:45 horas.
__________________________________________. Ação de indenização. Responsabilidade civil do Estado. Apel. 1.0045.25.21551156/001(1). 5ª Cam Civ. Des. Rel. Levi Caetano DJU 12/022008 Disponível em www.tjmg.gov.br. Acesso em 15 de outubro de 2008, às 15:45 horas.
_________________________________________. Apelação Cível nº 1.0024.03.009941-0/001, Comarca de Belo Horizonte –MG, Julgado em 02/02/2006. Disponível em: www.tjmg.gov.br, acesso em 05/06/2008, às 14:00 horas.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ação de Indenização - Danos Morais -Erro médico. 17ª Cam Civ. Apelação nº 2007.001.12080 25-06-2008, des. Rel. Camilo Ribeiro Rulieri. Disponível em www.tj.rj.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2008, às 19:30 horas.
_________________________________________________. Ação de Indenização - Danos Morais -Erro médico. 1ª Cam Civ. Apelação nº 2007.001.16562.256, 01-04-2008, Des. Rel. Miriam Medeiros, Disponível em www.tj.rj.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2008, às 19:40 horas.
_________________________________________________. REsp 210351/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 25.09.2000. Disponível em www.stj.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2008, às 15:00 horas.
________________________________________________. REsp n.º 289885/RJ, 4.ª Turma, rel. o em. min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 02/04/2001. Disponível em www.stj.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2008, às 15:00 horas.
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 15 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2006.
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
CORREIA, Jadson Dias. Responsabilidade civil do Advogado. Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=662. Acesso em 11 de outubro, às 18:17 horas.
CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
DALARRI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria Geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 5 ed. Rio de Janeiro: forense, 1997.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 1993.
_________________. Da Responsabilidade Civil. v II. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
FARIA, Paulo Henrique. Teoria Geral do Estado. Disponível em http://br.geocities.com/alpharroba/tge5.htm. Acesso em 18 de outubro de 2008, às 16:40 horas.
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 56 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
GUIMARO, Orlando Junior. Responsabilidade civil – noções basilares e evolução histórica. Disponível em http: ufac.br/ensino/cursos/curso_direito/docs/uf. Acesso em 13 de outubro de 2008, às 20:49 horas.
GÓIS, Ewerton Marcus de Oliveira. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Disponível em http://www.escola.agu.gov.br/revista/Ano_VII_agosto_2007/respons_civil___ewerton Acesso em 02 de novembro de 2008, às 15:00 horas.
GUSMÃO, Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de janeiro: Forense, 2002.
HABERNAS, Jürgen. Direito e democracia – entre facticidade e validade I e II. Rio de janeiro: Tempo Universitário 102, 2003.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Teoria Geral do Estado I. Disponível em http://www.leonildoc.ocwbrasil.org/curso/estado2.htm. Acesso em 17 de outubro de 2008, às 15:20 horas.
LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
MAGALHÃES, Humberto Piragibe; MALTAS, Christovão Piragibe Tostes, apud, LEITE, Gisele. Considerações sobre o caso fortuito e a força maior. Disponível em: http://jusvi.com/artigos/20117. Acesso em 01 de novembro de 2008, às 17:40 horas.
MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MOURA, Caio Roberto Souto. Responsabilidade civil e sua evolução em direito ao risco no Novo Código Civil. Disponível em http: ////////www.ajufergs.org.br/revistas/rev02/01_artigo_resp_civil_em_dir_ao_risco_no_novo_cod_civil.pdf. Acesso em 18 de outubro de 2008, às 18:00 horas.
NUNES, Paulo Henrique Faria. Teoria Geral do Estado. Disponível em http://br.geocities.com/alpharroba/tge5.htm. Acesso em 18 de outubro de 2008, às 16:40 horas.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. V. III. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 10 ed. São Paulo, Atlas, 1998.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. V. III. São Paulo: Saraiva, 2003.
SANTIAGO, Juliano. Direito Administrativo: distinções e semelhanças entre as empresas públicas e as sociedades de economia Mista. Disponível em http://www.webartigos.com/articles/2776/1. Acesso em 26 de outubro de 2008, às 12:40 horas.
SCHIER, Paulo Ricardo, apud, GÓIS, Ewerton Marcus de Oliveira. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Disponível em http://www.escola.agu.gov.br/revista/AnoVIagosto/responsciviewerton. Acesso em 02 de novembro de 2008, às 15:00 horas.
SILVA, de Plácido e. Dicionário Jurídico. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 19 ed. Malheiros: São Paulo, 2001.
VENOSA, Silvio Salvo. Responsabilidade civil. V. 4. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003.
XIMENES, Thiago Pereira. Responsabilidade civil do estado por omissão no controle ambiental. Disponível em http://64.233.169.104/search?q=cache:7 Acesso em 14 de outubro de 2008, às 15:00 horas.
WIPIKEDIA, Enciclopédia Jurídica. Disponível em http://pt.wikipedia.org. Acesso em 17 de outubro de 2008, às 15:45 horas.
Data de elaboração: novembro/2008
Ludmylla Batista Rodrigues Gusmão
Bacharel em direito pelas Faculdades Integradas de Caratinga.Código da publicação: 1978
Como citar o texto:
GUSMÃO, Ludmylla Batista Rodrigues..A responsabilidade civil do Estado nas condutas omissivas. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 10, nº 530. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-civil-responsabilidade-civil/1978/a-responsabilidade-civil-estado-nas-condutas-omissivas. Acesso em 5 jul. 2009.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.