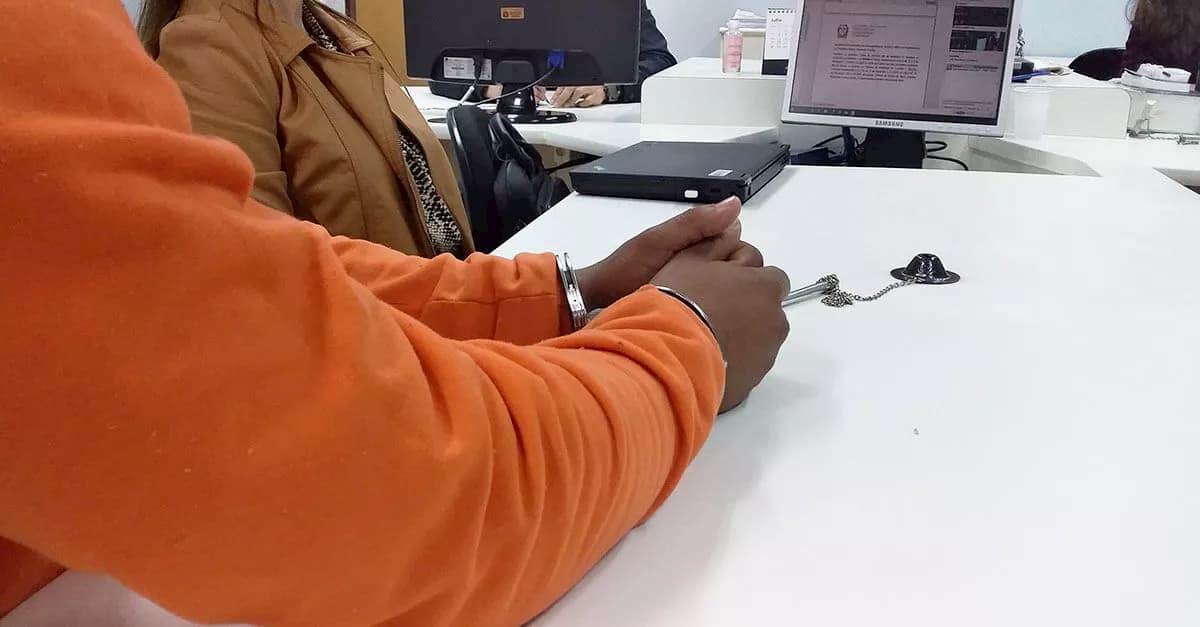Seja-me permitido, inicialmente, manifestar aos organizadores desse oportuno e memorável encontro os meus mais vivos agradecimentos(1) por essa honrosa oportunidade de, ao lado da pessoa ilustre e estimada do Ministro RUI ROSADO DE AGUIAR - a quem tanto admiro e louvo -, discorrer sobre tema tão interessante e atual e acerca do qual, conforme iremos verificar logo a seguir, existe igualmente alguma coisa de trágico.
Passo, em seguida, à exposição de nosso tema de hoje, qual seja, o relativo à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à atividade bancária, esforçando-me para não ultrapassar os 30 minutos regimentais que me foram concedidos.
Disse, há pouco, existir algo de trágico em nosso tema de hoje. Naturalmente, quis me referir, com todo o respeito, à exuberância da literatura helênica, à grandeza de suas tragédias...
Como é sabido de todos, supõe-se, em dado momento da narrativa, que os tormentos de um determinado personagem tenham chegado ao fim tantas que foram as desventuras por que ele já terá passado. De repente, quando supomos que a história está a terminar, somos surpreendidos por mais uma série implacável de acontecimentos ainda reservados para o nosso herói, seja ele um Odisseus, seja ele um Sísifo.
Não é muito diverso o que se passa com o nosso tema de hoje. Quando imaginamos que a matéria tenha ficado definitivamente resolvida, alguém com imaginação mais fértil do que a nossa, resolve reabrir o debate trazendo à colação um argumento até então não apresentado.
E assim como nós, do Judiciário, deveremos sempre apreciar todos os pontos do pedido, sob pena de serem interpostos embargos de declaração da decisão prolatada, pareceu-nos pertinente examinar esse novo argumento, ora introduzido no debate, ainda que nossa conclusão possa ser - e o é realmente - no sentido de sua completa impertinência...
Faço, preambularmente, um breve retrospecto desse problema relativo à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, em geral, e aos bancos, em particular.
Já terei perdido a conta, por certo, do número de vezes em que me manifestei sobre esse tema em oportunidades anteriores. Recordo-me da primeira delas, ocorrida em 1991, numa reunião ordinária do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca "Tullio Ascarelli".(2)
Recordo-me, também, da que foi feita no 2º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, em Brasília, em 1994.
Confesso ter cometido, em ambas as oportunidades, dois erros.
O primeiro desses erros terá sido inteiramente involuntário. Diante da disposição expressa do § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor;(3) ciente da circunstância de que as origens do direito do consumidor, em todo o mundo, acham-se visceralmente ligadas aos abusos cometidos por instituições financeiras contra seus clientes; ciente, ainda, de que os pareceres emitidos em sentido contrário, conquanto provenientes de respeitabilíssimos juristas, foram encomendados por famosa entidade de classe do Sistema Bancário, a Federação Brasileira das Associações de Bancos; ciente, também, de que os banqueiros são necessariamente considerados comerciantes,(4) seja pelo disposto no artigo 119 do Código Comercial(5) de 1950, seja pelo que está expresso no § 1º do artigo 2º da Lei 6.404, de 15.12.76,(6) seja, ainda, pela abundante doutrina(7) a respeito de tal qualificação - e, portanto, devem os mesmos ser tidos indisputavelmente como fornecedores, tanto pela definição do caput do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor como pela retroaludida disposição do § 2º desse mesmo artigo 3º expressa à atividade bancária - jamais tendo sido contestada por algum tratadista essa qualificação de comerciante ao banqueiro; ciente, enfim, de que algumas noções propedêuticas de Hermenêutica Jurídica recomendam evitar todo o tipo de interpretação que possa conduzir ao absurdo,(8) julguei que não seriam necessárias longas digressões para o exame da matéria e sintetizei sobremaneira o relatório apresentado na ocasião, em virtude mesmo do pouco tempo de que dispus para fazê-lo.
Embora a deliberação do plenário do Instituto(9) tenha sido unânime no sentido da aprovação das conclusões a que cheguei, não tive a preocupação, na verdade, de me entregar a maiores aprofundamentos doutrinários sobre o tema. Julguei, em suma, que a matéria logo viria a pacificar-se.
O segundo erro cometido, também de perspectiva, foi conexo com o primeiro. Julguei, na palestra proferida em Brasília durante o 2º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, relativa à chamada cláusula-mandato, que essa questão preliminar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à atividade bancária já tivesse "transitado em julgado", não no sentido processual da expressão, com pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre a matéria, conforme assinalei na oportunidade, mas na impressão de que as tentativas de subtrair a atividade bancária, em particular, e a atividade financeira, em geral, do âmbito da disciplina normativa representada pela Lei 8.078, de 11.09.90, tivessem sido abandonadas...
Julguei que, inexistindo esse tipo de dúvida em países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha - para ficar apenas em alguns exemplos -, não se poderia insistir numa tentativa tão desprovida de fundamentos, quer de ordem jurídica, quer de ordem econômica ou social.
Posteriormente a essas manifestações, porém, soube-se que o Ministério Público de alguns Estados de nossa Federação encontraram óbices no cumprimento de seus deveres constitucionais e legais.
Voltei, então, novamente ao tema,(10) talvez com maior vigor, para tentar esclarecer, perante a opinião pública, as razões em que se funda o movimento de alguns na organização da resistência ao princípio constitucional da proteção ao consumidor em nosso país.(11)
Um dos equívocos em que se baseiam os adversários dos consumidores em nossa pátria reside numa distinção doutrinária - aliás indubitável - entre operações e serviços de banco. Sustenta-se, com ênfase desnecessária, que existem algumas normas no Manual de Normas e Instruções do Banco Central - MNI disciplinando serviços bancários e que existem outras, no mesmo Manual de Normas e Instruções do Banco Central, regulando as operações bancárias, divididas estas últimas, como todos sabem, em ativas e passivas.
Não parece necessária a invocação de normas regulamentares, porém, para provar a existência da conhecida distinção. Com efeito, a própria Lei 4.595, de 31.12.64, ao cuidar do sigilo bancário, em seu artigo 38, já deixara clara essa dicotomia.
A intenção do raciocínio é bem evidente: se há operações, de um lado, e se há serviços, de outro, e se o Código de Defesa do Consumidor, ao aludir à atividade bancária, fê-lo tão-somente em relação a serviços, o mesmo não teria aplicação aos bancos no que se refere às operações praticadas por estes.(12)
O argumento tenta reforçar-se com a consideração de que o produto oferecido pelos bancos em suas operações - o dinheiro - não poderia ser objeto de consumo, não penetrando, assim, no âmbito da disciplina tutelar do Código, que apenas abrange o universo das chamadas relações de consumo. Se o tomador do empréstimo não pode ser considerado destinatário final - de conformidade com um dos conceitos de consumidor estabelecido pelo Código - não poderia ele, nessa linha de argumentação, ser qualificado como consumidor, para efeitos de gozar da proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor.
A fragilidade de tais ponderações é, no entanto, transparente.
Em primeiro lugar, parece necessário relembrar que o dinheiro, segundo o Código Civil,(13) é considerado um bem juridicamente consumível.
Diz-nos a respeito o nosso grande Clóvis Beviláqua:(14)
"A distinção funda-se numa consideração econômico-jurídica. Há coisas que se destinam ao simples uso, outras ao consumo do homem. Das primeiras tiramos as utilidades, sem lhes destruir a substância; as segundas destroem-se, imediatamente, à medida que se utilizam, ou aplicam.
As coisas consumíveis ou o são de fato, naturalmente, como os gêneros alimentares, ou, juridicamente, como o dinheiro e as coisas destinadas à alienação..." (grifos do próprio autor).
Seria despiciendo, por certo, o esforço de citação dos autores que versaram sobre essa matéria para uma conclusão tão inquestionável.
Passemos, pois, ao segundo ponto. Talvez seja prudente insistir numa idéia bastante simples - mas ainda, quiçá, não de todo compreendida - de que a Lei 8.078 não forneceu apenas um conceito de consumidor. Haverá, para os efeitos da proteção estabelecida pelo Código, muitos outros tipos de consumidores que jamais serão qualificados como destinatários finais. Vamos tomar um exemplo simples, pedindo escusas, evidentemente, por parecer excessivamente didático.
Nunca consumi cigarros durante minha vida e nem pretendo fazê-lo. Mas isso não significa que eu não seja consumidor, para os efeitos de gozar da proteção do Código, se me considerar atingido por uma publicidade enganosa eventualmente promovida por algum fabricante de cigarros. Não sou consumidor intermédio, nem tampouco final. Mas a minha pretensão estaria amparada pelo artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, como se sabe, estabeleceu quatro diferentes conceitos de consumidor, de conformidade com o caput do artigo 2º, o parágrafo único desse artigo, o artigo 17 e o artigo 29. O exemplo tem inteira aplicação aos bancos. Se um banco resolve, por exemplo, promover um anúncio na Televisão alegando que está promovendo empréstimos sem a cobrança de juros e de IOF, alguém sustentaria, por acaso, que esse banco não estaria violando o § 1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor? No que aproveitaria, em tal caso, a alegação de que o tomador do empréstimo não é um colecionador de moedas ou que, no caso, se trata de uma operação bancária e não de um serviço bancário?
O argumento poderia parecer decisivo, à primeira vista, para enquadrar os bancos na possibilidade de lhes ser aplicado o Capítulo V do Código e não os demais capítulos. Mas é claro que, com as ressalvas que indicaremos adiante, também outros capítulos ser-lhes-ão aplicáveis, dependendo, é claro, de haver ou não consumidores - em qualquer um dos sentidos existentes no Código de Defesa do Consumidor - no outro lado das relações jurídicas que se estabelecerem entre as partes.
Tome-se, agora, o contrato de mútuo. Trata-se de uma operação e não de um serviço, é claro. Poderia ele conter, por exemplo, uma cláusula segundo a qual a taxa de juros pactuada entre as partes sofreria elevação diária, a critério exclusivo do mutuante, na hipótese de o balanço patrimonial do banco acusar pequena queda no percentual de lucratividade, sem que se ferisse algum dos incisos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente os de número IV, X, XIII e XV?
Ou, numa hipótese ainda mais absurda, poderia o contrato celebrado por um banco estabelecer que o pagamento, na hipótese de atraso, por parte do mutuário, seria feito obrigatoriamente de joelhos diante do gerente da agência, sem que se conspurcasse o artigo 71 do Código?(15)
Já dizia ANTONIO CANDIDO - esse grande mestre de nossas Letras recentemente agraciado com o prêmio Camões de Literatura - que nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la.(16) É claro que não me passa pela cabeça a idéia, nem mesmo remotamente, de que algum banco de nosso país possa praticar ato de tal jaez.
É igualmente claro, por outro lado, que todas essas considerações que faço estão desenvolvidas a título meramente preliminar, apenas com o propósito de rechaçar essas idéias preconcebidas de estabelecer a não aplicabilidade ou, de outro lado, a aplicabilidade absoluta. Equivocam-se, na verdade, uns e outros. Não se escapa, com efeito, de analisar as situações caso a caso.
Daí serem necessárias, a meu ver; algumas precisões complementares.
Uma dessas precisões diz respeito às formas pelas quais se pode dar o crédito ao consumidor. Imaginemos o consumidor diante da loja que lhe vende o produto em prestações diretamente, isto é, sem a intermediação de um banco. Estamos diante de um contrato de compra e venda, inserido nas relações de consumo, e nenhuma dúvida se põe quanto à sujeição de tal contrato às normas do Código de Defesa do Consumidor.(17) Quer seja uma compra e venda a prazo, quer seja uma compra e venda conjugada a um contrato de mútuo, quer exista a alienação fiduciária ou não do produto negociado, consumidor e fornecedor estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Todas as divergências surgidas entre eles, seja em relação ao produto, seja em relação ao financiamento, serão resolvidas com as normas do Código.
Imagine-se, agora, se o financiamento é feito não diretamente pelo fornecedor do produto e sim por uma instituição financeira. É evidente que o contrato de compra e venda do produto diz respeito ao fornecedor e ao consumidor. Eventual vício do produto, por exemplo, será de responsabilidade do fornecedor e não da instituição financeira que celebrou o contrato de mútuo com aquele consumidor. Mas é igualmente evidente que esse contrato de mútuo entre o consumidor e a instituição financeira também se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. É ainda igualmente claro que os eventuais problemas que esse contrato de mútuo possa ter não dirão respeito ao fornecedor do produto.(18)
Servem tais considerações para demonstrar a impropriedade de todos esses raciocínios tendentes a afirmar categoricamente quer a não aplicabilidade aos bancos das normas do Código de Defesa do Consumidor, quer a sua plena aplicabilidade, independentemente de considerações adicionais. O banco é, à luz do Código de Defesa do Consumidor, um fornecedor. E não é apenas um fornecedor de serviços. Ele é, igualmente, um fornecedor de produtos (o dinheiro). Mas isso não significa que as normas do Código de Defesa do Consumidor ser-lhe-ão sempre aplicáveis. Os contratos por ele celebrados poderão não ser considerados relações de consumo, mas não por causa de ser o tomador do dinheiro um eventual colecionador de moedas (?), mas sim pela boa razão de que a relação de consumo depende de dois sujeitos: o fornecedor e o consumidor. Se o banco realiza contratos com partes que não poderão ser consideradas consumidores, sua disciplina jurídica não será afetada pela legislação consumerista.
Vamos tomar, por exemplo, os empréstimos efetuados junto aos bancos por empresários. Imagine-se uma rotineira operação de desconto de duplicatas. Aqui sim tem sentido dizer que se trata de uma operação bancária destinada à produção ou ao consumo intermédio. A prevalecer a teoria finalista(19) - que nos parece claramente a mais acertada em matéria de Direito do Consumidor -, o aspecto teleológico da proteção ao Código se sobrepõe aos demais. Quer isso dizer que os empresários, salvo raras exceções,(20) não se acham albergados pela legislação tutelar, não obstante a definição de "consumidor", constante do caput do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que, com a expressão "pessoa jurídica", contemplou a possibilidade de os empresários, quando destinatários finais, serem também abrangidos pela proteção.
Embora não se duvidasse que outras considerações ainda pudessem ser trazidas à colação, tanto a doutrina quanto a jurisprudência foram se encarregando de espancar as dúvidas porventura subsistentes sobre a matéria, bastando lembrar a respeito - e temos à nossa mesa a ilustre figura do eminente Ministro RUI ROSADO DE AGUIAR, que exporá exatamente acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o Código de Defesa do Consumidor e me corrigirá, por certo, se eu estiver cometendo alguma impropriedade... - os julgados de nossos Tribunais e, em especial, do Superior Tribunal de Justiça.
Quando essa questão parecia estar definitivamente apaziguada, novo argumento foi levantado pelos adversários da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos.
Tal argumento - absolutamente improsperável, a meu ver - pretende basear-se numa suposta questão de hierarquia de leis. Em síntese grosseira, essa nova argumentação poderia ser exposta da seguinte forma.
O caput do artigo 192 da Constituição Federal estabeleceu que o sistema financeiro nacional, entre outras coisas, seria regulado em lei complementar. Essa lei complementar, como se sabe, não foi promulgada até hoje, sendo de interrogar-se, portanto, se as Leis 4.595, de 31.12.64 - alcunhada de Lei da Reforma Bancária - e 4.728, de 14.07.65 - conhecida por Lei do Mercado de Capitais - teriam sido ou não recepcionadas pela atual Constituição de 1988.
Existindo consenso no sentido de que tais leis foram, efetivamente, recepcionadas pela atual Carta Magna, teriam elas o status de lei complementar, a qual, segundo o artigo 59 desse nosso Texto Supremo (inciso II), estaria hierarquicamente superior às leis ordinárias (inciso III), sendo o Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078, de 11.09.90 - uma simples lei ordinária.
Nessa ordem de idéias, não poderia essa lei ordinária dispor sobre atividade que, constitucionalmente, estivesse reservada exclusivamente ao âmbito de uma lei complementar.
Passemos, então, a um singelo exame dessa argumentação que, na verdade, muito me agradou. Sei que tal afirmação poderia, a princípio, mais parecer um paradoxo para quem tem procurado defender com firmeza - mas sempre acompanhado da indispensável serenidade - os direitos do consumidor no Brasil. Agradou-me, sim, porque ela nos revela e nos propõe uma interessante reflexão acerca do que é visível e do que é invisível para certas pessoas.
Poder-se-ia observar, a título liminar, que se vê demais quando se afirma que a atividade disciplinada por uma lei complementar não pode ser afetada por uma lei ordinária. A lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária - ninguém, por certo, o discutirá -, mas isso não significa que não possam ambas conviver no contexto geral da ordenação jurídica.
Diz-nos a respeito o Professor ROQUE ANTONIO CARRAZZA: (21)
"Como, em termos estritamente jurídicos, só podemos falar em hierarquia de normas quando umas extraem de outras a validade e a legitimidade (Roberto J. Vernengo), torna-se onipatente que as leis nacionais (do Estado brasileiro), as lei federais (da União) e as leis estaduais (dos estados-membros) ocupam o mesmo nível, vale consignar, umas não preferem às outras. Realmente, todas encontram seu fundamento de validade na própria Carta Magna, apresentando campos de atuação exclusivos e muito bem discriminados. Por se acharem igualmente subordinadas à Constituição, as várias ordens jurídicas são isônomas, ao contrário do que proclamem os adeptos das doutrinas tradicionais.
Observamos que as leis nacionais - que encerram normas de caráter geral, obrigando súditos da Federação e as próprias pessoas políticas - tanto podem ser veiculadas por meio de leis ordinárias (como se observa no inciso XXVII do artigo 22 da Constituição Federal, que remete à União competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contatos) ou de atos normativos de igual tope jurídico (verbi gratia, uma Resolução do Senado fixando alíquotas máximas do ICMS, nas operações internas, ou um decreto legislativo, referendando um tratado internacional), quanto por via de leis complementares (exempli gratia, a prevista no artigo 146 da Carta Magna)".
Diz-nos, igualmente, Reinaldo Pizolio Júnior: (22)
"O importante a ser considerado para a convivência harmônica e pacífica de ambos não é a subordinação da lei ordinária para com a complementar e sim o respeito que reciprocamente deve haver entre as mesmas no que concerne à esfera privativa própria de atuação de cada uma.
Com efeito, se ambas as espécies legislativas têm campo próprio de atuação (como de fato o têm) e se tanto a lei complementar quanto a lei ordinária respeitam mutuamente os limites de cada um destes campos (de tal forma que não vá dispor sobre matéria que compete à outra, não havendo, portanto, invasão), é forçoso reconhecer que pouco importa que haja relação de subordinação entre elas e que tais campos encontrem-se em mesmo nível hierárquico".
E complementa o autor linhas adiante: (23)
"Importa que o legislador ordinário saiba que não poderá tratar normativamente de determinado tema de modo diverso pois estará ingressando em campo de atuação que é reservado privativamente ao legislador complementar e, sendo assim, ao dispor sobre matéria inserida neste campo, não poderá fazê-lo contrariando a dita lei complementar, não porque esta lhe é superior, mas sim porque detém a exclusividade para dizer normativamente neste campo de atuação.
Assim sendo, e para finalizar, acreditamos que a lei ordinária que venha a tratar de maneira diversa, de matéria afeta à lei complementar, vale dizer, de matéria cujo tratamento foi reservado à norma complementar por força de dispositivo constitucional não estará eivada de ilegalidade por ter, em tese, desobedecido outra lei que lhe é hierarquicamente superior. Ao revés, padecerá de vício de inconstitucionalidade, por invasão de competência, na medida em que pretendeu regular de modo diverso matéria cujo tratamento somente é admitido pela espécie legislativa lei complementar, nos termos previstos pela Constituição Federal".
Também o Professor JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES - que escreveu todo um volume sobre essa questão (ainda que aplicada ao direito tributário) - foi incisivo ao afirmar que não existe esta superioridade formal entre leis complementares e leis ordinárias, posto que cada uma atua em campos jurídicos distintos, não existindo interpenetração de competências legislativas: (24)
"Não se nega a procedência da afirmação de que a lei ordinária não pode revogar a lei complementar. Todavia, partindo dessa afirmação não é possível a conclusão pela superioridade formal da lei complementar porque a recíproca é verdadeira: a lei complementar não pode revogar a lei ordinária.
E não pode em virtude basicamente de dois argumentos: 1º) os campos da lei complementar e da lei ordinária em princípio não se interpenetram, numa decorrência da técnica constitucional de distribuição ratione materiae de competências legislativas; 2º) a superveniência da lei complementar somente suspende ou paralisa a eficácia da lei ordinária, em casos excepcionais...".
Assim, vêem demais aqueles que, por defenderem a hierarquia superior da lei complementar sobre a lei ordinária, inferem que sua coexistência seja impossível, implicando a sobrevivência da primeira em detrimento da segunda.
Vê-se de menos, por outro lado, quando não se percebe que essa argumentação tenta provar muito mais do que, na verdade, pretende. Nunca ninguém questionou, por exemplo, a plena aplicabilidade da Lei 6.404, de 15.12.76, às instituições financeiras. Sendo estas, por força de lei, constituídas obrigatoriamente sob a forma de sociedades por ações, sempre se entendeu e se entende que os bancos estão sujeitos a ela...
Se os bancos abrem seu capital, por exemplo, hão de sujeitar-se às normas existentes sobre as sociedades abertas, sejam elas provenientes da retro-referida Lei 6.404 ou da Lei 6.385, ou, ainda, da Comissão de Valores Mobiliários.
Os bancos sujeitam-se, igualmente, às normas tributárias não necessária e exclusivamente previstas no Código Tributário Nacional - que, como se sabe, foi recepcionado como lei complementar - mas também àquelas que se originam de leis ordinárias como, por exemplo, as que regulam a matéria do imposto sobre a renda.
É claro que os exemplos poderiam ser multiplicados, mas sua continuação já seria, positivamente, uma verdadeira afronta à inteligência da seleta platéia que superlota este auditório.
Prefiro encerrar dizendo, pura e simplesmente, que há sempre, em nossas vidas, o visível - que, às vezes, não se quer ver - e o invisível - que só se vê porque se deseja fazê-lo -, sendo tudo, na ordem das coisas, uma questão de saper vedere, como diria LEONARDO...
Agradeço a todos pela paciência com que me ouviram.
(*) Texto básico da palestra proferida em Salvador, em 30.07.98, no painel sobre o Código de Defesa do Consumidor, realizado em conjunto com o Ministro Rui Rosado de Aguiar, por ocasião da Semana de Altos Estudos promovida pela Escola Nacional da Magistratura e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
NOTAS
(1) Em particular, não poderia deixar de sublinhar essa minha gratidão ao eminente Ministro Sálvio de Figueiredo, ao Desembargador Castro Filho, de Goiânia - que preside este painel -, ao Desembargador Jatahy Fonseca, à Desembargadora Fátima Nancy Andrighi, à Juíza Eliana Calmon e demais companheiros aqui da Bahia, que nos acolheram com calor humano inesquecível.
(2) Conforme artigo O Código de Defesa do Consumidor: discussões sobre o seu âmbito de aplicação, publicado na Revista de Direito do Consumidor 6/61 et seq. e na RDM 85/81 et seq.
(3) Diz esse parágrafo: "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".
(4) Ou, mais propriamente, empresários, segundo a moderna teoria da empresa, pedra angular do direito comercial contemporâneo.
(5) Diz esse artigo: "São considerados banqueiros os comerciantes que têm por profissão habitual do seu comércio as operações chamadas de Banco". E o artigo 120 ainda completa: "As operações de Banco serão decididas e julgadas pelas regras gerais dos contratos estabelecidos neste Código, que forem aplicáveis segundo a natureza de cada uma das transações que se operarem".
(6) Diz o parágrafo: "Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio".
(7) Relembremo-nos, apenas, de Carnelutti que, em sua Teoria giuridica della circolazione, partindo da consideração de que o comerciante exerce função intermediária na circulação de bens, fazia a seguinte classificação do comerciante: mercador, na troca; banqueiro, no crédito; empresário, no trabalho; segurador, no risco.
(8) Sustentamos, com efeito, o absurdo a que chegaria se se entendesse inaplicável a Lei 8.078 à atividade bancária: os contratos celebrados pelos bancos poderiam, por exemplo, conter as cláusulas mais abusivas, violando escancaradamente um ou até todos os incisos do artigo 51 do Código sem que houvesse alguma conseqüência para tal procedimento. Os bancos poderiam, nessa mesma linha de raciocínio, veicular a mais enganosa ou abusiva forma de publicidade e nada lhes aconteceria posto que a eles não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor e assim por diante...
(9) Refiro-me à reunião ordinária do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli, realizada em 09.10.91.
(10) Palestra proferida em 24.10.95, por ocasião do encerramento do I Seminário Brasilcon sobre o Código de Defesa do Consumidor. Teoria - Prática e Jurisprudência, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, posteriormente publicada no livro Direito do consumidor - Aspectos práticos - Perguntas e respostas (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Biblioteca de Direito do Consumidor, volume 10, página 143 et seq.). Estamos nos valendo, neste breve retrospecto histórico, desse último texto publicado.
(11) Não caberia nos limites dessa nossa palestra enfrentar a discussão relativa à atuação do Ministério Público no que se refere ao chamado controle administrativo das cláusulas gerais dos contratos de adesão, a partir do veto presidencial tanto ao § 3º do artigo 51 como ao § 5º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, ambos com idêntica fundamentação. Antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, manifestei-me contrariamente à subsistência desse § 5º do artigo 54 por entender que, não obstante toda a competência atribuída ao Ministério Público, tanto em sede constitucional (artigo 129) quanto no âmbito da ação civil pública (Lei 7.347, de 24.07.85), não poderia ser retirada do Poder Judiciário sua atribuição de julgar, por via da ação declaratória, a interpretação de uma cláusula contratual constante do "formulário-padrão". Estranhamente, a meu ver, o Ministério Público seria levado à condição de réu, parecendo-me, em princípio, procedente o veto presidencial. Tal conclusão, todavia, não implica negar a possibilidade de o Ministério Público, a exemplo do que já vem fazendo o do estado de São Paulo, exercer o controle sobre as cláusulas abusivas com base no § 1º do artigo 8º da retro mencionada Lei 7.347/85, com a nova redação que lhe deu a Lei 8.078/90. Conforme, a propósito, o magistério do Professor Nelson Nery Júnior (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. página 368 et seq., 387-388), onde a matéria é analisada em maior profundidade.
(12) É claro que, para ser possível o entendimento de tal raciocínio, é preciso um certo esforço de imaginação para entender, por exemplo, por que as informações adequadas sobre o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros a que tem direito o consumidor (conforme inciso II do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor) só se aplicariam ao consumidor que obtivesse o crédito direto do fornecedor e não na hipótese de ser o mesmo obtido em algum banco. Seria preciso, igualmente, na leitura do caput do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, imaginar, com alguma dose de extravagância de espírito, que as alienações fiduciárias em garantia ali referidas seriam algum outro tipo de contrato que não aqueles corriqueiramente celebrados pelas instituições financeiras do país e assim por diante...
(13) Conforme artigo 51, que trata das coisas consumíveis.
(14) Código Civil comentado. Francisco Alves, 1956. Volume 1, página 226.
(15) Diz o artigo 71: "Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer". Embora, como já vimos acentuando há muito tempo, haja um evidente defeito na colocação desse advérbio "injustificadamente" - que deveria estar no final da frase ou logo após o verbo interferir -, tenho a impressão de que a exigência imaginada no texto principal seria considerada desarrazoada até mesmo para o mais ardoroso defensor da desigualdade humana e da exploração do homem pelo homem que, infelizmente, conheci em minha vida...
(16) Literatura e sociedade. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967. página 3. Diz esse autor, logo em seguida, que também nada "é mais perigoso, porque um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria de erro, até que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo, sem desfigurá-la de um lado nem de outro". É o que estamos tentando fazer aqui e agora...
(17) Como tenho afirmado, não se pode dizer, a priori, se a compra e venda está disciplinada pelos Código Civil, Comercial ou do Consumidor. Dependerá das partes envolvidas nos diferentes pólos da relação jurídica para definir-s
Newton de Lucca
Mestre e Doutor Livre-Docente e Adjunto em Direito pela Faculdade de Direito da USP e Juiz do TRF da 3ª RegiãoCódigo da publicação: 120
Como citar o texto:
LUCCA, Newton de..A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à atividade bancária. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 31, nº 1. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-do-consumidor/120/a-aplicacao-codigo-defesa-consumidor-atividade-bancaria. Acesso em 10 fev. 2000.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.