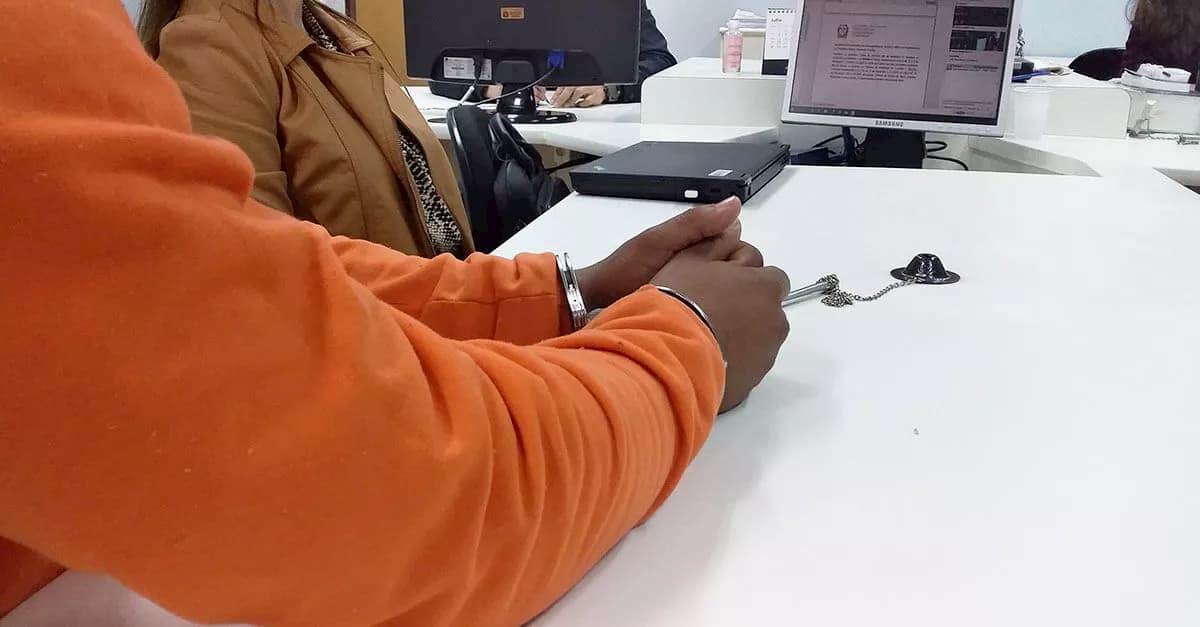No vasto e importante debate que nas últimas décadas se abriu em torno ao problema da interpretação jurídica, nenhuma teoria específica da interpretação logrou reivindicar para si um papel exclusivo. Sem embargo, não há dúvida de que no fascinante ciclo cultural que viu a interpretação, em poucos anos – desde a publicação, se desejamos indicar uma data, de Verdade e Método de Gadamer – converter-se certamente em um dos temas objeto de maior interesse e de mais ampla confrontação teórica, jogou um papel de primeira importância a nao comum capacidade atrativa e, ao mesmo tempo, a flexibilidade com que a hermenêutica filosófica funcionou, ora como polo atraente, ora como elemento de contraposição com posições filosóficas diferentes ou inclusive contrárias ao programa teórico que a mesma sustenta.
Com sua tese da inseparabilidade do conhecer e o interpretar e do interpretar e o aplicar, e da incidência da interpretação na realidade mesma que haverá de interpretar-se, ou seja, da construtividade do interpretar, a hermenêutica acabou por abrir caminho a uma ampla gama de ricas e originais reconsiderações teóricas dos temas do compreender, do interpretar, do aplicar, do significado e da linguagem, aproximando âmbitos distintos do saber.
Muitos e importantíssimos são os problemas levantados e discutidos no âmbito desta abertura de novos itinerários intelectuais propiciados pela centralidade do tema interpretação, no qual, por sua vez, a interpretação jurídica – inclusive graças a um novo despertar da consciência hermenêutica dos juristas, depois de que durante todo o século XIX e boa parte do XX o modelo do bom legislador havia prevalecido claramente sobre o modelo do bom intérprete – foi convertida no ponto cardinal da evolução jurídica.
A teoria hermenêutica do direito deu passoas de gigante no século XX, propiciando uma indubitável aproximação entre momento normativo e momento interpretativo-aplicativo. Mas se há um em particular do qual parece haver despertado maior interesse e cuidadosa atenção, certamente este está representado pelos limites da interpretação, em virtude da cada vez mais clara necessidade de precisar e redefinir os limites intrínsecos e estruturais próprios da atividade interpretativa e dos processos de tomada de decisão.
Por outra parte, é evidente que o problema dos limites da interpretação, proposto também pelas teorias semióticas da interpretação jurídica, pode ser afrontado de diferente maneira e desde distintos pontos de vista: interrogando-se, por exemplo, acerca de se a interpretação está sujeita a vínculos e, em caso de resposta positiva, esclarecendo quais são estes; ou perguntando-se se o conceito mesmo de interpretação deve ser delimitado; ou bem se é oportuno restringí-lo preventivamente, dissociando-se de um modo de entendê-lo (por outro lado, muito difundido) que o dilata, pressupondo em última análise que tudo é interpretação.
Mas limitar o conceito de interpretação implica que o homem esteja disposto existencialmente a aceitar a limitação que lhe é própria, essa estrutura da finitude e da limitada racionalidade que ele tem que considerar seriamente. Sem embargo, não é difícil entender que o fato de que este tema se apresente hoje como central é o preciso efeito da fortuna mesma da problemática da interpretação, de seu extraordinário êxito e da ampla difusão de que goza em nossas sociedades pluralistas. Perdidas hoje, definitivamente, aquela homogeneidade de valores e aquela comunidade de ethos e de bens compartidos nos quais se baseava a idéia de uma objetividade e de uma certeza dos resultados da atividade interpretativa – e, portanto, não se podendo já propor, por seus excessos de unilateralidade, a concepção juspositivista do direito – se foram impondo paulatinamente o relativismo e o conflito das interpretações .
Não obstante, frente à tentação difundida e recorrente, que pretende sugerir que nada há mais que interpretações, não poderiam deixar de surgir imediatamente a exigência urgente de interpretações corretas. Com efeito, em contextos fortemente pluralistas e maculados pelo virótico episódio relativista está sempre presente o perigo concreto de que a interpretação resulte subjetiva e arbitrária, expressão de instâncias e valores que, em lugar de aceitar a fatiga de uma articulada confrontação intersubjetiva, tendem irresistivelmente a impor-se, ainda que carentes de adequadas motivações. Neste caso, a justiça se vê reduzida a uma formalidade virtualmente desprovida de significado e conteúdo, e o direito, resultado de uma incontrolável arbitrariedade da interpretação, intrinsecamente injusto.
Vamos então, a partir de agora – no quadro da problemática a que se pretende aludir –, tratar de trabalhar especificamente na dilucidação de uma questão fundamental. Vamos começar por tomar posição relativamente à condenação da velha concepção do juiz inerte e meramente reprodutor de comandos normativos e da jurisdição como atividade estritamente vinculada, porque fiadora da certeza do direito e da segurança dos cidadãos.
Muitas das soluções defendidas no seguimento desta exposição que vai decorrer hão de necessariamente ser a conseqüência de certa atitude – da nossa atitude – relativamente a esse problema mais geral de que no caso só se trate de fazer uma concreta e problemática interpretação, justificação e aplicação do direito .
E não parece despropositado que isto mesmo se mostre através de uma análise como esta. Para começar, diremos que nossa proposta de trabalho parte das seguintes indagações: será admissível deixar ao juiz certa margem de liberdade para ajuizar, na sua tarefa interpretativa, o sentido e o alcance dos enunciados normativos? E justamente em que medida isso será admissível ou aconselhável, nomeadamente no que diz respeito ao processo de tomada de decisão, em concreto?[2]
Regra geral, ao tratar-se do tema, é comum analisá-lo tendo em conta três questões, dirigidas tanto ao direito como ao operador jurídico: pela primeira, pergunta-se diretamente pelo fundamento, pela validade do direito, enquanto tal; em outra, interroga-se sobre a função humano-social do jurídico; e, finalmente, a última das questões põe-nos perante o seu problema metodológico. Assim, pois, o operador do direito terá um papel a desempenhar e desempenhá-lo-á bem, se o direito for uma estratégia (e uma intenção) sócio-adaptativa válida que ele assuma na sua verdadeira e indispensável dimensão humano-social, para realizá-lo em termos metodologicamente adequados (Atahualpa Fernandez, 2002 e 2006).
Pois bem, o objetivo imposto pela natureza deste artigo força-nos a restringir o campo de reflexão apenas a seguinte questão: aquela que nos leva a refletir sobre o papel a ser desempenhado pelo operador do direito em vista da (metodológica) função humano-social do jurídico. Para tanto, deslocaremos o nosso núcleo de análise daquele sempre invocado tipo de operador em que ele se manifesta como o sempre “racional” racionalizador do social e do jurídico mediante esquemas transacionais impostos à ação, os quais (esquemas) quando não cedem à tentação do dogmatismo puramente sistemático, teleológico e formalizante, constroem um demi monde descomprometido com as opções sobre os fins últimos do direito e muito aquém do real.
Nesse particular, nosso objetivo é situar o problema da interpretação jurídica no papel a ser desempenhado pelo mesmo junto ao indivíduo-cidadão, na busca daquele intermédio “mundo jurídico” sustentado no ponto de equilíbrio, ou pela conciliação tentada, entre a igualdade, a liberdade e a fraternidade, a estabilidade e a transformação, a certeza e a justiça. Afinal, o grande problema da época contemporânea já não é tanto o da convicção ideológica, das preferências pessoais, do subjetivismo inconsistente ou das convicções íntimas do juiz, enquanto mediador.
É o de que o cidadão (ou se se preferir, do cidadão enquanto tal, como indivíduo plenamente livre, dono ou senhor de si mesmo – segundo a célebre fórmula do direito romano, recuperada pelo republicanismo moderno), destinatário do provimento, do ato imperativo do Estado, que no processo jurisdicional é manifestado pela decisão, possa participar de sua formação e de eficazes (adequados e acessíveis) medidas de controle, com as mesmas garantias e em simétrica igualdade de oportunidades, podendo compreender por quê, como, de quê forma e com que limites o Estado atua para resguardar e tutelar direitos, para negar pretensos direitos, para impor obrigações e assegurar o cumprimento de deveres. Em síntese, é tornar efetiva a famosa “eterna vigilância cidadã ” republicana, que trata de evitar que o abuso de autoridade por parte dos magistrados rompa os vínculos da igualdade cidadã e degrade a res publica a imperium.
Como haveremos nós, pois, de chegar à pretendida noção de racionalidade, de correção da decisão prática ou de compromisso ético relativamente à aplicação das normas jurídicas que, em sua quase totalidade, apresentam uma conformação normativo-material fragmentária e fracionada? Em termos mais simples, como se pode obter a racionalidade ou correção da compreensão constitutiva de toda possível decisão jurídica? Como limitar a atividade interpretativa sem dissimular ou jugular a iniludível subjetividade que a caracteriza?
Estamos nítida e permanentemente em face de uma situação que impede considerar que a norma positiva escrita seja, sem mais, o direito, que a lei seja uma normação autosuficiente sobre a qual caiba um conhecimento objetivo e a partir do qual a aplicação seja uma mera subsunção. Aliás, característica específica do direito é, justamente, a circunstância de que o texto do enunciado normativo não “contém” completamente a normatividade, não encerra um único e dominante sentido do texto; e, sem embargo, transmite uma intenção normativa potencialmente vinculante que exige uma prestação ativa por parte de quem concretiza o direito.
Será então que, para efeito da tarefa interpretativa a que estamos nos referindo, devemos socorrer-nos de conceitos construídos pelos processos da lógica formal e da hermenêutica tradicional? Ou deveremos antes pretender interpretar a norma por outros processos, e só depois construir, sobre as soluções assim obtidas, conceitos que sejam apenas suas vias idôneas de formulação? E mais: em face da noção aberta e indefinida dos enunciados normativos – que por tanto tempo onerou, e onera ainda, a tarefa (ou atividade) interpretativa dos juristas –, qual deverá ser a nossa atitude, ou seja, nossa tarefa metodológica?
Ora, perguntar tudo isto é perguntar coisas sobre as quais somente pode dar uma resposta quem previamente haja tomado posição acerca de uma ontologia jurídica que vê o direito como um objeto em permanente devenir, em contínua (auto) recriação, em dependência da atividade de um operador que é, ao mesmo tempo, (re) construtor do mesmo e, consequentemente, sobre o delicado problema da vinculação, da liberdade ou da autonomia do magistrado.
Quem haja optado por uma perspectiva pragmática, instrumental e dinâmica do direito, a considerar o direito como um intento, uma técnica, para a solução de determinados problemas práticos relativos à conduta em interferência intersubjetiva dos indivíduos, ou seja, do direito como argumentação, como uma prática discursiva que tem a vida (os vínculos sociais relacionais) por objeto, a prudência e a norma por meio e a justiça e a segurança por fim. Quem, em último termo, se tenha decidido por uma posição definida quanto ao problema de saber com que métodos – algorítmicos ou criteriais – e com que critérios – subordinados ou autônomos – se determina o conteúdo do direito (e particularmente dos enunciados normativos).
Tudo problemas – e trata-se apenas de uma reflexão metodológica – de solução extremamente dificultosa, e que por isso mesmo devem merecer um cuidadoso tratamento, de cada um se procedendo a uma análise detalhada e necessária. O nosso encontro com eles será, pois, um encontro intencional, um encontro de fundo. Digamos que não somos nós que intencionalmente os buscamos, mas que são eles que vêm ter conosco, que somos nós que os encontramos à nossa espera.
Assim, e antes de tudo: poderá o intérprete fazê-lo e deverá fazê-lo? Poderá o intérprete dizer com segurança aquilo em que justamente consiste o conteúdo normativo-material das normas jurídicas? E oferecê-la ao juiz para que a aplique? Poderá o intérprete construir uma qualquer fórmula na qual o magistrado subsuma os casos da vida real que lhe forem surgindo, e uma fórmula que justamente lhes dê uma resposta pronta, unívoca, clara e definitiva?
Há quem entenda que é vão todo o esforço que se faça nesse sentido. É a idéia, no fim de contas, de que o emaranhado dos casos da vida é de tal ordem que não se deixa reconduzir a uma fórmula genérica nem pode ser convenientemente captado por uma rede de enunciados necessariamente vagos e impraticáveis. É matéria, esta da interpretação jurídica, em que a quaestio facti, o ser humano na sua iniludível dimensão ético-social, a prudência, a eqüidade e a justiça do caso concreto, têm primazia.
Afinal, sempre cabe a possibilidade de o legislador optar pela “vaguedade” e “imprecisão” de caso pensado, de pretender muito de propósito socorrer-se de conceitos, princípios e regras genéricas e indefinidas para por essa via fazer apelo aos elementos não lógicos mas práticos, contextuais e emocionais da interpretação, justificação e aplicação do direito. De modo que procurar reduzir a problemática da interpretação jurídica a uma rede de esquemas lógicos, de fórmulas abstratas, será contrariar decididamente o espírito do legislador, que justamente quer, lançando mão de uma moldura verbal que permite todos os sentidos, confiar ao sentimento do magistrado a decisão de revelar e produzir, na hipótese concretamente considerada, o sentido e o alcance dos enunciados normativos.
E essa colocação coincide, fundamentalmente, com a observação de Häberle segundo a qual não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada e que interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo e contextualizá-lo no espaço, enfim, de integrá-lo no mundo da vida vivida [3]. Enfim, de que concebido o direito como prática social de tipo interpretativo e argumentativo, é o operador jurídico que produz a realidade do direito e a edifica enunciando o que este mesmo é.
Mas será assim, realmente? Não valerá a pena raciocinar sobre esses fenômenos, sobre essa intuição tão humana de que se o fator último de individualização da resposta ou conclusão do raciocínio jurídico não procede do sistema, ainda que resulte compatível com ele, é porque deve proceder – na parte que não se deriva daquele e em última instância – das convicções pessoais de quem decide? Ou seja, de que a iniludível subjetividade (através do prejuízo e originada e processada por meio das estruturas cerebrais do operador do direito) está sempre presente em todo ato de compreensão.
Dizendo de outro modo: porque para a hermenêutica o modelo sujeito-objeto não é viável no âmbito das ciências humanas, a subjetividade, através das respectivas estruturas modulares cerebrais do operador do direito, não está presente em todo ato de compreensão, interpretação e aplicação jurídica? Parece que sim, desde que, a esse propósito, se tenha sempre presente a advertência de Philip Tobias (1997) relativa a linguagem e perfeitamente adequada ao nosso caso: de que se julga com o cérebro ( e se de algo não há dúvida é que temos um cérebro herdado por via do processo evolutivo).
Neste particular, temos todas as razões para crer que a tomada de decisão surge da atividade eletroquímica de redes-neurais no cérebro. Mas como moléculas em movimento produzem sentimentos subjetivos (em contraste com meras computações inteligentes) e como elas ocasionam escolhas que fazemos livremente ( em contraste com um comportamento causado) permanecem enigmas profundos para nossas psiques pleistocênicas (Pinker, 2002). A experiência de escolher a decisão satisfatória não é uma ficção, mas uma conseqüência causada pela atividade fisiológica de um cérebro (produto de sistemas cognitivos e emocionais no cérebro) moldado geneticamente ao longo da história evolutiva de nossa espécie e aparelhado para pensar de certa maneira. Trata-se de um processo neural (ou, se se prefere, subjetivo), com a óbvia função de selecionar a solução satisfatória segundo suas conseqüências previsíveis , a par de devidamente fundamentada.
Daí que o juízo ético-jurídico baseado em raciocínios, mas também em emoções e sentimentos morais produzidos pelo cérebro, não pode ser considerado como totalmente independente da constituição e do funcionamento desse órgão que parece não dispor de uma sede única e diferenciada relacionada com a cognição moral (Atahualpa Fernandez, 2006). A realidade da tarefa do operador do direito ético-cerebral tem, em seus sistemas avaliativo-afetivos neuronais uma permanente vigilância de exigências, obrigações e estratégias, um “dever-ser” que incorpora internamente os motivos racionais e emocionais, e que se integra constitutivamente em todas as atividades dos níveis prático, teórico e normativo de todo processo de realização do direito.
Sem embargo, para termos idéias mais clara a este respeito, será bom que aqui desenhemos um breve esquema da evolução histórica que as coisas têm sofrido nesta matéria da vinculação ou da liberdade da atividade jurisdicional.
Nesse sentido, a concepção que a este respeito, desde fins do século XVIII, dominou durante muito tempo, foi justamente aquela por cujos termos a jurisdição seria uma atividade estritamente vinculada, que era tal a confiança na racionalidade imanente dos códigos que se confiava em que a interpretação sequer seria necessária. Esta teoria da interpretação das normas não foi uma teoria equivocada nem contra ela há que esgrimir. Um tipo de Estado preocupado com garantir aos indivíduos as suas esferas de liberdade em pé de perfeita igualdade e em segurança perante as pretensões decisionistas dos tribunais, tão freqüentes no antigo regime, compreende-se que justamente exigisse da doutrina uma concepção que fizesse dos juízes “les bouches qui prononcent les paroles de la loi, des êtres imanimés qui n´em peuvent modérer ni la force ni la rigueur”(Montesquieu).
Não era errada a teoria se a projetarmos no condicionalismo que lhe serviu de ambiente – mas o que também não é errado é que todo aquele condicionalismo é hoje radical e totalmente outro. Além do mais – e sobretudo – porque hoje se exige em primeira linha mais justiça, mesmo que à custa de uma menor certeza. O valor segurança prende-se muito de perto com uma concepção individualista do direito, hoje claramente posta em cheque pelas idéias de um direito com forte conteúdo social.
E mesmo numa base lógica – sobre a razão acima referida que a torna praticamente inconveniente – quer-nos parecer que contra tal concepção estritamente vinculante da atividade jurisdicional se pode objetar triunfantemente com duas razões decisivas.
É a primeira que o legislador utiliza e tem forçosamente de utilizar, em razão da iniludível natureza genérica e abstrata dos enunciados normativos relativamente à realidade (fragmentária e fracionada) a que se dirigem, dos conceitos, princípios e regras indeterminadas e das categorias vagas que incidem sobre o fato vital real que busca regular e que, unida ao caráter necessariamente mediador, valorativo e constitutivo da tarefa interpretativa faz com que resulte deveras extensa a liberdade dos operadores do direito.
Por outro lado se deve considerar que na interpretação há necessariamente algo de pessoal e de arbitrário. A interpretação, a justificação e a aplicação das normas jurídicas envolvem forçosamente uma margem de autonomia. A norma é, como se sabe, estruturalmente constituída por uma previsão e por uma estatuição geral e abstrata, ligadas por um nexo, no âmbito do qual, ao contato com a vida, tem lugar a realização do direito (ou seja, a “causalidade jurídica”). E justamente no processo de interpretação e aplicação da norma nos seus dois elementos estruturais, ou da sua passagem do mundo formal da abstração para o mundo da realidade concreta, estão presentes e intervêm certos elementos não lógicos, valorativos e não algorítmicos, mas práticos, subjetivos e emocionais, elementos que sempre intervêm na interpretação de uma vontade estranha, seja a do legislador seja outra qualquer.
Não se creia pois – lançando as vistas outra vez para o nosso problema – que as diretrizes que nesta matéria pretende-se formular sejam de aplicação tão fácil, sejam tão precisas e exaurientes, que tudo se resuma, pelo que se refere ao magistrado, a subsumir , no quadro delas, de forma puramente mecânica, os casos da vida real. Isso em primeiro lugar não seria, definitivamente, conveniente nem muito menos prudente.
Se o texto legal, a norma legislada, pela sua natureza e finalidade, constitui um mero bosquejo de decisões judiciais futuras, um simples propósito genérico e altamente indeterminado que necessita concreção para tornar-se direito efetivamente operativo – como aponte de que, todo o demais, delimita com amplitude as fronteiras dentro das quais acontecerá ulteriormente, e em cada caso, a opção judicial, mas sem proporcionar ainda uma autêntica pauta decisória –, o operador do direito se move, necessariamente, no âmbito de uma moldura de contornos vagos, de uma estrutura normativo-material aberta e indeterminada que lhe é oferecido para que, mais perto do mundo da vida, lhe coloque o quadro que tiver por mais ajustado à especificidade do caso vertente. Entre o enunciado legal e a decisão que resolve um caso concreto há um extenso espaço intermédio, em que o juiz manobra com ampla margem para suas opções e, no ato de manobrar nesse espaço, tem um papel central a tarefa interpretativa.
A interpretação medeia sempre, portanto, entre o enunciado e o concreto padrão decisório que ao caso se aplique. A interpretação deixa de ver-se como a exceção e passa a converter-se em regra: a “clareza” de um enunciado normativo é um resultado da interpretação e já não é mais a obscuridade do texto que justifica a interpretação; antes, é a concreta realização do direito que a não pode nunca dispensar. E o intérprete já não é contemplado como passivo servidor da norma que lhe precede, senão como alguém que a transforma em regra decisória ao optar por uma ou outra interpretação da mesma.
Conceitos e normas (princípios, valores e regras) indeterminados, abertos ou disjuntivos através dos quais exatamente o legislador pretende fazer apelo aos tais elementos emocionais práticos – não lógicos, não lógico-teoréticos ou não algorítmicos – a que fazíamos há pouco referência – e desde que, por óbvio, adotem a perspectiva de serem mais humanamente operativos em virtude das conseqüências ético-comunitárias decorrentes de sua relação com o fazer viver uma norma na prática.
Será que então se deve prescindir por inteiro da formulação de tais cânones, regras e princípios interpretativos? Será que então – na matéria que estamos considerando – da só idéia de que ao juiz cabe forçosamente muito, se deve concluir que lhe há de, mesmo, caber tudo? Será, enfim, que tudo o que nesta matéria é possível fazer é apelar para o sentimento e convicção do julgador para que ele solucione da forma mais ajustada às hipóteses consideradas?
De toda a evidência que não. Contra o que os juristas alemães denominaram de interpretação ilimitada da norma[4] têm-se produzido sérias e decisivas objeções. Logo no puro plano do valor justiça – certamente não o único, mas porventura o que hoje em dia sobreleva a todos os demais –, logo nesse plano não se pode dizer que a via mais capaz de realizá-lo seja conferir ao juiz uma latitude de poderes que faça entrar a sua discricionariedade naquele “reino confuso do arbítrio, do palpite, do sentimento anárquico e da intuição irrefletida” (Manuel de Andrade,1987).
E pelo que respeita ao valor segurança, é então patente a todas as luzes que a denominada “interpretação ilimitada da norma” o compromete numa medida incomportável. Se a isto juntarmos que o construtivismo social, reduzindo a interpretação, a justificação e a aplicação da norma a puras operações subjetivas e relativistas, mais ou menos irrefletidas e arbitrárias, faz de todo o modo perder ao direito o caráter de ciência (ou até mesmo de arte) que pelo menos comumente lhe é atribuído; e se a tudo isto juntarmos esta última consideração, parece termos alinhado razões suficientes para que seja repudiada a tese que levamos em referência[5].
De fato, o relativismo cultural, histórico e jurídico parecem não resistir à idéia de que existe uma natureza humana cujo núcleo invariável constitui o fundamento de toda a unidade ético-cultural. Nas precisas palavras de Arnhart (1998) ao defender um novo direito natural darwiniano: “Eu rejeito o relativismo cultural, que afirma que a ética é uma invenção puramente cultural que varia arbitrariamente de uma cultura para outra, porque enquanto eu reconheço a importância do aprendizado social e os costumes no desenvolvimento moral, eu acredito que os desejos humanos naturais são universais e desta forma limitam a variabilidade das práticas culturais. Eu rejeito o relativismo historicista, que afirma que a ética é puramente uma invenção histórica que varia radicalmente de uma época histórica para outra, porque enquanto eu reconheço a importância das tradições históricas, eu acredito que os desejos humanos naturais constituem uma base imutável através da história humana. Eu rejeito o relativismo cético e solipsista, que afirma que não há padrões de julgamento ético, além dos impulsos de indivíduos únicos, porque enquanto eu reconheço a importância da diversidade individual, eu acredito que haja regularidade nos desejos humanos que manifestam uma natureza humana típica da espécie humana. Eu também rejeito o dogmatismo racionalista, que afirma que a ética repousa em imperativos lógicos da pura razão, porque enquanto eu reconheço a importância da razão humana em julgar quão melhor satisfazer seus desejos, eu acredito que o fundamento dos motivos da ética não é a lógica da razão abstrata, mas a satisfação de desejos naturais. E eu rejeito o dogmatismo religioso, que afirma que a ética somente pode ser fundada em leis transcendentes de um poder divino, porque enquanto eu reconheço que a ética religiosa pode reforçar a ética natural, eu acredito que a ética como fundada nos desejos naturais existe independentemente de qualquer poder divino”.
Está dito: nossos desejos e nossas emoções intervêm sempre em maior ou menor medida em todo o processo de tomada de decisão em concreto, ou, para ser mais preciso, a articulação co-constitutiva da afetividade e da razão intervêm em toda a interpretação (compreensão), justificação e aplicação de uma vontade alheia[6]. E sobretudo naqueles domínios em que o “caso concreto”, o “caso da vida real”, surge ao magistrado com uma variedade e uma multiplicidade desconcertantes – nomeadamente nesses domínios deve o operador do direito fazer apelo à equidade e a prudência a que, constantemente, nos estamos a referir.
Nesses domínios em que o acento recai na peculiaridade, na especificidade do caso concreto, deve o operador do direito convencer-se de quanto seria nefasta a eventual pretensão do legislador de regular ele próprio tudo, prendendo o magistrado de pés e mãos, fazendo dele uma pura máquina subsuntiva, ao cabo de cujo funcionamento se estaria em face de uma solução que a todas as luzes mal quadraria ao caso considerado. A concessão ao juiz de certa margem de autonomia é, pois, no nosso caso (no caso da interpretação/aplicação jurídica), uma atitude necessária e uma solução por demais fecunda. Em verdade, é no autônomo processo de interiorização dos códigos morais e jurídicos da sociedade, no processamento de tais informações na avaliação ética e na tomada de decisões, em concreto, que a conduta do intérprete, sempre produtiva e constitutiva, garantirá a condição de cidadania plena, ou seja, a sua devida prioridade frente a qualquer outro fenômeno sócio-cultural e existencial.
Assim que a interpretação não pode prescindir da insubstituível atividade e iniciativa do sujeito. A interpretaçao é, em efeito, um espaço de jogo entre vínculo e liberdade, entre rigidez e flexibilidade, entre lógica do provável e do razoável por um lado, e lógica do necessário e do constritivo por outro, quer dizer, um espaço dentro do qual é certamente possível uma pluralidade de soluções alternativas, ainda que isso não signifique em absoluto que todas as interpretações sejam igualmente legítimas: e dado que não existe certezas demonstrativas nem verdades empíricas, somente a argumentação, entre as distintas hipóteses interpretativas possíveis, pode orientar no sentido de uma interpretação satisfatória e razoável, no sentido de eleições prudentes e responsáveis, guiadas por “boas razões”, que sirvam às nossas intuições e emoções morais e à justiça e não as traicionem.
Depois, um juiz que crê que recebe seus critérios de decisão somente da lei (“somente submetido à norma positiva escrita ou ao texto legal”), sucumbe a um equívoco fatal, pois (inconscientemente) permanece dependente de sua própria irracionalidade. Dito de outro modo, um juiz que crê que a relação direito/norma é tudo esquece que a medida do direito, a própria idéia e essência do direito, é o humano, cuja natureza resulta não somente de uma mescla complicadíssima de genes e de neurônios senão também de experiências, valores, aprendizagens, e influências procedentes de nossa igualmente embaraçada vida sócio-cultural[7].
Em todo caso, contudo – e posto que a empresa do direito deve certamente ser uma empresa racional –, o problema com que tem que enfrentar-se o operador do direito de qualquer condição é, em termos gerais, sempre o mesmo: como utilizar um instrumento cada vez mais complexo – o direito – para alcançar certos propósitos que, por se considerarem valiosos ( isto é , justos), vão mais além do próprio direito: uma certa paz, uma certa segurança, uma certa liberdade, uma certa igualdade, uma certa fraternidade. Como, em última análise, trabalhar, sob a perspectiva da racionalidade, processos (de tomada de decisão) que não são racionais ou não o são exclusivamente.
Dizendo de outro modo: como haveremos de responder à pergunta central da metodologia normativa da interpretação jurídica, a de como deve proceder o intérprete para que os frutos de sua interpretação, embora não se possam dizer rigorosa e objetivamente corretos, sejam não obstantes razoáveis, satisfatórios e que gozem de uma certa aceitabilidade racional, ou, ao menos, para que não possam reputar-se de perfeitamente subjetivos e caprichosos, o qual, em direito, não o olvidemos, se assemelha a uma perigosíssima arbitrariedade que põe em questão nossa segurança entanto quanto cidadãos sob o império da lei.
Decerto que não se trata de um intento ilícito ou desafortunado, porquanto parece intuitiva a necessidade de que os discursos jurídicos (com validade intersubjetiva e potencial capacidade de consenso) estejam racionalmente justificados e coerentes com o sistema jurídico global, quer dizer, que em favor dos mesmos se aportem argumentos que façam com que, sendo produto de uma (limitada) racionalidade plasmada no diálogo de reconhecimento e compreensão recíproca, possam ser discutidos e controlados, e, em igual medida, tratem de impedir um perfil de operador jurídico (nomeadamente do juiz) proclive ao automatismo, ao isolamento teórico, a uma ortodoxa rigidez interpretativa e, até mesmo, a um desvairado e irracional subjetivismo.
Assim que uma interpretação que não se submeta a regras e não se preocupe por estabelecer uma coerência respeito a modelos de decisão estabilizados e já argumentativamente ponderados corre sempre o risco, precisamente por ser infundada, de precipitar-se em uma violência e em um arbítrio visceralmente insensatos. A tal ponto que a atividade do jurista-intérprete acabaria despojada de toda objetividade e assumiria sorrateira e definitivamente a ineludível irracionalidade do jogo interpretativo.
De fato, se se pondera atentamente sobre as condições do ato do compreender, não resulta difícil descobrir que – se bem valiosos os fins da racionalidade do proceder interpretativo – os vínculos constituídos pelas regras, os métodos de interpretação dos textos normativos, a dogmática jurídica, a comunidade dos intérpretes e dos juristas, e a própria dimensão da comunidade ética e da textualidade, são sempre limites de natureza relativa: quer dizer, não podem jamais eliminar totalmente a discricionaridade e os espaços de liberdade do intérprete, senão que somente contribuem, com sua função normativo-prescritiva, a estruturá-los e a contê-los.
Em todo caso, se o objetivo é a racionalidade do interpretar, são sempre preferíveis vínculos parciais e imperfeitos, expressão de culturas jurídicas e sociedades históricas específicas, antes que nenhum vínculo. Dito de modo mais simples, a insuficiência do vínculo não implica, em definitivo, sua supressão.
Depois, talvez seja útil recordar que no processo de realização do direito se apresenta ainda ao operador do direito um importante problema de responsabilidade ao garantir ou, melhor dito, ao estabelecer, a coerência intrínseca do sistema jurídico. Ao magistrado se lhe confia a tarefa específica de combater ou ao menos minimizar a contraditoriedade intrínsica do sistema jurídico, particularmente a de reconstruir e contextualizar a hierarquia dos valores e princípios constitucionais, que não se pode considerar como dada e adquirida de uma vez por todas. O sentido de uma norma jurídica se converte, por meio do sujeito-intérprete, em expressão de relações mantidas com a prática, de uma capacidade de relação com os dados extralinguísticos e com o contexto de experiência, que em cada novo caso tem que ser renovada e dinâmicamente reconstruída , mas sempre com o fim de compor em um todo coerente normas, princípios e valores diferentes e, portanto, de detectar, de forma prudente e responsável, na pluralidade de hipóteses interpretativas e soluções alternativas possíveis, a solução legítima, mais satisfatória e com maior capacidade de consenso.
Afinal, uma vez que o operador do direito é, antes de tudo e em sua tarefa institucional, responsável perante o meio social e frente ao que há de assegurar-se acerca da plausibilidade de suas soluções, ele deve procurar que suas valorações estejam sempre em consonância com nossas intuições e emoções morais, com a coerência do sistema jurídico e com os valores historicamente aceitos e compartidos por uma determinada comunidade ética.
REFERÊNCIAS
Aarnio, A. (1995). Derecho, Racionalidad y Comunicación Social.Ensayos sobre Filosofía del Derecho. México, Fontamara.
__ (1991) Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales (C.E.C.).
Alexy, Robert (1997). Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, C.E.C.
__ (1997). Teoría de la Argumentación Jurídica, Madrid, C.E.C..
__ (1998). Derecho y razón práctica, México, Fontamara.
Alexy, R. & Peczenick,A. (1990). “The concept of coherence and its significance for discursive rationality”, Ratio Juri, 1 bis, 3: 130-147.
Arnhart, L. (1998).Darwinian Natural Right.The biological ethics of human nature.New York: State University of New York Press.
Aristóteles (1999). Ética a Nicómaco,Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (C.E.P.C.), edición bilingüe.
__ (1985). Ética Nicomáquea y Ética Eudemia, Madrid, Grecos.
__ (1997). Política, Madrid, C.E.P.C., edición bilingüe.
Atienza, M. (1993). Las razones del derecho.Teorias de la Argumentación Jurídica , Madrid, C.E.C.
__ (2003). El sentido del Derecho,Barcelona: Editorial Ariel.
Aubenque, P. (1986). La prudence chez Aristote , Paris, PUF.
Calsamiglia, A. (1990). Introducción a la ciencia jurídica , Barcelona, Ariel.
___ (1997) . Racionalidad y eficiencia del Derecho, México, Fontamara.
Calvo González, J. (1992). Comunidad jurídica y experiencia interpretativa.Un modelo de juego intertextual para el Derecho, Barcelona, Ariel.
Camargo, Margarida M.L.(2001). Hermenêutica e Argumentação. Uma Contribuição ao Estudo do Direito, RJ-SP, Renovar.
Carbonnier, J.( 1974). Derecho Flexible. Madrid.Tecnos.
Dworkin, R. (1989). Los derechos en serio, Barcelona, Ariel.
___(1993). Ética privada e igualitarismo político, Barcelona, Paidós.
___(1996). “Do Liberty and Equality Conflict”, in BAKER, Paul (ed.), Living as Equals, New York, Oxford University Press.
___(1996). La comunidad liberal, Santafé de Bogotá, Facultad de Derecho Univ. de los Andes.
___(2000). Sovereign Virtue: the theory and practice of equality, Cambrigde,MA, Havard University Press.
Esser, Josef (1983). Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individualizione de diritto, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane.
___(1961). Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del Derecho Privado, Barcelona, Bosch.
Ferrajoli,L.(1966). “Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa”, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XLIII, 1, 290-304.
Ferraris, M. (1988). Storia dell´ermeneutica, Milano, Bompiani.
Fernandez, A. (2002). Direito, evolução, racionalidade e discurso jurídico, Porto Alegre :Ed. Fabris.
Gadamar, (1997), Hans-Georg, Verdad y metodo, Salamanca, Ed. Sígueme, 2 vols..
Gianformaggio, L. (1986).Ética e diritto, Roma-Bari, Laterza.
___(1988). “Certezza del diritto, coerenza e consenso. Variazione su un tema di MacCormick”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, Milano, Giuffrè.
Guariglia, O.(1997). La Ética en Aristóteles o la moral de la Virtud, Buenos Aires, Eudeba.
Hart, H.A.L . y DWORKIN, R.(1999). La decisión judicial. El debate Hart-Dworkin, Santafé de Bogotá, Siglo del Hombre Editores.
Kaufmann, Arthur(1998). La Filosofía del Derecho en la Posmodernidad, Santafé de Bogotá, Temis.
___(1999). Filosofía del Derecho,Bogotá , Univ. Externado de Colombia.
___(2000) Derecho, Moral e historicidad , Madrid-Barcelona, Marcial Pons.
__ (2000). Las razones del derecho natural , Buenos Aires, Depalma, 2000.
Kaufmann,A. e Hassemer,W. (2002).Introduçao à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito contemporâneas, Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian.
López Moreno,A. (1999). “La idea de ´mescla adecuada´ en el proceso de aplicación e interpretación del derecho”, Teoría y práctica en la aplicación e interpretación del Derecho,Madrid, Colex.
Maccormick, N.(1978). Legal Reasoning and Legal Theory , Oxford, Oxford University Press.
Maccormick, N. & Weinberger, O.(1990). Il diritto come istituzione, Milano, Giuffrè.
Tugendhat, E. (1997). Lecciones de ética, Barcelona, Gedisa.
__ (1997). Ser- Verdad- Acción, Barcelona, Gedisa.
__ (1999). Diálogo en Leticia, Barcelona, Gedisa.
__ (1988). Problemas de la ética, Barcelona, Crítica.
__ (1992). Justicia y Derechos Humanos, Barcelona, Universitat de Barcelona.
Van Parijs, P.(1993). ¿Qué es una sociedad justa? Introducción a la práctica de la filosofia política, Barcelona, Ariel.
__ (1981). Evolutionary Explanation in Social Sciences, London, Tavistock.
Zaccaria,G.(1990). L´arte dell´interpretazione. Saggi sull´ermeneutica giuridica contemporanea, Padova, Cedam.
__ (1984). Ermeneutica e giurisprudenza.Saggio sulla metodologia di Josef Esser, Milano, Giuffrè.
__ (1994). Ermeneutica e giurisprudenza. I fundamenti filosofici nella teoria di Hans-Georg Gadamer, Milano, Giuffrè.
Zaccaria, G. e Viola, F.(1999). Diritto e interpretazione.Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Bari, Laterza.
Notas:
[2] Note-se que muito embora nosso interesse diga respeito ao controle da racionalidade do discurso jurídico em geral, o foco principal de nossa preocupação (e análise) está centrado, fundamentalmente, na interpretação de textos legais em contextos decisórios, para produzir uma solução normativa: trata-se da denominada “interpretação operativa”, utilizada para se distingüir da interpretação sem eficácia normativa que, frente a um texto, pode elaborar-se, com um cariz puramente teórico, em meios acadêmicos. Nesse preciso sentido, a “interpretação operativa” é considerada como uma atividade eminentemente prático-normativa, ligada a casos concretos e como um dos mais relevantes instrumentos de realização do direito. Trata-se de um termo introduzido por Luigi Ferrajoli (1966) e entendido como a interpretação de textos legais em contextos decisórios para produzir uma solução normativa/vinculante: na interpretação operativa, o órgão que aplica o direito interpreta as regras utilizadas no processo de sua aplicação ao caso concreto. Segundo Jerzy Wróblewsky (1988), a interpretação operativa é a interpretação que se realiza na aplicação do direito quando existem dúvidas referentes ao significado das regras a aplicar relevantes para tomar uma decisão. Em síntese, isto diz respeito a perspectiva que participa da orientação geral, dirigida a ligar o conceito de positividade jurídica com o âmbito da realização concreta do direito no momento da decisão do juiz, quer dizer, de um ponto de partida hoje prevalecente na teoria contemporânea do direito: a tese de que o procedimento judicial forma o ponto central prospectivo desde o qual se deve analisar o sistema do direito. Oportuno esclarecer, desde logo, que segundo a perspectiva aqui adotada, a interpretação jurídica não deve ser utilizada para “agredir”, nem tampouco manejada como instrumento de rebeldia (uma exceção ou mecanismo de ruptura do sistema normativo), senão como uma tarefa contextualizada que se leva a cabo em condições sócio-cultural e historicamente determinadas, e que se inserta no ordenamento jurídico, extraída tanto do concurso de suas normas como de seus princípios e/ou valores fundamentais, como uma “mensagem” do homem destinada a seu reencontro com o “outro”.
[3] Sobre essa questão, cfr.: Kaufmann,1999; Häberle, 2000 e 1997; Favoreau, 2000; Díaz Revorio, 1997.
[4] Não curamos da exatidão desta nomenclatura. Empregamo-la em um sentido amplo por nos parecer bastante impressivo para exprimir as idéias gerais do chamado “modernismo jurídico” em matéria de interpretação do direito. Descuramos, pois, saber se o emprego de alguma designação para a “interpretação ilimitada da norma” somente será licito em certo particular sentido estrito que aqui não nos forçamos por investigar.
[5] Uma dilatada linha intelectual que, arrancando dos sofistas e passando por Hobbes e Nietzsche, desemboca em certa pós-modernidade pretendidamente radical sustenta que as sociedades humanas vivem permanentemente em situações extremas, e que não há possibilidade de deliberação racional de modo algum. Agora bem: aparte do presumível caráter auto-refutatório deste tipo de tese, há de dizer que argumentações dessa natureza estão, ademais, infundadas historicamente. E dito seja de passo: os inauguradores da linha de pensamento que rechaça por impossível a institutionalização da deliberação pública racional – os sofistas – foram precisamente inimigos encarniçados do regime democrático ateniense. Nesse sentido, Ste. Croix , 1981 e Atahualpa Fernandez, 2002 e 2005.
[6] Na aguda observação de Camilo J. Cela-Conde (1999): “Sabemos que não é possível separar, como pretendia Descartes – e como afirmaram, em seu momento, os funcionalistas cognitivos –, emoção e racionalidade, espírito e cérebro. Isto se aplica ao conjunto do conhecimento, ou seja, às matemáticas, à mecânica quântica, à ética e à literatura”. António Damásio (1994) descreve o trabalho efetuado com muitos de seus pacientes com lesões cerebrais, freqüentemente no lóbulo frontal, que perderam sua capacidade de resposta emocional normal e, por conseguinte, converteram-se em seres incapazes de manifestar emoções. Em lugar de se converter em seres inteiramente racionais, dispostos a tomar decisões sem as fastidiosas distrações provocadas pela emoção, são pessoas praticamente paralisadas pela indecisão; a obrigação de tomar determinações, por pequenas e insignificantes que sejam, transforma-se em um dilema que só podem resolver quando se empenham a fundo e passam um largo tempo refletindo sobre a seleção das opções possíveis de serem adotadas. Não precisa dizer que uma existência normal se torna praticamente impossível para esses enfermos. Não seria assim para o resto dos humanos que não nos damos conta da (ou procuramos dissimular a) envergadura emocional contida em um ato de tomada de decisões, porque para nós não existe a implicação de umas conseqüências passadas e, quando se trata de preferências, somos capazes de simplesmente reacionar de acordo com nossa aptidão ilimitada de sentir emoções segundo a interpretação e denominação que façamos de nossas respostas fisiológicas. Em resumo, quem não tem emoções é um “idiota racional”, ou seja, a caricatura desenhada por Sen para identificar a pessoa egoísta de curta visão: um idiota incapaz de avaliar o efeito de suas ações sobre outras pessoas. Registre-se, por oportuno, que Damásio defende seu ponto de vista sem, aparentemente, saber que economistas como Robert Frank, biólogos como Robert Trivers e psicólogos como Jerome Frank chegaram a conclusões parecidas, a partir de provas diferentes. É, de fato, uma coincidência notável.
[7] Uma outra forma de expressar o mesmo entendimento seria a de que “o comportamento está guiado por regras epigenéticas”. Nesse preciso sentido, a epigênesis, que originalmente era um conceito biológico, significa o desenvolvimento de um organismo sob a influência conjunta da herança e o ambiente. As regras epigenéticas, para resumir muito brevemente, são operações inatas do sistema sensorial e do cérebro; caracterizam-se por ser um complexo de regras, prescritas pelos genes, que, assegurando a sobrevivência e o êxito reprodutor, predispõem os indivíduos a determinados tipo de comportamento, ou seja, predispõem os indivíduos a considerar o mundo de uma determinada maneira inata e a efetuar automaticamente umas determinadas eleições frente a outras. Com essas regras – algumas suscetíveis a uma imensa gama de variações e combinações culturais – vemos o arco íris em quatro cores básicas e não como um continuum de freqüências de luz; tendemos a dividir continuamente objetos e processos diversos em duas classes discretas; evitamos relações sexuais com irmãos; falamos em frases gramaticalmente corretas; sorrimos aos amigos e tememos aos estranhos nos primeiros contatos. Por vezes, contudo, e em especial nas sociedades complexas, já não contribuem à saúde nem ao bem estar ; o comportamento que dirigem pode tornar-se marcado e militar contra os melhores interesses do indivíduo e da sociedade: são as chamadas funções impróprias de nossas intuições morais. E para os efeitos que aqui nos interessa, podemos considerar o fato de que as funções cumpridas atualmente por nossas intuições e emoções morais – que são um produto ou um resultado com bastante articulação funcional – sejam em parte funções impróprias (Atahualpa Fernandez, 2002 e 2006) .
Atahualpa Fernandez e Marly Fernandez
Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista em Direito Público /UFPa.; Professor Titular da Unama/PA ;Professor Colaborador (Livre Docente) da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia, Cognición y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado) ; Advogado:Marly Fernandez: Doutoranda em Filosofia e Antropologia/ Universitat de les Illes Balears-UIB y Research Scholar en el Laboratório de Sistemática Humana/UIB.
Código da publicação: 1242
Como citar o texto:
FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly..Limites da interpretação jurídica: vinculação ou autonomia na praxis jurídica. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 3, nº 177. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/pratica-forense-e-advogados/1242/limites-interpretacao-juridica-vinculacao-ou-autonomia-praxis-juridica. Acesso em 8 mai. 2006.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.