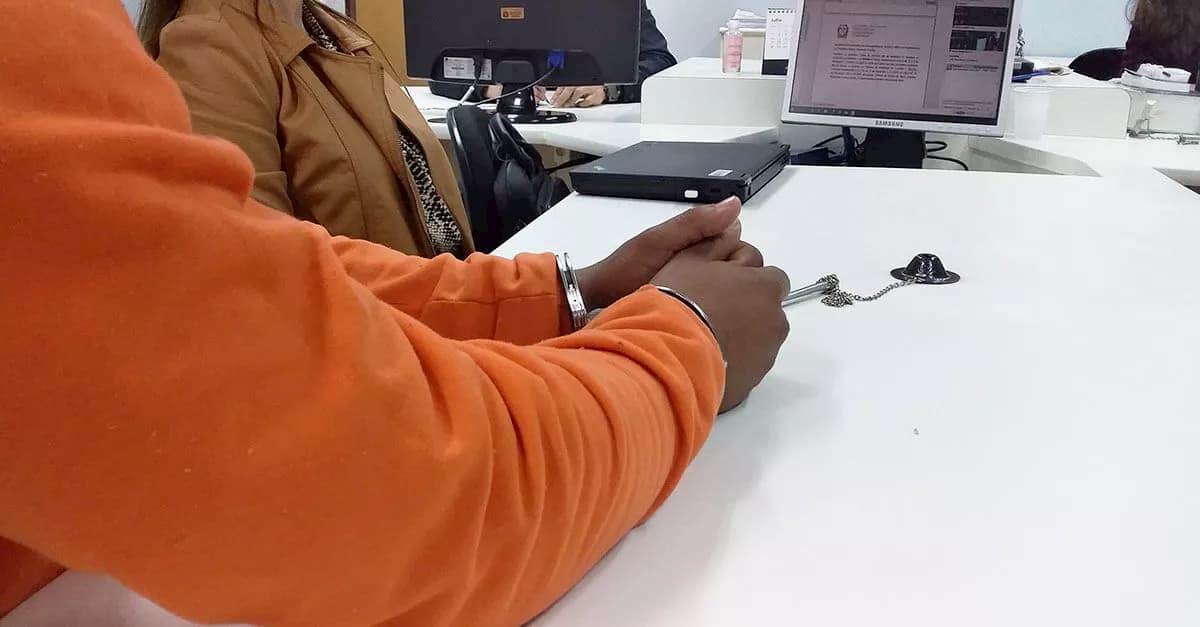Sumário: 1. Introdução. 2. Homicídio culposo qualificado (regra técnica) 2.1. Notícia de uma divergência 2.2. Pequena observação crítica 3. Participação em suicídio: por omissão? 3.1. Sim e não, evidentemente 3.2. Explicações cabíveis 4. Infanticídio 4.1. Divergências de praxe 4.2. Realidade histórica 5. Delito de aborto 5.1. Lei, intérprete, valorações sociais 5.2. Dogmática jurídico-penal 6. Denominador comum: a mágica do intérprete
1. Introdução
Seleciono alguns tópicos de divergências doutrinárias no âmbito dos crimes contra a vida com a finalidade específica de sublinhar a importância do intérprete no processo histórico de construção e sedimentação do direito penal. Já tratei do assunto, de modo semelhante, em recente artigo com o título “Homicídio doloso: o jogo das premissas”. O tema é igualmente abordado em Curso crítico de direito penal, 2ª edição, Florianópolis: Conceito Editorial, 2008.
Volto agora minha atenção para uma hipótese específica de homicídio culposo qualificado (inobservância de regra técnica) e para conhecidas controvérsias em torno dos crimes de participação em suicídio, infanticídio e aborto.
Inevitável, nas entrelinhas, a presença de uma vontade interpretativa pouco explorada nos livros didáticos.Força, poder, vontade e liberdadesão as categorias básicas do direito e, pois, do direito penal. O operador jurídico, seja nas lides forenses ou administrativas, seja como jurisconsulto ou professor, tem muito a dizer, com sua mágica, acerca da matéria. E o que ele diz carece igualmente de interpretação, à luz de uma visão crítico-metodológica do direito penal.
2. Homicídio culposo qualificado (regra técnica)
No homicídio culposo – dentre outros motivos ou circunstâncias – “a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício” (CP, art. 121, § 4o ). Razão principal do dispositivo: o legislador de 1940 já se preocupava com o aumento da criminalidade no trânsito. A Exposição de Motivos chegou inclusive a lembrar a questão da velocidade como um exemplo de “generalizado descaso pelas cautelas técnicas” (n° 39).
2.1. Notícia de uma divergência
De início, nenhum problema de vulto na doutrina. A clareza do texto dispensava malabarismos exegéticos. A regra valia para todos. Não se fazia distinção entre profissionais e amadores; entre motoristas de táxi, de ônibus, empregados de empresas privadas ou de repartições públicas, por exemplo, e os demais motoristas, que formam no trânsito de veículos a imensa e colossal maioria. De todos se exigia, no entanto, a consciência de infringir por menoscabo ou displicência a regra técnica, não bastando por isso a simples imperícia.
De repente, a grande novidade: motorista amador não pode responder pelo acréscimo de pena. É verdade que o Brasil já fabricava seus automóveis e as mortes e mutilações aumentavam em proporções geométricas. Paralelamente, porém, entrava em descrédito absoluto a pena privativa de liberdade. Alguma coisa haveria que mudar. Mudou então – em parte – o direito penal, sem embargo da permanência do mesmo texto de lei.
Qual a técnica utilizada? Várias. Primeiro, a técnica do descuido, do esquecimento. A palavra arte, expressamente utilizada pelo legislador, desapareceu sob a sombra do ofício, ou da profissão. Dirigir veículos até que pode significar o desempenho de uma certa arte, mas o que importa mesmo é a ratio legis, a razão da lei, preocupada com a maior censurabilidade da conduta. Essa maior censurabilidade só poderia subsistir em se tratando de motorista profissional. De um amador sempre se perdoa alguma coisa. Não tendo ele a mesma responsabilidade de um profissional, incide na figura básica do homicídio culposo simples, uma vez que o núcleo da culpa corresponde exatamente à inobservância de regra técnica. Quem dirige com excesso de velocidade está deixando de observar regra técnica de trânsito. O acréscimo de pena constitui, portanto, um absurdo normativo, um bis in idem incompatível com o Estado Democrático de Direito.
2.2. Pequena observação crítica
Das duas, uma: ou o legislador sabe legislar e, portanto, o “espírito” da lei subitamente descoberto já torna justificada a nova interpretação; ou o legislador, às vezes, comete impropriedades, fere a razão, o bom senso, os princípios gerais de direito, oportunidade em que deve eclipsar-se (quer dizer, o texto). Em qualquer caso, prevalência de uma espécie de direito natural, ora coincidente com as instruções legislativas, ora superior às próprias constituições históricas.
Pois bem. Se o núcleo da culpa reside na própria inobservância de regra técnica então não faz sentido reservar a forma qualificada para o motorista profissional. Também ele é filho de Deus, também ele merece a proteção inerente ao princípio ne bis in idem. Se a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir.
Júlio Fabbrini Mirabete, aliás, não concorda com a novidade: “Por outro lado, a afirmação de que a qualificadora somente se aplica aos motoristas profissionais não deve ser acatada, uma vez que o artigo se refere não só à profissão, mas também à arte, abrangendo, pois, o motorista amador”(Manual de direito penal, v. 2, 1995, p. 79).
A lei vale para todos, principalmente quando seu espírito se revela através da clareza do texto, da pesquisa histórica (Exposição de Motivos) e da razoabilidade dos motivos que a inspiraram, ou seja, a defesa da vítima, defesa que se mostra inversamente proporcional à maior impetuosidade dos infratores. Inexiste injustiça no aumento de pena. Ao menos em tese, há que se manter um equilíbrio entre o mal do crime e a resposta punitiva.
Para os objetivos deste artigo, que não reexamina o assunto à luz do CTB, é suficiente que se perceba a inevitável interferência do intérprete no processo histórico de construção ou “descoberta” do direito. Núcleo da culpa, bis in idem, responsabilidade profissional e outros itens semelhantes nada mais constituem do que artefatos retóricos inteligentemente confeccionados por aqueles que, na dogmática jurídica, ou na vida forense, preferem permanecer no anonimato.
Não é difícil notar, entretanto, desde a raiz, o engajamento ideológico dos intérpretes na solução que apresentam. Eles são fonte e, não, descobridores do direito. De um direito, por isso mesmo, essencialmente contraditório. Contradição, de um lado, formal (lei é lei, intérprete é intérprete) e contradição, de outro lado, material, de conteúdo, por força das diferenças de personalidade e divergências no seio do grupo. A contradição formal é inevitável, mas a última (contradição material) pode não ocorrer: nada impede que lei e intérprete se harmonizem na indicação de um só caminho normativo, o que ocorre com mais facilidade na hipótese de flagrante ou suposta receptividade social.
O curioso é que a contradição material se passa, às vezes, com o mesmo dogmata ou jurisconsulto. Ele sabe disso, tanto que se esforça em demonstrar a melhor qualidade da nova tese esposada. Coincidentemente, uma tese mágica, transformadora, quando colocada nas mãos de qualquer operador jurídico.
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”, já indagava, em conhecido soneto, o nosso Machado de Assis. Mudariam as duas coisas, muito provavelmente. Pelo menos no campo do direito. Um direito que assimila, inclusive, a surpreendente notícia de que “violação de regra técnica é a não aplicação de normas reveladoras de habilidade manual, pelo que não se confunde com regra de trânsito, que é norma de conduta.” (TACRIM -SP - AC - Rel. Chiaradia Netto - JUTACRIM XIV/228, In: Código penal e sua interpretação jurisprudencial, de Alberto Silva Franco e outros, 5ª ed., São Paulo, RT, 1995, p. 1614).
Quer dizer, a Exposição de Motivos do Código Penal, que exemplifica exatamente com o excesso de velocidade na condução de automóveis, teria perdido a sua confiabilidade como fonte de pesquisa da verdadeira intenção do legislador, pois confunde “regra de trânsito, que é norma de conduta” com “normas reveladoras de habilidade manual”. Mágica interpretativa: quem, habilidosamente, se mantém firme na direção do veículo, sem perder-se na pista, pode acelerar à vontade. Se matar uma criança, na saída de uma escola, pratica homicídio culposo simples. O homicídio culposo qualificado se reservaria, de preferência, para os imperitos, para aqueles que, num momento de rara infelicidade, por nervosismo, pista molhada, imprudência ou descuido da própria vítima, ofuscação solar etc. não conseguem segurar o volante com a maestria de um desbravador de estradas.
3. Participação em suicídio: por omissão?
No foro criminal isso não acontece, ou pode acontecer mui raramente, alguém ser chamado às barras da Justiça por ter concorrido, por omissão, para o suicídio de outrem. Nos livros de doutrina, todavia, não dá para escapar da pergunta: existe, na lei, a figura delituosa da participação omissiva em suicídio?
3.1. Sim e não, evidentemente.
Até hoje os penalistas não se entendem. Segundo Aníbal Bruno, que escreve sob a vigência da antiga Parte Geral do Código, a resposta é positiva, em termos de auxílio, desde que preexista “relação de direito que crie a obrigação de custódia e assistência em face do suicida”(Direito penal, v. 4, 1966, p. 137). Dentre vários exemplos, destaco o seguinte: “Se o jovem, com intenção suicida, entra no quarto e abre a torneira de gás, o pai que chega em seguida tem o dever jurídico de impedir a morte e responde, em caso de omissão, por participação em suicídio” (p.138). Era essa também a opinião de Nélson Hungria (Comentários ao código penal, v. 5, 1958, p. 232/233), Magalhães Noronha (Direito penal, v. 2, 1986, p. 33/34) e Olavo Oliveira (O delito de matar, 1959, p. 241).
Em todos esses casos tem que existir dolo, não bastando a simples culpa, ainda que de natureza grave.
A tese da corrente oposta pode resumir-se no seguinte: o texto do art.122 exige condutas (que não se confundem com o resultado) tipicamente comissivas. É impossível, por simples inércia, induzir, instigar ou prestar auxílio à prática do suicídio. O apelo à “posição de garante” (carcereiro em relação ao preso, enfermeiro em face do doente etc.) se encontra então deslocado. O que importa, na expressão de Euclides Custódio da Silveira, é “indagar se esse comportamento omissivo ou negativo pode ser compreendido dentro dos termos expressos da descrição legal” (Crimes contra a pessoa, 1973, nota n. 160, p. 82/83). A resposta é negativa, o que significa dizer que o sistema do Código repele o auxílio sob a forma de omissão.
No mesmo sentido, pelo menos quanto à conclusão de impedimento: Bento de Faria, Código penal brasileiro, v. 4, 1961, p. 35; Heleno Cláudio Fragoso, Lições de direito penal: parte especial, v. 1, 1983, p. 101/102; José Frederico Marques, Tratado de direito penal, v. 4, 1961, p. 130; João Mestieri, Curso de direito penal: parte especial, 1970, p. 145. Esclarece, porém, este último: "A lei brasileira fala em prestar auxílio, exigindo inquestionavelmente uma conduta positiva. Poder-se-á, talvez, reconhecer funcionalidade ao atuar omissivo na hipótese de induzimento, a nosso ver o único meio executivo a comportar a modalidade omissiva, em determinados casos" (ibidem).
A vigência de uma nova Parte Geral (Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1984) não arrefeceu as divergências. Álvaro Mayrink da Costa (Direito penal, v.2, 1986, p. 92); Paulo José da Costa Júnior (Comentários ao código penal, v.2, 1988, p.23); Júlio Fabbrini Mirabete (Manual de direito penal, v.2, 1995, p. 84/85); James Tubenchlak (Tribunal do júri: contradições e soluções, 1990, p. 26); Cezar Roberto Bitencourt (Manual de direito penal: parte especial, v. 2, 2001, p. 123); Ney Moura Teles (Direito penal: parte especial, v. 2, 2004, p. 160); Adalberto Camargo Aranha Filho (Direito penal. Crimes contra a pessoa, 2005, p. 42) e Rogério Sanches Cunha (Direito penal. Parte especial. Dos crimes contra a pessoa, 2006, p. 40) aceitam a modalidade omissiva (ora se fala em auxílio, ora se fala em instigação ou induzimento).
Outros, no entanto, assumem a tese de sua impossibilidade jurídica. Alguns nomes: Damásio Evangelista de Jesus (Direito penal, v.2, São Paulo, 1991, p. 84/85; Código penal anotado, 2006, p. 425), Celso Delmanto (Código penal comentado, 1988, p. 237) e Antônio José Feu Rosa (Direito penal: parte especial, 1995). Este último chega a citar expressamente “o caso, por exemplo, do carcereiro ou delegado que deixa o preso morrer de fome e não adota providências para socorrê-lo – ou permite que o mesmo se suicide” (p. 117). Não haveria participação em suicídio, e sim, omissão de socorro qualificada pela morte da vítima.
No extremo oposto, mas também discordando da outra corrente doutrinária, se situa Fernando Capez, que acena para o crime de homicídio se o omitente, na forma do art. 13, § 2º, do CP, “tiver o dever jurídico de agir” (Curso de direito penal, v. 2, 2007, p. 90).
Como entender as divergências?
3.2. Explicações cabíveis
A eterna tentação – se possível, com telescópios “made in Germany” – de procurar nas estrelas os postulados normativos que, em verdade, se encontram na face da Terra, desviou e vem desviando a atenção de eminentes penalistas brasileiros em torno de elementares princípios de hermenêutica legislativa. No contexto histórico do Código Penal de 1940 seria este que deveria fornecer as respostas, mas em vão. As respostas da dogmática jurídica sempre comportaram e comportam digressões de ordem pessoal, ideológica.
O revogado art.11 do Estatuto Repressivo e o atual art. 13, referentes à causalidade física ou material de todo e qualquer delito, omissivo ou comissivo, jamais foram encarados como fonte exclusiva do direito penal. Tiveram e têm que passar, como sempre, pelo crivo do intérprete, que pode retocá-los ou eventualmente não lhes dar a atenção merecida.
Não se trata de uma desatenção inocente, pura, imaculada. Em regra, existe contaminação prévia. Todo intérprete já constitui por si mesmo um sistema “programado”. É com suas idéias, com seus valores, com sua inteligência que se apresenta para dizer o que outrem (o legislador) teria dito. Liberdade de ação e sentimento de um dever a cumprir aumentam sua chance de substituir-se ao próprio poder legislativo, ou melhor, a suas instruções, objeto de paciente exegese.
No direito que se elabora historicamente, o “dono” do sistema é o legislador formal ou quem, de fato, por ele se faz passar, no quadro e na seqüência de uma constituição política igualmente histórica, de cunho autoritário ou democrático. Todo o Código Penal de 1940 se encontrava, em tese, em vigor, desde o art. 1o até o art. 361. E o cerne do art. 11 estava ali, claro, límpido, cristalino.
Eis a chave do segredo: “ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido” (art. 11, caput, da velha Parte Geral; atual art. 13, caput – com o detalhe do § 2o). Não se cuidava tão somente da causalidade omissiva. A equivalência era matemática, ação e omissão estavam equiparadas no plano normativo. Plano normativo de quem? Do legislador, que ainda esclarecia, com humildade pedagógica: "Considera-se causa".
A causalidade é normativa, explica-se hoje nos compêndios. O que interessa, portanto, é verificar se o legislador tocou no assunto. E ele o fez, no Brasil, no que concerne à omissão, no art. 13, § 2o. Lê-se na Exposição de Motivos da nova Parte Geral: “No art. 13, § 2o, cuida o Projeto dos destinatários, em concreto, das normas preceptivas, subordinados à prévia existência de um dever de agir. Ao introduzir o conceito de omissão relevante, e ao extremar, no texto da lei, as hipóteses em que estará presente o dever de agir, estabelece-se a clara identificação dos sujeitos a que se destinam as normas preceptivas”(item 13).
Mas nem todos acatam, por exemplo, a figura do homicídio por omissão se esta não traz a marca, junto ao sujeito, de um específico dever jurídico de agir. Um dever jurídico relacionado exclusivamente com normas extra-penais, inconfundível portanto com a norma genérica de ação a que se refere o art. 135 do Código Penal em vigor (delito de omissão de socorro).
E a coerência? Quando se poderia imaginar que a lição estava aprendida, que ela iria valer para o delito seguinte, o de participação dolosa em suicídio (art. 122), surge uma novidade: impossível! O delito em pauta, verifica-se pelo seu texto, não combina com qualquer espécie de conduta omissiva.
Assim, todo o inflamado discurso ao mesmo tempo explicativo e justificativo do sistema (art. 13, § 2o) cede espaço a uma nova distinção acadêmica, em benefício dos possíveis acusados. O máximo que se aceita é que os pais em relação aos filhos adolescentes e os carcereiros em face dos presos, dentre outras hipóteses, cometam o suave delito de omissão de socorro, cujo dispositivo (art. 135) acabou se transformando no maior escoadouro de sobras e rebotalhos hermenêuticos do final do século 20 e início do século 21. O mais modesto e despretensioso delito do Capítulo III dos Crimes contra a Pessoa – no Projeto Sá Pereira (art. 418) constava inclusive como contravenção – constitui agora o “coringa” do sistema, ou pelo menos o mais dócil de todos. Nas mãos dos intérpretes ganha formas inimagináveis, para espanto daqueles que, mui ingenuamente, desavisados desses detritos, o tinham como um crime de perigo, nada mais do que de perigo.
Não custa perguntar: se existe o prévio – e específico – dever jurídico de socorrer o filho de 14 anos de idade que tenta o suicídio; se nada se faz porque se quer, dolosamente, o evento morte (por piedade ou por motivos menos nobres), não se está cometendo o crime de homicídio por omissão? Não, evidentemente, diriam os doutos (nem todos), porquanto a hipótese, em tese, é de participação em suicídio. Mas logo acrescentam que também não se pode enquadrá-la no artigo 122 porque este exige uma conduta positiva, militante. E sentenciam, com impressionante serenidade dogmática: que se procure o refúgio do art. 135, em sua forma qualificada.
É verdade que os livros se referem comumente ao caráter preterdoloso da morte preconizada no citado art. 135, parágrafo único (dolo de perigo e culpa quanto à morte). Ora, para que servem os regimes de engorda? Basta decretar, na novel “interpretação”, que somente agora se percebeu o que estava “oculto” no texto, finalmente revigorado!
Além disso, não consta que matar (arts. 121 e 123) e provocar aborto (arts. 125 e 126) admitam, em sua intrínseca natureza, uma causalidade física tipicamente omissiva. Na lição de João Alfredo Medeiros Vieira, “a verdade ontológica exprime o ser das coisas, enquanto ele responde exatamente ao nome que se lhe dá, enquanto é conforme à idéia de que precede. As coisas, de fato, são verdadeiras enquanto são conformes às idéias segundo as quais foram feitas. É tarefa da nossa inteligência conhecer esta verdade, ou seja, conhecer as coisas tais quais são” (Filosofia: a verdade como busca da natureza humana, 1992, p. 41/42).
Ontologicamente falando, não se mata alguém nem se provoca aborto em outrem a não ser por uma conduta militante, por um proceder ativo, por um fazer alguma coisa (ação). Ainda assim, nem sempre quem nega a participação em suicídio por omissão mantém a coerência discursiva quando examina aquelas outras figuras delituosas (homicídio e aborto). Desta feita, acata-se amplamente a forma omissiva. E como? Voltando-se à evidência do caráter histórico-normativo de uma causalidade meramente legal, discricionária. Causalidade que se descarta, no entanto, em relação ao art. 122!
Quem quiser que entenda: a “Babel hermenêutica”não decorre necessariamente da linguagem natural de nossos textos normativos. Ela tem suas raízes na impetuosidade do próprio penalista, cuja vontade vale mais do que a vontade da lei, mormente quando esta, nas circunstâncias, já se encontra cercada, sitiada, e não tem condições de resistir. Rei morto, rei posto. Parodiando e adaptando von Kirchmann, em nome da clareza: três palavras retificadoras do intérprete mandam para o lixo trezentos artigos de lei.
4. Infanticídio
A confusão exegética recebe nota máxima no exame do dispositivo seguinte, o art. 123, referente ao infanticídio, in verbis: "Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: Pena - detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos".
4.1. Divergências de praxe.
O que fazer com a mãe que, agindo sob a influência do estado puerperal, mata culposamente o filho que acabou de nascer? No campo jurídico-penal, nada. Só existe infanticídio na forma dolosa (CP, art. 18, parágrafo único). Logo, não cabe resposta punitiva. (Damásio de Jesus, ob. cit., 1991, p. 95; Frederico Marques, ob. cit., p. 144; Paulo José da Costa Júnior, Curso de direito penal, 1991, p. 19).
O crime é de homicídio culposo, contesta Fabbrini Mirabete: “A influência do estado puerperal não equivale à incapacidade psíquica e a puérpera responde pelo ato culposo, qualquer que seja ele” (ob. cit., p. 92). Fernando de Almeida Pedroso também fala em “homicídio culposo, ex vi da subsidiariedade deste em relação ao infanticídio” (Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, 1995, p. 252).
Esta última observação não resolve o problema. Damásio de Jesus, Frederico Marques e Paulo da Costa Júnior, sem embargo do que afirmaram, também conheciam o princípio da subsidiariedade.
Qual, então, a explicação cabível? É de ordem crítico-metodológica: os princípios hermenêuticos sobre conflito de normas (subsidiariedade, especialidade, consunção, progressão criminosa etc.) carecem de autonomia e objetividade. Ainda que reflitam o esforço dos especialistas em sua tentativa de sistematização da matéria, não passam de simples instrumentos de justificação racional, nos casos concretos ou hipotéticos.
Nem sempre o concurso de normas é aparente. Não raro, o conflito é real, efetivo. O art. 18, parágrafo único, do Código Penal em vigor, que resolve a contento uma série infindável de questões, desta vez não funciona. Em combinação com o art. 121, § 3o, permite que se fale em homicídio culposo (abstraído o art. 123); em combinação com o art. 123 aponta no sentido de ausência de crime (abstraído o art. 121, § 3o ).
O próprio sistema, em sua origem, por defeito de fábrica, se encontra em pane, paralisado. É fácil concluir que, nesses casos, apesar das aparências em contrário, vontade e liberdade do intérprete ilustram com melhor desenvoltura o direito que lhe cabe efetivamente construir.
Outras vezes, notadamente quando o texto é um só, quando já foi isolado e contextualizado por todos os penalistas para ser melhor entendido, inexistindo qualquer outro dispositivo a disputar-lhe a primazia, a saída pode ser encontrada fora do sistema. Perquire-se, por exemplo, da justiça da norma, de sua oportunidade prática, de sua pertinência com uma efetiva e boa “política criminal”. Veladamente, pela busca de seu “espírito”, ou escancaradamente, pela explicitação dos princípios que a derrubam (analogia, “bis in idem”, direito natural, lógica do razoável etc.) constrói-se um direito à la carte, em função dos gostos e preferências do momento. Quer dizer, a favor ou contra o réu, a lei é sempre uma hipótese, um eventual bilhete de loteria, uma sugestão dentre outras sugestões, porque nem sempre se faz acompanhar, por seu conteúdo, de autêntico potencial de efetividade.
É fato que, não raro, a lei se apresenta sem charme, sem beleza, descuidada em suas pretensões (vagueza e ambigüidade). Mas é fato igualmente que em outras oportunidades há bastante clareza e objetividade no conteúdo de sua mensagem. Triste ilusão imaginar que, só por isso, a lei se transforme em realidade normativa. Inexiste direito sem a cumplicidade do intérprete, disposto a carregá-la nas costas.
É justo, por exemplo, que uma simples mudança dos ponteiros do relógio determine uma brusca alteração de critérios normativos? Sim, é justo – eis a possível resposta de Nélson Hungria – a mãe que mata o filho “alguns dias após o parto”, mesmo agindo sob a influência do estado puerperal, conta com “a válvula do art. 22 (e seu parág. único)”. E continua: sem razão, assim, a crítica de Madureira do Pinho, pois “o mais elementar critério de boa política criminal aconselha a restrição do conceito do infanticídio, no tocante ao limite de tempo”(ob. cit., p. 257).
O arrependimento do saudoso penalista, em termos de opção dogmática (lei? eqüidade?) não tardou a se revelar. Na página 264, usando de uma linguagem considerada hoje politicamente incorreta, esclarece que à expressão “logo após o parto” não pode ser dada “uma interpretação judaica, mas suficientemente ampla, de modo a abranger o variável período do choque puerperal”.
Como que esquecido do “mais elementar critério de política criminal”, Nélson Hungria pura e simplesmente cortou do art. 123 a expressão “logo após”. Existiria infanticídio enquanto existisse o “variável período do choque puerperal”. E ganhou muitos adeptos, na doutrina e na jurisprudência.
Solução mais justa? Aparentemente, sim. Jurídica? Sem dúvida, quando concretizada historicamente por decisão de intérprete autorizado. Legal? Sim e não. À luz do Código, ilegal (art. 123); legal, no entanto, à luz de outras leis, que acenam para outros dogmas (por exemplo, “consciência e ditames da justiça” – art. 464 do Código de Processo Penal).
Em verdade, no entanto, se o “espírito” da lei combina com o texto, se é visível a preocupação do legislador de assumir por si mesmo os limites de sua previsão normativa (“durante o parto ou logo após”), não cabem extrapolações interpretativas, é inconcebível que se fale em infanticídio antes do parto ou muito tempo depois do parto. A interpretação da lei, de um lado, não dispensa a subjetividade do intérprete; reclama de outro lado a própria lei, como objeto. Em outras palavras, o direito penal em torno do infanticídio continua a existir como tal, como direito, mas não como conseqüência lógica de uma correta exegese da lei. Ao reverso, exatamente porque se interpretou a lei, e nela se notaram deficiências, é que outros dogmas foram invocados. Se esses dogmas compõem ou devem compor o caleidoscópio do direito eis uma questão que de perto interessa tanto à ciência como à filosofia.
A lei penal é fonte do direito? Depende. O intérprete é fonte do direito? Depende. A sociedade, o povo, de onde emanam os poderes constitucionais, é fonte do direito? Depende. Enquanto não se perceber o direito em sua dimensão histórica, em sua visceral mobilidade assistemática, e se preferir, ao contrário, a continuidade de uma ilusão, o apego a fórmulas ultrapassadas, facilmente desnudáveis por uma criança (“O rei está nu!”) , sempre se dará crédito à maior ou menor sabedoria jurídica de povos e nações com elas identificados.
Não, primeiro a consciência da realidade possível. Por detrás da complexidade do direito se nota igualmente bastante simplicidade. Veja-se Heleno Fragoso. Destoando da maioria, no que tange ao infanticídio, teve olhos de criança para perceber que “a ação deve ser praticada durante ou logo após o parto. Esta expressão significa logo em seguida, imediatamente após, prontamente, sem intervalo” (ob. cit., p. 76).
Agora os olhos de adulto: “É esta, nos dias que correm, uma figura de delito que dificilmente encontra justificação, sendo notável a discrepância de critérios que as legislações adotam. O motivo de honra, que historicamente confere privilégio ao homicídio, evidentemente não mais se justifica em face da revolução de costumes de nosso tempo em matéria sexual e da emancipação da mulher. Por outro lado, a influência do estado puerperal só excepcionalmente poderia atenuar a reprovabilidade da ação praticada pela mãe” (p. 74).
Note-se a coincidência. Porque Heleno Fragoso não simpatiza com a norma, injusta para com a indefesa criança, não aumenta o campo de sua incidência. Aceita-a nos seus precisos limites. E quando ele examina a questão do concurso de agentes, aparentemente resolvida pelo próprio Código Penal (hoje, arts. 29 e 30), não se deixa contudo impressionar, há outros dogmas em seu repertório argumentativo.
O infanticídio, figura jurídica desatualizada, amplamente benéfica para a infanticida, não poderia estender-se ao partícipe, já que “o privilégio se funda numa diminuição da imputabilidade” (ob. cit., 1983, p. 78). Desaparece o apego à lei, antes anunciado, para que subsista a coerência ideológica do intérprete, que diz concordar com Nélson Hungria. Este, de seu turno, em face do antigo art.26 do CP, para justificar o homicídio do partícipe falava em “condições personalíssimas” da puérpera (como se essas condições não fossem, em conseqüência, nitidamente pessoais – zona de clareza do sistema). Curiosamente, reviu seu ponto de vista na última edição de seus Comentários (5a ed., 1979, p. 266), fato que teria também ocorrido – apenas por um momento – com o próprio Heleno Fragoso, em 1976 (Lições de direito penal, parte especial, v. 1, 3a ed., p.88).
A nova posição de Hungria foi comentada, em 2001, por Damásio E. de Jesus. Poucos notaram a mudança, afirma a certa altura, tanto que “até hoje, mais de 20 anos depois, ele continua erroneamente sendo citado por quase todos os autores, inclusive por nós, como partidário da tese da incomunicabilidade” (“Nélson Hungria e o concurso de pessoas no crime de infanticídio”, Boletim IBCCrim n.° 99, fev. 2001, p. 5; igualmente em Temas de direito penal, 2ª série., 2001, p. 129).
Voltando a Machado de Assis: “Mudaria o Natal ou mudei eu?” Como não sentir, mais uma vez, a mágica do exegeta no processo histórico de construção ou reconstrução do direito? A mesma lei, os mesmos artigos, e o direito mudando em função do intérprete. Um intérprete que, às vezes, ostenta o mesmo número na cédula de identidade, a mesma impressão digital.
Alguma novidade na matéria (concurso de agentes), haja vista uma nova Parte Geral? Não, nenhuma. Se Damásio e Mirabete aludem à prática de infanticídio, por força dos arts. 29 e 30, Mayrink da Costa ainda seleciona – e aplaude – “a melhor doutrina, sendo incontestável que um tipo privilegiado não pode ser adequado por sujeito que não apresenta requisito normativo personalíssimo. O extraneus que participa de infanticídio comete crime de homicídio” (ob. cit., p. 100).
Aí está: “requisito normativo personalíssimo”, regra de ouro de um direito natural que regula e calibra o direito positivo, de nível inferior, dos pobres mortais. Resta fazer algumas perguntas: a quem compete – e com que autoridade? – o acesso e divulgação dessas verdades eternas? Como explicar a rebeldia de Damásio de Jesus e Fabbrini Mirabete? Como entender a queda e abjuração de Nélson Hungria?
4.2. Realidade histórica
Retornemos à realidade histórica. Imagine-se um enorme painel eletrônico a reproduzir com fidelidade os dispositivos legais e constitucionais. Quem é que aciona os botões? O operador jurídico, eis a resposta condizente com uma terminologia da atualidade. Entretanto, não é difícil notar que a excelência das academias de direito ou do currículo dos profissionais habilitados não conduz a uma padronização de condutas. Há, no fundo, com absoluta prioridade, uma condição prévia que dinamita qualquer pretensão de uniformidade interpretativa: a condição humana dos profissionais do direito.
A natureza prega uma peça vinte e quatro horas por dia, no mundo inteiro, em todos os cultores e aprendizes da sabedoria jurídica. Só os que têm fé, muita fé, crêem que no Brasil é tudo uma questão de tempo, basta aguardar e assimilar o “avanço” das últimas lições dogmáticas. E como a fé remove montanhas, é preciso também acreditar que, nos crimes dolosos contra a vida, sujeitos em tese ao tribunal do júri, os membros do conselho de sentença haveriam de apreender, na ponta da língua, a situação topográfica do dolo e da culpa; a diferença ontológica entre erro de tipo e de proibição; o conteúdo ético das descriminantes (legítima defesa, estado de necessidade, etc.); e uma série de outras questões técnico-jurídicas ainda não resolvidas satisfatoriamente.
Não estou a desmerecer a enorme importância das fontes doutrinárias e normativas dos grandes centros de irradiação da cultura, da ciência e da filosofia, desde a Grécia pré-Socrática. Estou apenas lembrando que “a moderna dogmática penal, ora centrada em falsas premissas ontológicas, ora apegada ao ilusório positivismo da lei, já se esgotou há muito como instrumental teórico-metodológico de retransmissão acadêmica. Quer dizer, já prestou serviço, já cumpriu seu papel histórico, já mostrou circunstancialmente sua utilidade prática. Mas está morta, em substância, pouco importando que suas crenças, autofágicas e contraditórias, continuem a ilustrar as melhores obras de nossos melhores penalistas” (“Revisão crítica do direito penal”, Seqüência –Estudos Jurídicos e Políticos, nº 23, Florianópolis, 1991, p. 61).
Onde foi publicado o texto acima referido? Na Universidade Federal de Santa Catarina, que não necessita de um certo adjetivo – Universidade Federal “Livre” de Santa Catarina – para permitir efetivamente a livre manifestação do pensamento. A morte das mulheres, por “bruxaria”, teve a precedência histórica do culto continente europeu. E foi lá, na Europa civilizada, que teve origem a mais “científica” das teorias antropológicas: a superioridade da raça ariana.
O que se lê, por sinal, na mesma Revista Seqüência? De Aurélio Wander Bastos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que “este é o novo sentido da pesquisa jurídica: a gênese da verdade jurídica é a sistematização da realidade e, muitas vezes, ela independe da expectativa de verdade do próprio pesquisador” (“Pesquisa Jurídica no Brasil: Diagnóstico e Perspectivas”, Revista cit., p. 21).
Simplicidade, muita simplicidade. Tudo o mais virá por acréscimo. Direito é fato humano, é fato histórico-sociológico, é algo que se faz, que se constrói, a partir e no contexto de várias fontes e circunstâncias. Os discursos dogmáticos, por mais profundos e onipotentes, encobrem ou podem encobrir mera vontade ideológica, o exercício camuflado de um poder que se almeja de caráter objetivo, derivado da “natureza das coisas”.
Há, sim, “natureza das coisas”, mas ela se localiza em matrizes diversificadas: na objetividade de uma lei escrita, na personalidade do intérprete, no conteúdo das idéias e valores assimilados e difundidos pelo grupo social. Trata-se de uma visão esquemática. É preciso a consciência de sua dinamicidade, de sua interação dialética, a determinar um desfecho previamente comandado por quem, nas circunstâncias, dispõe de maior liberdade de ação (força) para impor a sua vontade (poder).
Força, poder, vontade e liberdade são as categorias básicas do direito. Mesmo assim, raramente aparecem nos compêndios e manuais de direito penal. No Brasil se dá preferência ao estudo da estrutura ontológica do crime (que revela, pelo contraste, a fase rudimentar ou pré-científica de um Aníbal Bruno, Basileu Garcia, Nélson Hungria e Magalhães Noronha, entre outros); ao exame do concurso aparente de normas, como se o conflito não existisse concretamente, por falha do sistema; à importação, com outros nomes, de “novidades” conhecidas e praticadas em Roma, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, desde que houvesse disposição para tanto (princípio da insignificância, princípio da adequação social, ficções interpretativas, natureza das coisas, razão universal, direito natural etc.); em suma, ao estudo da “essência” do crime e da pena, automaticamente reconhecida e autenticada como boa, firme e valiosa na medida e proporção das dificuldades intrínsecas de apreensão de seu misterioso conteúdo.
Resta saber como essa “essência” se manifesta nas várias espécies do crime de aborto.
5. Delito de aborto.
Se a confusão exegética recebe nota máxima no exame do infanticídio então convém deixar registrado o caráter hors-concours do delito de aborto. E é fácil, muito fácil de compreender.
5.1. Lei, intérprete, valorações sociais
Homicídio, participação em suicídio, infanticídio, comportam – é certo – divergências interpretativas em torno do seu significado e alcance, em termos de correta identificação de suas figuras básicas e formas qualificadas. Mas no século 21, em condições de normalidade institucional, as várias fontes do direito, em tese, pelo menos no Brasil, aceitam com relativa naturalidade a abertura de processo e julgamento de quem possivelmente mata outrem (ou concorre para sua morte) sem alguma razão plausível.
Não é o sistema jurídico que sustenta ou tutela a vida humana. É a vida humana, ao contrário, como pressuposto de um sistema jurídico, que o tutela e sustenta, dele recebendo como resposta, como aconteceu historicamente, o alargamento isonômico dos agentes ou destinatários da norma. Todos, sem exceção, têm direito à vida.
A vida do feto, no entanto, sobretudo nos primeiros meses de gestação, recebe tratamento diferenciado. Sua base de sustentação difere substancialmente da base de sustentação da vida de quem já nasceu. Trata-se de constatação empírica, revelada inclusive pela natureza e qualidade das penas reservadas atualmente para o delito de aborto.
Não basta, então, prever e disciplinar as várias espécies de aborto (auto-aborto; aborto consentido; aborto praticado por terceiro; formas qualificadas). Não basta, principalmente, limitar sua licitude (art. 128, referente à mulher estuprada ou com risco de vida), pois o tema, na área propriamente do direito, extrapola o poder formal do legislador. Aliás, segundo crítica recorrente, repetitiva, é o próprio sistema legal que concorre com sua intransigência ideológica para a morte ou graves seqüelas de gestantes que, desamparadas socialmente, e mal informadas, não vêem outro caminho que a busca e a prática de perigosos abortos clandestinos. Tentativas sem êxito provocam ou podem provocar, além disso, prejuízos irreversíveis às inocentes crianças que acabarem nascendo.
Lei, ética, direito, religião. Como conciliá-los? A questão é delicadíssima. Quem se arvora em dono da verdade? Nem mesmo Jesus Cristo ofereceu respostas conclusivas. Não veio ao mundo para resolver as querelas jurídicas e ainda fez questão de não misturar os assuntos de Deus e do Estado: “Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus”.
5.2. Dogmática jurídico-penal
Na dogmática jurídica, porém, registro mais uma vez a mágica do intérprete, que age não raro de parceria com o grupo social. Assim, que se deixe agora de falar em crime de aborto desde o momento da fecundação. Considerando a aceitação social de dispositivos intra-uterinos e de outras técnicas e substâncias de efeitos análogos, somente a partir da nidação é que se pode cogitar, em tese, de aborto (Heleno Fragoso, ob. cit., p.113). Ou, como se lê na jurisprudência: “Se os meios anticoncepcionais já são admitidos, não se compreende que o aborto também não o seja pelo menos nos primeiros dias da concepção, antes que o feto manifeste vida” (TJSP - Rec. - Rel. Gonçalves Sobrinho – RT 425/310, in Código Penal e sua Interpretação Judicial, cit., p. 1654/1655). Sinal verde para a “pílula do dia seguinte”.
Se necessário, um pouco de ficção jurídica: “Em sendo o agente pessoa ignorante e que não conte com melhor orientação sobre os fatos, de se admitir legítima defesa putativa da honra na conduta de quem, sendo recatada, em si mesma provoca aborto, compelida pelo pavor do descrédito que lhe poderia advir da gravidez, ante seus parentes”(TACRIM-SP, AC - Rel. Geraldo Gomes - JUTACRIM 2/373, ob. cit., p. 1652).
O Código Penal se refere à licitude do aborto vinculado ao estupro. Ora, vale o raciocínio analógico em caso de atentado violento ao pudor (Paulo José da Costa Júnior, Curso de direito penal, v. 2, 1991, p. 23). E se o diploma também “não previu, entre as excludentes, o aborto eugênico (ou eugenésico), que é o executado ante a suspeita de que o filho irá nascer com graves anomalias”, a solução é perceber que “tal conduta deveria ser entendida, porém, como ação socialmente adequada” (idem, ibidem). “Trata-se de causa de exclusão da culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa”, afirma Luiz Regis Prado (Curso de direito penal brasileiro, v. 2. 2000, p. 104). A propósito, tende a consolidar-se entre nós a jurisprudência que reconhece a licitude do aborto em caso de feto portador de anencefalia (ausência total ou parcial do encéfalo).
Sublinho os argumentos: primeiros dias de gestação (ausência de objeto material); analogia; adequação social; legítima defesa putativa da honra. Na prática, é claro, existem muitos outros. Quem os resolve não é a lei, mas o intérprete, o operador jurídico em sentido amplo, que conta com a cumplicidade do grupo social.
Veja-se novamente a mágica de Heleno Fragoso: “O produto da concepção, qualquer que seja o grau de seu desenvolvimento, é objeto material da ação, mas não é sujeito passivo do crime, pois tal categoria compreende apenas o titular do bem jurídico tutelado que é, no caso, o Estado ou a comunidade nacional” (ob. cit., 1983, p. 112). É a opinião também de Fabbrini Mirabete (ob. cit., p. 94).
Ora, apenas por extensão o Estado é considerado, em caráter secundário, sujeito passivo de qualquer crime, a menos que atingido diretamente pela conduta criminosa (administração ou patrimônio públicos, por exemplo). Por que, agora, adquire prioridade absoluta sobre o feto, que afinal perde sua vida mas é, nada obstante, relegado à simples condição de “objeto material da ação” ? O Código não fala em crimes contra a pessoa, no sentido de pessoa física?
Acontece que havia uma estratégia – para as conclusões – na página 114: “A pluralidade de fetos não implica em concurso de crimes. O feto não é sujeito passivo do crime”.
Data venia, o argumento é de uma fragilidade impressionante. Revela apenas o esforço de quem, favorável a uma certa liberação do aborto (p. 110), procura arrancar do sistema respostas que, de antemão, lhe são negadas. Mesmo sendo o único sujeito passivo do auto-aborto, ou do aborto consentido, nem por isso se pode concluir que o Estado perderia o interesse pela vida intra-uterina de gêmeos, assim como não perde o interesse pela posse e integridade das coisas (no plural) de seu patrimônio. A fria e calculada morte de um dos gêmeos, mormente na fase de gestação adiantada, constitui “meio-aborto”? O crime só se completa quando se elimina, em continuação, a vida de todos os fetos?
Eis, nada obstante, em detalhes, a explicação de outro ilustre penalista, Fernando Pedroso: “Pode ocorrer que a prenhez contenha pluralidade de nascituros (gêmeos, trigêmeos). Sendo único o estado gravídico que se interrompe, e constituindo o processo de gestação obliterado, na sua unidade, condição essencial à vida biológica do produto da concepção, curial é que pouco importa o seu número. Assim, havendo multiplicidade de foetus, o crime de aborto não perde sua singularidade e, portanto, não se há de acenar para o concurso de crimes, fragmentando-se ou fracionando-se o episódio em tantos delitos quantos forem os nascituros. Persiste único o crime, em detrimento de eventual proclamação do concurso formal de delitos” (ob. cit.,p. 260).
Ouso discordar. Persiste, isto sim, a dificuldade óbvia de apreender os motivos da discriminação. Não basta falar em unidade gravídica e, num esquema de arbitrária dicotomia (feto é apenas “objeto material da ação”; o Estado é o sujeito passivo), considerar resolvido o problema, atrelado à conseqüente prática de um só delito. O Código Penal, o que diz? Crimes contra a pessoa. Pessoa de quem? Do feto, e não da gravidez, simples estado fisiológico. É ele a vítima, é ele o sujeito passivo, em sua unidade ao mesmo tempo jurídica e biológica.
E mesmo que, ad absurdum, se negasse autonomia ao direito penal para o tratamento particularizado de suas próprias instituições, o fato é que o velho Código Civil não desprotegia o feto. Ao contrário, assegurava (como o faz o Código Civil de 2002, no art. 2º) que “a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro” (art. 4o). O Código Penal, destarte, com seu pretenso e modesto caráter secundário, viria justamente especificar um direito do nascituro: o de permanecer vivo, a contar da fecundação. A exigência de nidificação, embora aceitável, já tem o dedo do intérprete, que se posiciona em consonância com os novos tempos (legitimidade social).
Digamos que uma repartição pública disponha de um único automóvel, estacionado na garagem. Comete “meio-furto”, ou fato indiferente ao sistema, quem se limita a subtrair o motor? Se são dois os veículos, está liberado o furto de um deles somente porque foram adquiridos de uma só vez? Claro, dependendo da hipótese pode-se falar em crime único, crime continuado e concurso de crimes, mas é isto, o concurso, que se quer afastar, por motivos ideológicos, no caso de consciente e doloso aborto de gêmeos.
Curiosamente, Fernando Pedroso admite o concurso de crimes “se houver a denominada superfetação ou a superfecundação, hipóteses nas quais, por existirem, simultaneamente, mais de um processo de prenhez em curso e mais de um nascituro, o fato se decomporá e desmembrará em tantos crimes de aborto quantos tiverem sido os produtos da concepção destruídos” (ob. cit., p. 260/261).
Percebe-se, portanto, além da injustiça do tratamento absurdamente desigual, uma tentativa de redefinição do conceito de aborto. Contrariando uma cultura multissecular acerca do conteúdo do delito – com variáveis sobre o “objeto material” da conduta – ele parece entender que praticar aborto é destruir a gravidez e, não, o produto da concepção. Para gravidez única, mas com vários fetos, um só crime de aborto. Se a gravidez é múltipla (superfecundação ou superfetação), possibilidade de vários crimes em concurso.
Perigosa, como se viu, a posição de Pedroso: nos casos comuns, de gêmeos de uma só gravidez, estaria liberada a morte de qualquer um deles, inclusive até momentos antes do parto, desde que se garantisse a sobrevivência de pelo menos um feto e, pois, da correspondente gravidez materna, a permanecer como tal. Diga-se o mesmo do posicionamento de Fragoso e Mirabete, que merecem no entanto o reconhecimento de que não distinguem entre fetos de primeira e segunda categoria, o que é proibido pela Constituição. Todos os fetos, sem exceção, estão nivelados por eles; nivelados em sua condição de “coisa” suscetível apenas da ação material de terceiros, jamais alcançando a dignidade de vítimas, de sujeitos passivos. A vítima é o Estado, é a comunidade: eis a mágica de cunho ideológico.
Heleno Fragoso vai mais longe: à luz do Código, “quem mata mulher grávida não comete, em concurso com o homicídio, o crime de aborto”(ob. cit., p.114). Como assim? A morte do feto constitui a conseqüência natural da morte da mãe e, portanto, se encaixa no princípio da insignificância? Ou na regra hermenêutica da consunção? Ou ainda na teoria do fato anterior (ou posterior) impunível, conhecida de nossos penalistas?
Pior ainda: a liberação do aborto chegou ao ponto de dispensar o consentimento dagestante?
Desnecessária uma resposta conclusiva, para uma visão crítico-metodológica. O que vale, não raro, é a vontade do intérprete, não a vontade do sistema. Só que, desta feita, nos casos levados a julgamento, não se chega a esse limite extremo de conferir a um estranho o direito de vida e morte sobre uma criança ainda no ventre materno, exercido contra a vontade da mãe, do pai, dos amigos, da comunidade. Não, a jurisprudência reconhece os dois crimes, aborto e homicídio, praticados em concurso formal.
6. Denominador comum: a mágica do intérprete.
O título anunciava as conclusões: o intérprete, com sua mágica, interfere no direito penal. Mas diante do princípio constitucional do nullum crimen, nulla poena sine lege, de forte conteúdo político e ampla aceitação social, é claro que o faz com mais naturalidade e desenvoltura quando se posiciona no sentido de uma descriminalização ou despenalização.
É sinal de ingenuidade, no entanto, acreditar que a lei penal representa uma garantia do cidadão perante os poderes constituídos. Ao intérprete cabe, sempre, a construção histórica do direito, por ação ou por omissão, pouco importando os “argumentos” que utilize. E a lei às vezes representa uma armadilha. Por sua vagueza, por suas contradições, a lei pode ser o argumento. O argumento de uma decisão contra a lei. Decisão que ocorre ou pode ocorrer até mesmo na hipótese de clareza, muita clareza do texto – e de seu espírito.
Coisas do intérprete. Melhor dizendo, de sua magia.
Referências bibliográficas
ARANHA FILHO, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo. Direito penal: crimes contra a pessoa. São Paulo: Atlas, 2005.
BASTOS, Aurélio Wander.“Pesquisa jurídica no Brasil: diagnóstico e perspectivas”, Revista Seqüência - Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis: UFSC, (23): 11-24, dez. 1991.
BASTOS, João José Caldeira. Curso crítico de direito penal, 2ª ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008.
“Revisão crítica do direito penal”. Revista Seqüência - Estudos Jurídicos e Políticos. Florianópolis: UFSC, (23): 57-61, dez. 1991.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte especial, v. 2. São Paulo: Saraiva, 2001.
BRUNO, Aníbal. Direito Penal, v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1966.
CAPEZ, Fernando. Direito penal, v. 2. São Paulo: Saraiva, 2007.
COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito penal: parte especial, v. 2, Rio de Janeiro: Forense, 1986.
COSTA JR., Paulo José da. Comentários ao código penal, v. 2.São Paulo: Saraiva, 1988. Curso de direito penal, v. 2. São Paulo: Saraiva, 1991.
CUNHA, Rogério Sanches. Direito penal: dos crimes contra a pessoa. São Paulo: RT, 2006.
DELMANTO, Celso. Código penal comentado, 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1988.
FARIA, Bento de. Código penal brasileiro, v. 4. Rio de Janeiro: Record, 1961.
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial, 7a ed., v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 1983.
FRANCO, Alberto Silva e outros. Código penal e sua interpretação jurisprudencial, 5ª ed. São Paulo: RT, 1995.
HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal, v.5. Rio de Janeiro: Forense, 1958.
JESUS, Damásio Evangelista de. Código penal anotado, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
“Nélson Hungria e o concurso de pessoas no crime de infanticídio”, Boletim IBCCrim n.° 99. São Paulo: fev. 2001.
Temas de direito penal – 2ª série. São Paulo: Saraiva, 2001.
Direito penal, 13a ed., v. 2. São Paulo: Saraiva, 1991.
MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, v. 4. São Paulo: Saraiva, 1961.
MESTIERI, João. Curso de direito criminal: parte especial. São Paulo: Alba, 1970.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, 9a ed., v. 2. São Paulo:Atlas, 1995.
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal, v. 2, 21a ed., São Paulo: Saraiva, 1986.
OLIVEIRA, Olavo. O delito de matar. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1959.
PEDROSO, Fernando de Almeida. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Rio de Janeiro: Aide, 1995.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, v. 2. São Paulo: RT, 2000.
ROSA, Antônio José Miguel Feu. Direito penal: parte especial. São Paulo: RT, 1995.
SILVEIRA, Euclides Custódio da. Direito penal: crimes contra a pessoa, 2a ed. São Paulo: RT, 1973.
TELES, Ney Moura. Direito penal: parte especial, v. 2. São Paulo: Atlas, 2004.
TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. Rio de Janeiro: Forense, 1990.
VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Filosofia: a verdade como busca da natureza humana, 2a ed. São Paulo: Ledix, 1992.
Data de elaboração: maio/2008
João José Caldeira Bastos
Professor de Direito Penal da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Professor aposentado de Direito Penal da Universidade Federal de Santa Catarina.Código da publicação: 1924
Como citar o texto:
BASTOS, João José Caldeira..Crimes contra a vida: a mágica do intérprete. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 5, nº 263. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-penal/1924/crimes-contra-vida-magica-interprete. Acesso em 14 jul. 2008.
Importante:
As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.
Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento
Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação
Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.
PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.